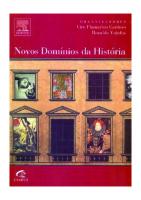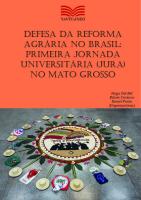História da Psicologia no Brasil - Novos Estudos 8528303004, 9788528303001
Esta coletânea visa apresentar o estado da obra de pesquisas realizadas até o momento no que diz respeito à História da
256 74 6MB
Portuguese Pages 251 Year 2004
I História e Psicologia: um encontro necessário e suas "armadilhas" 11
Deise Mancebo
II As idéias psicológicas na produção cultural da Companhia de Jesus no Brasil do século XVI e XVII 27
Marina Massimi
III As idéias psicológicas no Brasil nos séculos XVII e XVIII 49
Marina Massimi
IV Fragmentos psicossociais na histórica construção da identidade nacional 71
Elizabeth de Melo Bomfim
V A Faculdade de Medicina da Bahia e a preocupação com questões de ordem psicológica durante os oitocentos 89
Nádia Maria Dourado Rocha
VI A Psicologia no Brasil no século XX: desenvolvimento científico e profissional 109
Mitsuko Aparecida Makino Antunes
VII A constituição da identidade de alguns profissionais que atuaram como psicólogos antes de 1962 em São Paulo 153
Marisa T. D. S. Baptista
VIII Psicanálise, Psicologia e Ciência: origens, inter-relações e conflitos 205
Raul Albino Pacheco Filho
IX Psicanálise e Psicologia no Brasil e em São Paulo: registros históricos 231
Roberto Yutaka Sagawa
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Marina Massimi
- Maria do Carmo Guedes
File loading please wait...
Citation preview
Marina Massimi Maria do Carmo Guedes (organizadoras)
HISTORIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL NOVOS
ESTUDOS
Revisão André Luís Masiero
edue
© Í ditora
São Paulo 2004
Ficha c a ta lo g ráfic a elaborada pela Biblioteca Reitora N adir G ouvêa Kfouri / PUC -SP
História da Psicologia no Brasil: novos estudos / orgs. Marina Massimi, Maria do Carmo Guedes ; revisão André Luís Masiero. - São Paulo : EDUC; Cortez, 2 0 0 4 . 2 5 2 p. ; 2 3 cm ISBN 8 5 -2 8 3 -0 3 0 0 -4 (Educ) ISBN 8 5 -2 4 9 -1 0 8 8 -7 (Cortez) 1. Psicologia - Brasil - História. I. Massimi, Marina. II. Guedes, M aria do Carmo. III. Masiero, André Luís. CDD 1 5 0 .9 8 1
EDUC - Editora da PUC-SP Direção Maria Eliza Mazzilli Pereira Denize Rosana Rubano Produção Editorial Magali Oliveira Fernandes Preparação e Revisão Tereza Lourenço Pereira Editoração Eletrônica Artsoft Informática Capa Sara Rosa Realização: Waldir Antonio Alves
educ Rua Ministro Godói, 11 97 0 5 0 1 5 -0 0 1 - São Paulo - SP Tel./Fax: (11) 3 8 7 3 -3 3 5 9 E-mail: [email protected] Sita: www.puoap.br/aduc
Rua Bartira, 3 1 7 - Perdizes 0 5 0 0 9 -0 0 0 - São Paulo - SP Tel.: (11) 3864-0111 Fax: (11) 3 8 6 4 -4 2 9 0 E-mail: [email protected] Sita: w w w ,oortaiadltora,oom.br
APRESENTAÇÃO Marina M assim i
A presente coletânea visa apresentar o estado da obra de pesquisas realizadas até o momento no que diz respeito à História da Psicologia no Brasil. Não pretende ser um apanhado exaustivo, mas apenas um trabalho que pretende colocar algumas pinceladas no grande afresco que ao longo das últimas décadas está sendo realizado pelos historiadores da Psicologia, com o objetivo de re com por o percurso histórico que no contexto sociocultural brasi leiro levou à constituição das form as de conhecim ento psicológico e da ciência psicológica enquanto tal. Com efeito, recentemente assistimos a um aumento qualita tivo e quantitativo das investigações na área, contando com a contribuição, seja de pesquisadores mais experientes, seja de jo vens pesquisadores em formação, que estão elaborando teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de iniciação científica dedicadas a estudos históricos em Psicologia. Além do mais, a disciplina "História da Psicologia" comparece de uma fo r ma cada vez mais freqüente nos currículos dos cursos de gradua ção e pós-graduação em Psicologia, fato este que acarreta a ne cessidade de produzir material adequado para o uso didático na perspectiva histórica. A coletânea estrutura-se em partes: abre-se com uma contri buição sobre a historiografia geral da Psicologia, prosseguindo com textos que traçam o percurso histórico da Psicologia no Brasil, para finalizar-se com alguns trabalhos que aprofundam a consolidação, no país, de abordagens específicas, tais como a psicanálise. As contrlbuIçOe» l i o apresentadas em ordem cronológica (no que diz
respeito à colocação temporal do tema tratado em cada uma), res peitando assim o critério temporal, postulado essencial para traba lhos de natureza historiográfica. O primeiro capítulo, elaborado por Deise Mancebo, visa de monstrar, numa perspectiva focaultiana, que a Psicologia, assim como qualquer outro tipo de sujeito cultural, constitui-se no interior da História, e como tal é por esta continuamente fundada e refundada. Após reconstituir as origens da ciência psicológica no con texto do processo mais amplo de consolidação da ciência moderna, Mancebo descreve as crises do paradigma científico da modernida de e as repercussões no que diz respeito à Psicologia. Propõe cami nhos para a constituição de uma relação adequada entre Psicologia e História, bem como alerta acerca das armadilhas inerentes a esta colaboração, o que acreditamos ser de grande utilidade para todos psicólogos e historiadores - que desejam em preender a pes quisa em História da Psicologia com rigor e seriedade, superando amadorismos, intenções apologéticas, interpretações superficiais e ideológicas, que não contribuem ao avanço efetivo desta área de estudos. O segundo e o terceiro capítulos - ambos de autoria de Marina Massimi - são dedicados à história das idéias psicológicas na cultu ra luso-brasileira do século XVI aos inícios do século XIX: aborda-se a produção de idéias psicológicas no âmbito do saber dos jesuítas, ordem religiosa que teve uma grande importância no contexto do Brasil Colônia, e a elaboração de conhecimentos psicológicos pela inteligência brasileira do século XVIII e XIX. O objetivo é mostrar, através deste percurso histórico, o fato de que muitos dos concei tos utilizados pela Psicologia moderna possuem raízes no passado e que, portanto, o estudo da História da Psicologia contribui ao enrai zamento do psicólogo brasileiro em sua cultura e sociedade. O quarto capítulo, elaborado por Elisabeth Bomfim, descreve o processo de construção do sentimento de identidade nacional, percorrendo as etapas mais marcantes da História do Brasil, desde o Descobrimento até os tempos atuais. Apresenta um apanhado sintético das contribuições mais importantes acerca deste tema. No quinto capítulo, Nadia Maria Dourado Rocha relata suas pesquisas acerca da Faculdade de Medicina da Bahia e de sua con tribuição à produção dos conhecimentos psicológicos no país. São enfocados vários tipos de documentos: em primeiro lugar, as teses de cunho psicológico de médicos baianos, apresentadas ao longo
do século XIX, cujo estudo é importante não tanto pela originalida de de métodos e conteúdos propostos, mas por perm itir uma ava
liação adequada da vinculação desses médicos ao contexto interna cional da Ciência da época, através da análise dos temas escolhidos e dos autores citados. Em segundo lugar, são apresentados textos elaborados por intelectuais baianos referentes ao conhecimento psi cológico, entre eles as Investigações de Psicologia (1854), do médico e filósofo Eduardo Ferreira França. O sexto capítulo, elaborado por M itsuko Aparecida Makino A ntunes, proporciona uma viagem panorâm ica e abrangente ao longo da História da Psicologia brasileira do século XIX até a atualidade, detendo-se em alguns pontos fundam entais de virada ocorridos no decorrer do tempo, a saber: a conquista da autono mia da Psicologia como área de conhecimento no Brasil, sua con solidação como ciência e profissão, sua profissionalização, sua expansão. Visa contribuir ao im portante exercício da Psicologia de repensar a si própria no momento hodierno, tão cheio de fermentos e questionam entos. O sétimo capítulo, de autoria de Marisa T. D. S. Baptista, aborda a constituição da identidade enquanto psicólogos por parte de alguns profissionais que desempenharam atividades no campo da Psicologia, em São Paulo, antes de 1962. Aponta para duas fases desse processo de constituição da identidade: a primeira, en tre os anos 20 e 40; a segunda, entre as décadas de 1950 e 1962. O oitavo capítulo, elaborado por Raul Albino Pacheco Filho, e o nono, de autoria de Roberto Yutaka Sagawa, reconstroem o per curso de introdução e consolidação da psicanálise no Brasil. O pri meiro realiza uma análise de natureza histórica e epistemológica acerca das relações entre psicanálise, Psicologia e Ciência, enfati zando a necessidade e a importância de discussões epistemológicas e metodológicas na construção do conhecim ento científico. O segundo discute a introdução da psicanálise no contexto brasilei ro, e especialmente em São Paulo, seja enquanto concepção teóri ca, seja enquanto prática clínica. Essas contribuições, todas elas realizadas por membros do Grupo de Trabalho em História da Psicologia da Anpepp - Associa ção Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, visam proporcionar aos leitores um conhecimento histórico útil à reflexão sobre a Psicologia, seu significado e sua função no contexto brasi leiro. Ao mesmo tempo, quer estimular o interesse pela continuida
8
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
de das investigações na área, lançando um desafio, neste sentido, aos estudantes em formação e aos jovens pesquisadores. Há muita coisa ainda a se fazer, pois, no caminho da indagação histórica, cada meta alcançada constitui-se num novo ponto de partida.
Marina Massimi Professora Associada do Departamento de Psicologia e Educação da FFCLRP-USP - Campus de RibelrSo Preto. E-mail: [email protected]
SU M ÁRIO
I
História e Psicologia: um encontro necessário e suas "a rm a d ilh a s".....................................................................11 Deise Mancebo
II
As idéias psicológicas na produção cultural da Companhia de Jesus no Brasil do século XVI e X V II.............. 27 Marina M assim i
III
As idéias psicológicas no Brasil nos séculos XVII e XVIII ...4 9 Marina M assim i
IV
Fragmentos psicossociais na histórica construção da identidade nacional................................................................... 71 Elizabeth de Melo Bomfim
V
A Faculdade de Medicina da Bahia e a preocupação com questões de ordem psicológica durante oso ito c e n to s ........... 89 Nádia Maria Dourado Rocha
VI
A Psicologia no Brasil no século XX: desenvolvimento científico e p ro fissio n a l.............................109 M itsuko Aparecida Makino Antunes
VII A constituição da identidade de alguns profissionais que atuaram como psicólogos antes de 1962 em São Paulo .... 153 Marisa T, D. S, Baptiste
10
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
VIII Psicanálise, Psicologia e Ciência: origens, inter-relações e conflitos ..........................................205 Raul Albino Pacheco Filho IX
Psicanálise e Psicologia no Brasil e em São Paulo: registros históricos ................................................................... 231 Roberto Yutaka Sagawa
HISTÓRIA E PSICOLOGIA: UM ENCONTRO NECESSÁRIO E SUAS "A R M A D ILH A S " Deise Mancebo
Seria interessante tentar ver como se dá, através da história, a constituição de um sujeito que não é dado definitivamente, que não é aquiio a partir do que a verdade se dá na história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo da história e que é a cada instante fundado e refundado pela história. É na direção desta crítica radical do sujeito humano pela história que devemos nos dirigir. (Foucault, 1991, p. 7)
Constituição histórica dos saberes "psi" 0 modelo de racionalidade que preside a ciência moderna constituiu-se a partir do século XVI, no campo das ciências naturais, tendo por expoentes Bacon e Descartes. Descartes, especialmente, teve a preocupação de estabelecer parâmetros que possibilitassem uma forma de conhecimento considerado verdadeiro. Dentre outros aspectos, o conhecimento científico comporta, desde então, algumas distinções que o qualificam enquanto tal. Em primeiro lugar, o^conheçimento cotidiano, fruto do senso comum, é alijado do campo do conhecimento científico, ou seja, a ciência moderna descarta sistematicamente as evidências da experiência Imediata, entendendo-as como informações pouco precisas, inse guras e enganadoras.
12
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Outra importante clivagem operada pela ciência moderna se refere à distinção entre natureza e ser humano. A natureza é consi derada passiva e reversível, como uma engrenagem cujos elemen tos se pode desmontar e depois associar sob a forma de leis; não deve possuir nenhuma distinção especial que o homem não consiga analisar. Apresenta, assim, como pressuposto metateórico, a idéia de ordem, estabilidade do mundo, do passado que se repete no futuro, sendo, portanto, passível de ser dominada pelo homem em sua plenitude (Santos, 1997). Com base nesses pressupostos, dentre outros, o conhecimento científico procurou avançar, na modernidade, através de análises rigorosas do ponto de vista técnico e metodológico, o que signifi c o u alimentar a pretensão de um descomprometimento do conheci mento em relação aos valores do pesquisador. As idéias mais claras e simples, os objetos reduzidos em sua complexidade, a possibili dade de quantificação dos fenômenos transform am -se em prérequisitos para um conhecimento rigoroso e sistem ático da nature za, condição para que um saber almeje o status de científico. Desse modo, dentre outros desenvolvimentos característicos, a precisão torna-se um atributo imprescindível para a ciência mo derna, acompanhada necessariamente pela progressiva parcelização do objeto e, em decorrência, por especializações do conheci m e n to , produzido cada vez em maior número. Por essa via, a natu reza é desmembrada em múltiplos campos para efeitos de investi gação, mesmo que à custa do caráter distorcivo do conhecimento gerado sob esta máxima. Com algumas iniciativas no século XVIII e principalmente a partir do século XIX, esse modelo de racionalidade se estende pro gressivamente às ciências sociais e humanas emergentes. Uma das principais questões tematizada nos séculos XVIII e XIX, por teóri cos de diversas procedências, é a das relações entre o "individual" e o "coletivo". A proliferação desses estudos é justificada pela preeminência concreta da própria dicotomia enquanto tal, fazendo jus à necessidade de novas teorizações que dessem conta dos interes ses individuais (Hirschman, 1979), da vida em sociedade recéminaugurada, bem como ao duplo processo de individualização/integração em que se sustentava a formação dos estados modernos. Nesse universo de busca de explicações e soluções para as tensões surgidas com a nova clivagem instituída - indivíduo e so ciedade - , emergem, por um lado, as primeiras ciências sociais,
HISTÓRIA E PSICOLOGIA: UM ENCONTRO NECESSÁRIO E SUAS "ARMADILHAS"
13
com teorizações sobre o econômico, o político, o Estado, o social, e, por outro, as primeiras ciências psicológicas (ou morais, como muitas vezes estão designadas), encarregadas dos indivíduos, de suas paixões, pulsões e interesses (Mancebo, 1999a). De lá aos dias de hoje, esta dualidade no campo dos saberes não se alterou fundamentalmente, malgrado os esforços de cons truções inter/m ultidisciplinares1. No caso das psicologias, desenvolveram-se objetos de reflexão, classificação e intervenção sobre aspectos os mais variados da chamada interioridade. A realidade íntima e seu funcionam ento conquistaram densidade teórica e al cançaram modelos complexos de intervenção, de modo que a pró pria autonomização e o reconhecimento dos saberes "psi" como ciências - conceituando "legitim idades" e "validades", definindo autores e autoridades científicas, ou melhor, estabelecendo as mar gens no interior das quais devem ocorrer a produção e a divulgação científicas - contribuíram para a consolidação das fronteiras entre as diversas disciplinas (Mancebo, 1999a). O grau de imbricação entre o processo histórico que segmen tou indivíduo e sociedade, bem como a necessidade também his tórica (no seu sentido mais forte) do desenvolvim ento das psicolo gias - considerando-se, aqui, também a psiquiatria e a psicanálise - , é de tal ordem que, de modo bastante recorrente, só se reconhe cem como modernas, racionais, civilizadas e até disciplinadas as sociedades que apresentam um certo grau de psicologização. Foucault (1979) é uma referência central nessa discussão, pois analisa precisamente os dispositivos de poder que se desenvol vem a partir do século XVIII, articulando-os à constituição dos sa beres humanos e sociais. Apresenta duas formas não excludentes, mas intercomplementares, de poderes que se organizam sobre a vida. A primeira tem como eixo o corpo/máquina, cujos dispositivos dlsciplinares permitem a elaboração e a sistematização dos saberes constitutivos de uma anatomopolítica do corpo humano. O investi mento na utilidade/docilidade do corpo humano tornado máquina direciona sua integração em sistemas sociais e econômicos. A se
' Sflo multas as polêmicas acerca do sentido a atribuir aos termos multidisciplintr, plurldlsclptlnar, Interdisclpllnar e transdisciplinar, e uma análise detalhada destaa, no momanto, axcadarla oa limites do texto. A opção pela expressão multiV lnt*rdl»olplln§r dacorra da Anfaaa oolooada am uma daaa]6val "indisciplina", em faoa do paradigma aapaelflolata até antlo hagamflnloo.
14
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
gunda form a tem como eixo o corpo/espécie. Uma biopolítica da população se elabora com o conhecimento da mecânica do organis mo vivo no que diz respeito à natalidade, à mortalidade, à saúde, à longevidade, ou seja, dos processos biológicos que possibilitam in tervenções e controles reguladores sobre as populações. Em torno desses dois eixos, anatomopolítico e biopolítico, organiza-se o po der sobre a vida nas sociedades modernas, conforme diz Foucault, e se elaboram saberes que, sistematizados, irão constituir as Ciên cias Humanas e as Ciências Sociais. Nesta linha de raciocínio, o próprio "indivíduo" é apresentado como uma produção histórica, diante da qual, a partir do fim do século XVIII, todas as ciências se curvaram. Foucault identifica, no mundo contemporâneo, a transformação do espaço público em lu gar de seqüestro e de esquadrinhamento do indivíduo. Esse esquadrinhamento é possibilitado não apenas pelas tecnologias de poder, a exemplo das que se manifestam na arquitetura das cidades, na localização das praças e dos locais de diversão, ou na organização interna de fábricas, escolas, prisões, etc. Os saberes médicos, jurí dicos, sociológicos, antropológicos, policiais e psicológicos, que cresceram visivelmente desde o século XIX na ânsia de organizar as multidões e canalizar "positivam ente" os problemas oriundos da industrialização e da urbanização em larga escala, também se cons tituíram em dispositivos centrais de codificação e normatização das condutas humanas. O desenvolvimento desses saberes, dentre eles o psicológico, são-nos apresentados, por Foucault, como processos de controle social, form as de sujeição/subjetivação mobilizadas pela sociedade urbano-industrial, que classificam os indivíduos em conceitos identitários e os alocam em campos partilhados entre o normal e o patológico. Para esse autor, então, o indivíduo foi construído na e pela complexa intrincação das relações de poder e saber, nasceu com elas e com elas se constituiu. Do mesmo modo, a emergência e o desenvolvimento das Ciências Humanas, na qualidade de saber próprio do homem, incluindo todas as ciências, análises ou práticas com o radical "psico", tomaram corpo nessa reviravolta histórica dos processos de individualização (Mancebo, 1999b). Pode-se dizer, sinteticamente, que a partir do século XVIII, e com maior nitidez no século XIX, engendrou-se um solo epistemológico pleno de especializações, em que teorias, ciências, idéias e conhecimentos puderam florescer para dar conta da compreensão
HISTÓRIA E PSICOLOGIA: UM ENCONTRO NECESSÁRIO E SUAS "ARMADILHAS
15
do universo de experiências da interioridade humana, em especial das suas tensões. Desse modo, o espaço psicológico, tal como o conhecemos na modernidade, nasceu e vive precisamente da arti culação conflitiva das formas de pensar e praticar a vida individual em sociedade.
Crise do paradigma científico moderno e repercussões para a Psicologia Como resultado interativo de uma pluralidade de condições, o paradigma dominante de ciência entrou em crise no século que fin dou. Passa-se ao reconhecimento de que o conhecimento científico moderno "é um conhecimento desencantado e triste, que transfor ma a natureza num autômato (...) ou num interlocutor terrivelm ente estúpido". Dentre outros aspectos, o rigor científico não raramentè desqualifica os objetos - "ao objetivar os fenômenos, os objectua- \ liza e os degrada, (...) ao caracterizar os fenômenos, os caricaturi- ' za" (Santos, 1997, p. 32) - e, ao reduzi-lo em pequenos objetos, perde em relevância social, em generalização e em potencial expli-^ cativo. Em decorrência das críticas que o conhecimento moderno passa a enfrentar no século XX, alguns pressupostos de um novo paradig ma, ainda emergente, vêm sendo postulados, com implicações pro fundas para todos os campos investigativos, inclusive a Psicologia. Primeiramente, o conhecimento do paradigma emergente pro cura superar alguns dualismos bastante familiares à disciplina psi cológica, como natureza/cultura, natureza/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, observador/observado, subjetivo/objetivo, coletivo/ individual, animal/pessoa (idem, ibidem). Depois, afirma-se a não-neutralidade na produção dos co nhecimentos, e o investigador passa a ser considerado como par te constitutiva do fenômeno analisado. Conforme Santos, a ciên cia moderna, sob cujos parâmetros a Psicologia se desenvolveu, "consagrou o homem enquanto sujeito epistêmico, mas expulsou-o (...) enquanto sujeito em pírico" (ibidem, p. 50). Um conhecim ento objetivo, factual e rigoroso não tolerava a interferência dos valo rei humanos e as implicações do investigador. Ao contrário, sob a percepção emergente, os pressupostos metafísicos, os sistemas
16
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
de crenças, os juízos de valor não estão antes, nem depois, da explicação científica da natureza ou da sociedade. São parte inte grante dessa mesma explicação. [ÍK realidade é uma construção ?) coletiva cotidiana, na qual indivíduos e sociedade se transform am m utuam ente no curso de sua inevitável interação) Passa-se a as sumir, desse modo, a impossibilidade da objetividade, tão cara a m uitos no campo da investigação psicossocial: a presença do in vestigador, a seleção do seu tema de trabalho, a escolha dos su jeitos (amostra), a determinação das condições da pesquisa e das técnicas adotadas de coleta de dados (entrevistas, observações, form ulários, história de vida, pesquisa documental e bibliográfica, dentre outras), a análise dos dados (análises quantitativas e quali tativas - a "análise do conteúdo", a "análise do discurso" - , den tre outras), enfim , as partes constitutivas da construção investigativa constituem -se em escolhas, nas quais o pesquisador tem ativa participação. Há que se considerar, ainda, as implicações metodológicas geradas na crise da ciência moderna, que se encaminham no senti do de uma fértil aproximação da Psicologia com as Ciências Natu rais, Sociais e demais humanidades. Conforme já apresentado, na investigação moderna o conhe cim ento avança pela especialização, e as inúmeras subdivisões da Psicologia comprovam esta afirmação. O conhecimento "é conside rado tanto mais rigoroso quanto mais restrito é o objeto sobre o qual incide, (...) o seu rigor aumenta na proporção direta da arbitra riedade com que espartilha o real" (idem, ibidem, p. 46), mesmo que à custa de evidentes efeitos negativos quanto ao seu potencial de generalização e sua relevância social. A consciência das lim ita ções deste modelo encaminha, então, alguns programas investigativos para a busca de articulações multi e interdisciplinares já localizáveis em uma significativa e volumosa produção acadêmica de livros e revistas "especializadas". Psicologia, Sociologia, Antropo logia, Economia, História, Pedagogia, Lingüística e outras discipli nas têm suas margens permeabilizadas diante do objetivo de am pliar o conhecimento do indivíduo, do grupo, da sociedade e da produção de sua existência material e concreta (Camino, 1996). Por fim , assume-se o caráter histórico das investigações, de seus resultados e métodos utilizados, o que significa afirmar que_ss sociedades humanas e os homens que as habitam existem num determinado espaço, cuja formação social e configuração são espe-
HISTÓRIA E PSICOLOGIA: UM ENCONTRO NECESSÁRIO E SUAS "ARMADILHAS"
17
cíficas, que o dinamismo e a especificidade são características fun damentais de qualquer questão social e que teorias e métodos psicossociajs construídos para tratar dos homens e das sociedades são historicamente datados. Sob esta nova perspectiva na produ ção do conhecim ento, abdica-se progressivamente do projeto até então hegemônico de purificação metodológica; o acolhimento dps "híbridos" (Latour, 1994) torna-se uma realidade em algumas pes quisas, tra n s fo rm a n d o a Psicologia numa d iscip lin a m estiça (Serres, 1993), combinada com outros campos do saber, que lhe possibilita, enfim , avanços teórico-epistemológicos e, especialmen te, ético-políticos. Em síntese, da aproximação da Psicologia com outros saberes, do exercício crítico às especializações e às purificações teóricometodológicas positivo-funcionais, decorrem referenciais de análi se que afirmam o caráter histórico dos fenôm enos psicossociais. ÍOs conhecimentos psicológicos construídos estão embebidos no contexto temporal, cultural, espacial em que são criados, e se con- j sidera que as formações da subjetividade não podem ser compreen- / didas como desligadas da formação social na qual se constituem)} Desse modo, "tanto os fenômenos 'norm ais' quanto os 'patológi cos', bem como a determinação das fronteiras entre uns e outros, dizem respeito a uma dada formação social e só podem ser compre endidos em relação a ela" (Gentil, 1996, p. 83). Em conseqüência, os conhecimentos alcançados são transitórios e destinados a serem superados, modificados e esquecidos, na medida em que deixem de responder às condições sócio-históricas que os favoreceram, exigiram e os fizeram florescer.
História e Psicologia: uma hibridação necessária São muitas as alternativas para uma Psicologia híbrida. Sem a possibilidade de uma extensão maior no escopo deste texto, é pre ciso pelo menos citar duas dessas propostas: as investigações que aproximam a Psicologia da Antropologia e as que a aproximam da História. Com a Escola dos Anais, criada na década de 1920 e assim nomeada por causa da revista que, desde 1929, reuniu as contri buições de seus principais representantes (Annales d'Histoire
18
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Économique et Sociale), Psicologia e História passam a habitar or ganicam ente tem áticas comuns. O esforço m ultidisciplinar que marcou essa nova tendência historiográfica - associada inicialmen te aos nomes de Lucien Febvre e Marc Bloch - encaminhava-se para a definição dos delineamentos pelos quais as épocas se distin guem, relevando de forma inovadora as fronteiras éticas, estéticas e também psíquicas. Tudo o que poderia dar sentido à mentalidade de uma época - História da Psicologia coletiva, da comunidade de valores e hábitos, dos gestos, dos sentimentos - transforma-se em objeto de investigação e análise. Nesta perspectiva, as temáticas analisadas ganham espessu ra temporal. Apresentam-se como tecidos complexos, com ritmos próprios, uns mais lentos, ainda resistindo às heranças e à memória do passado, enquanto outras conjunturas são percebidas como ace leradas, rompendo o presente para impor a urgência da mudança. Os programas investigativos multiplicam-se em questões nas quais cabem a história das idéias científicas, das práticas econômicas e religiosas, das curvas demográficas, a história da cultura, das guer ras, das form as de representação da família, da loucura, da morte, das mulheres, das crianças e da própria subjetividade. O vocabulá rio, a sintaxe, os lugares-comuns, a concepção de espaço e de tempo, os quadros lógicos, tudo o que diga respeito aos locais e ao modo de produção das mentalidades pode ser m otivo de exame, constituindo um complexo inventário, que Febvre designou outillage mental. Por seu turno, a Antropologia detém, também de longa data, experiências de pesquisas do que se convencionou chamar de cul turas "exóticas", que obrigam a um aporte avesso ao anacronismo psicológico, segundo o qual poder-se-ia aplicar a todos os represen tantes da espécie humana as características que são específicas daquele que os pensa. Especialmente a partir de uma certa tradição na Antropologia, iniciada com Mauss (1974 ),2 passa-se a perceber que a própria categoria "indivíduo", tão cara às diversas psicolo gias, além de construída histórica e socialmente, é um valor.
2 Nesta seqüência, Louis Dumont é outra referência central. Cabe destaque, ain da, à fertilidade de desenvolvimentos teóricos que se deram nesta linha, em nosso país, com Gilberto Velho, Roberto Da Matta, Jane Russo e Luís Fernando Dias Duarte, para citar alguns.
HISTÓRIA E PSICOLOGIA: UM ENCONTRO NECESSÁRIO E SUAS "ARMADILHAS"
19
Desse modo, de posse das férteis articulações com as cons truções histórica e antropológica, torna-se possível à Psicologia expandir a crítica ao etnocentrismo, para fazer despontar uma du pla preocupação com a variação espacial e temporal das mentalidades. A Psicologia pode e deve manter uma íntima relação com estas disciplinas, e, mais do que se perguntar se há uma forma geral de representação de si e do mundo, se há uma mentalidade ou "in consciente coletivo" (Ariès, 1990) a reger as trocas simbólicas de uma época, voltar-se para o exame da forma como o homem se singulariza nesses espaços e tempos. São múltiplas, portanto, as trajetórias possíveis de se percor rer, uma vez que se proponha a lançar mão de construções teóricas que ultrapassem as margens exclusivas dos saberes psicológicos. A História da Psicologia, motivo central deste trabalho, pode expornos diante da contextualidade dos fatos humanos, na qual o pano de fundo universalista dos saberes "psi" dilui-se, bem como as reni tentes pretensões de construção de um discurso verdadeiro sobre as diferentes qualidades e condições com que se organiza a alma, o comportamento, a consciência, dentre outros o b je to s .^ subjetivi dade pode ganhar novas visibilidades diante da enunciação de sua historicidade, os homens podem tomar corpo num tempo e num espaço que os definem, como pertencentes a uma dada época e para uma dada área social, econômica, geográfica e lingüística. Hibridar Psicologia e História pode, além de tudo, oferecer um Instrumento crítico que justaponha à normalidade de um presente a diferença de outras organizações#- econômicas, políticas, cultu rais, existenciais - , que, apoiando-se na moda de passados findos, relativizam a ortopraxe e a ortodoxia do sistema em que vivemos (Certeau, s. d., p. 13). O recurso ao passado é vital. Exige o con fronto entre práticas e análises heterogêneas. Pode fornecer a força transgressora da inventividade humana, politizando a criatividade, 0 Inacabamento do fazer e da narração. Como diz Paul Veyne, "os fatos humanos não são evidentes por si mesmos", e a curiosidade reside em se perguntar por que não seria possível fazer de maneira diferente da que se pensa ou já se pensou. O apelo à História pode lugerlr, assim, novas técnicas e objetos "psi", distintos daqueles orlitalizados em espaços privados e intimistas. Deste modo, investigações que remetem a disciplina psicológi01 aoi seus contextos de produção, que exploram os paradigmas Qonitrufdos no campo psicológico, que analisam hábitos ou regras
20
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
compartilhadas pela comunidade de pesquisadores de uma determi nada época, que recuperam as intenções, as convenções e os con textos de produção desta disciplina, estas têm-se mostrados férteis. Tal esforço pode ser tríplice: a análise de "orientações, para digmas, problemáticas e instrumentos de pesquisa" dessa discipli na; a pesquisa do processo de institucionalização através da qual a disciplina procura se estabilizar do ponto de vista de sua organiza ção, e a discussão dos primeiros esforços de constituição do cam po de trabalho, com os quais, em princípio, os integrantes da comu nidade científica se identificaram (Lepenies, 1983, p. 38).
"Arm adilhas" no encontro História/Psicologia O caminho não é todavia tranqüilo, e armadilhas precisam ser evitadas. Primeiramente, é necessário romper com um determinado tipo de literatura na História da Psicologia, que persiste em ater-se ao território restrito da memória pessoal ou coletiva. É verdade que, entre História e memória, as relações são fortes, e muitas das ne cessidades de rememoração estiveram, com freqüência, na base de investigações rigorosas e originais. Mas nem por isso História e memória são identificáveis. A primeira está inscrita na ordem de um saber trabalhado criticam ente, "universalmente aceitável" e, para alguns, "cie ntífico". A segunda é movimentada pelas exigências existenciais de comunidades ou pessoas para as quais a presença do passado no presente é um elemento essencial de seu ser coleti vo e pessoal (Chartier, 2000, p. 19). Além disso, é preciso destacar que os "depoim entos", em geral utilizados nesse tipo de literatura, estão interna e externamen te subordinados a restrições. Em outros termos, nem tudo tem o direito de ser dito: "os tabus, a loucura, o erro (conhecimento falso) atestam todo um esforço no sentido de silenciar o que oferece pe rigo" (Pinho, 1998, p. 184). Procedimentos demarcam as fronteiras de cada discurso, limitando, ou melhor, impondo regras à sua livre circulação. São os rituais de enunciação (que requerem gestos, comportamentos e circunstân cias específicos), a engrenagem editorial, as associações criadas para garantir a manutenção de determinado saber, os sistemas dou trinais, educacionais etc. (Pinho, 1998, p. 184)
HISTÓRIA E PSICOLOGIA: UM ENCONTRO NECESSÁRIO E SUAS "ARMADILHAS"
21
Em contraposição à História, a memória ajusta-se às necessi dades de construção de uma identidade. E, neste jogo, as violên cias, os erros e não raramente as lutas que tiveram lugar têm que ser esquecidas ou interpretadas de maneira que não impeçam o sentimento de unidade, que permitam a produção de uma narrativa coerente, uma escritura harmônica da disciplina. Deste modo, é um bom antídoto caminhar além da memória e em prol de uma História da Psicologia, caminhar na direção de cap tar o processo de constituição da Psicologia, no qual as experiên cias, os projetos e as lutas dos que se opuseram, perderam ou foram abafados também tenham presença, o que implica realizar uma pesquisa que não se fixe somente nos "resultados", isto é, no projeto hegemônico, nas leis aprovadas, nos livros que ficaram, nos nomes reconhecidos (Mancebo, 1999c). As contradições devem ser analisadas pela História da Psicologia no sentido discutido por Orlandi (1987, p. 31): o "espaço de dissensões m últiplas", o espa ço em que se mantém "o discurso em suas asperezas m últiplas". Sob tal orientação historiográfica, a leitura dos textos - espe cialmente as fontes documentais primárias - também se altera. Pri meiro, porque não se trata mais de lê-los na busca de uma "unida de" que pudesse totalizá-los, mas de multiplicá-los. Desse modo, am vez de se analisar a "estrutura interna de uma teoria", como fazem as "descrições epistemológicas ou arquitetônicas, a análise pode se encaminhar para uma articulação múltipla, para uma plura lidade de registros, interessando-se por interstícios e desvios" (Orlandi, 1987, p. 30). Depois, é preciso também se precaver quan to aos perigos de se manter a independência soberana e solitária dos discursos psicológicos. Como em Foucault (1981), deve-se manter a preocupação em estabelecer "formas específicas de arti culação" entre discursos e domínios ou "sistemas não discursivos"; ou, ainda, em descobrir todo esse sistema de instituições, de profiossos econômicos, de relações sociais sobre os quais se podem «rtlcular os textos e os conceitos que os abarcam, não mais para "reencontrar um encadeamento causai" entre, por exemplo, "um oonceito e uma estrutura social", mas para captar um "tipo próprio d« hlstoricidade" em que se está enredado, relacionada a "todo um flonjunto de historicidades diversas". Outro aspecto cuja persistência deve ser evitada refere-se às Intermináveis sérias de Influências tfio comuns nos manuais de "Histórll da Psicologia". Conforme Lepenles, as Influências são, sem dúvida,
22
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
(...) m enos im portantes que uma rede de relações interdisciplinares ( ( . . . ) . A história de toda disciplina deve ser a história das suas relações com as outras disciplinas, daquelas que ela im ita com o m ode/v$/ los, to m a com o aliadas, tolera com o vizinhas, rejeita com o concor rentes ou despreza com o inferiores. ( 1 9 8 3 , pp. 3 9 - 4 0 ) |
Por fim , é possível se aperceber que, na formação de um sa ber específico sobre o homem, não se encontra exclusivamente um suporte epistemológico. Os textos apresentam-se associados inva riavelmente a um componente político e, mais do que mecanismos repressivos, envolvem relações de força, eficácias estratégicas, tá ticas políticas. Passa a fazer parte do ofício do historiador da Psico logia a tarefa de revelar o regime político inerente às práticas dis cursivas e não discursivas, as redes de poder, as configurações culturais e históricas que resultaram na produção de objetos, m éto dos e tratam entos para a Psyché. Isto implica, de um lado, a superação do "modelo filo sófico" que postula a leitura de "escolas", "estilos" ou "tendências" do pensamento erudito e institucionalizado como uma extensa e inin terrupta cadeia de interlocutores que se sucederam e se revezaram no tempo. Significa, ainda, pôr em xeque o "modelo da filosofia como philosophia perennis" (Warde, 1997, p. 290), em prol de uma outra metodologia que secundarize as relações de continui dade (sucessores e predecessores) e releve as relações de luta que se travaram contemporaneamente. Implica, igualmente, superar o entendimento de que as dinâmicas disciplinares são impelidas pelo m otor interno das idéias, em favor de uma compreensão "contextualizada" das idéias, do pensamento, das teorias. Isto significa, também, repensar radicalmente os procedimen tos historiográficos, já que não se trata mais de buscar formas de manifestação de um fenômeno ao longo da história, de partir do objeto, do sujeito, de uma teoria "plenam ente" constituída para ver como ele havia se manifestado em diferentes formações sociais. questão que aqui se advoga é a de perceber de que maneira as práticas discursivas e as não discursivas, as redes de poder consti tuem determinadas configurações culturais e históricas que resul tam na produção de determinados objetos e de determinadas figu ras sociais (Rago, 1995).^} Trata-se, enfim , de levar a sério a questão levantada por Rodrigues:
HISTÓRIA E PSICOLOGIA: UM ENCONTRO NECESSÁRIO E SUAS "ARMADILHAS
23
/
i
f Enquanto privilegiarm os o epistem ológico e o técn ico , em detrim en( to do histórico (político e m icro -p olítico ), não estarem o s, necessa^ riam en te, legitim ando sab eres-com petências-dom inações, ao invés Nde análise e intervenção social? ( 1 9 9 9 , p. 4 1 )
Considerações finais Foucault localiza três usos possíveis do sentido histórico. Para ele, o sentido histórico "comporta três usos que se opõem, palavra por palavra, às três modalidades platônicas da história" (1986, p.33). A primeira possibilidade é utilizá-la como uma paródia, com um uso destruidor da realidade, que se oporia ao tema da história-reminiscência, reconhecimento. A segunda é o uso dissociativo e detruidor da identidade, que se opõe à história-continuidade ou tradição. Es ses dois sentidos já foram abordados anteriormente. O terceiro é o uso sacrificial e destruidor da verdade, que se opõe à história-conhecimento. De fato, a consciência da contextualidade e da historicidade dos fatos humanos e, dentre eles, dos saberes psicológicos, choca18 inevitavelmente com qualquer tipo de pretensão universalista de nossos saberes. Contrapõe-se a um certo senso comum da acade mia que, desde os primórdios da ciência moderna, procura se fun dar, se estabelecer, sobre a idéia, sobre a crença... (...) de que nós nos a p ro xim am o s v e rd a d e ira m e n te do real ao "conhecer", de que nós podem os produzir um saber verdadeiro so bre as d ife ren tes qualidades e condições em que se organizam a m atéria, a vida e a significação, de que todos os fen ô m en os podem ser e fe tiv a m e n te reduzidos a níveis mais profundos, invisíveis e co muns de interpretação; isso tudo que nos conforta na im pressão pode-se dizer ta m b é m que nos dá a ilusão - de que estam os to c a n do no real e, acim a de tu d o, intervindo propiciatoriam ente sobre ele. (D uarte, 1 9 9 9 , pp. 5 4 -5 5 )
Historiar a Psicologia significa, em síntese, ousar um certo afastamento de seus protocolos formais, suas teorizações "acaba das", seus reglmea de IntervençSo "estabelecidos", incluindo a preta n ilo da cientlfloldade moderna, de conhecer a realidade para além daa aparências, de modo que ae controle o mundo a serviço do
homem.
24
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Por fim , ousar transitar pelos novos paradigmas, ainda emer gentes, que pretendem alçar a produção do conhecimento em ní veis mais complexos, articuláveis com outros saberes, significa eri gir uma subjetividade que lhe faça jus, cujas características se apre sentem similares ou com patíveis/Se o racionalismo estreito, mecanicista, utilitarista e instrumental da ciência moderna soube dar sua quota de contribuição para o obnubilamento da capacidade de sur presa diante do conhecimento, da descoberta de novos campos, de novas misturas e dos seus imprevistos - o que em term os mais amplos significou o arrefecimento da vontade de transform ação pessoal e coletiva - , a tarefa de reconstrução dessa capacidade e dessa vontade "de rebeldia" assume, neste novo século, um cará ter de urgência e necessidadeJSeguindo novamente Paul Veyne, para quem "os fatos humanos não são evidentes por si mesmos", é imperioso se perguntar por que não seria possível pensar, agir e investigar de maneira diferente da que se pensa, se age e se investiga.
Referências bibliográficas CAMINO, Leoncio (1996). Uma abordagem "psicossociológica" no estudo do com portamento político. Psicologia & Sociedade, v. 8, n.1, pp. 16-42, jan./jun. CERTEAU, M. (s. d.). A nova história. Rio de Janeiro, Edições 70. CHARTIER, Roger (2000). O século dos hibridism os. Folha de S. Paulo. São Paulo, 15 out., Caderno Mais, p. 19. DUARTE, Luiz Fernando Dias (1999). "M étodo e ficção nas Ciên cias Humanas: por um universalismo rom ântico". In: JACÓVILELA, Ana Maria; JABUR, Fábio; RODRIGUES, Heliana de Barros Conde (orgs.). Clio-Psyché: Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro, UERJ/Nape. pp. 53-66. FOUCAULT, Michel (1979). História da sexualidade I: a vontade de saber. 2.ed. Rio de Janeiro, Graal. ____ (1981). As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciên cias humanas. 2.ed. São Paulo, Martins Fontes. ____ (1986). Microfísica do poder. 6.ed. Rio de Janeiro, Graal. ____ (1991 ). A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro, PUC. GENTIL, Hélio Salles (1996). Individualismo e modernidade. Psico logia & Sociedade, v. 8, n. 1, pp. 83*101, jan./jun.
HISTÓRIA E PSICOLOGIA: UM ENCONTRO NECESSÁRIO E SUAS "ARMADILHAS"
25
HIRSCHMAN, Albert O. (1979). A s paixões e os interesses. Rio de Janeiro, Paz e Terra. LATOUR, Bruno (1994). Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro, Ed. 34. LEPENIES, W. (1983). Contribution à une histoire des rapports entre la Sociologie et la Philosophie. A ctes de Recherche en Sciences Sociales, n. 47-48, pp.37-44. MANCEBO, Deise (1999a). Modernidade e produção de subjetividades: gênese e possibilidades atuais. Rio de Janeiro. Tese apresentada em concurso para professora titular - Universi dade do Estado do Rio de Janeiro. ____ (1999b). "Indivíduo e Psicologia: gênese e desenvolvimentos atuais". In: MANCEBO, Deise e JACÓ-VILELA, Ana (orgs.). Psicologia Social: abordagens sócio-históricas e desafios con temporâneos. Rio de Janeiro, Eduerj. pp. 33-46. ____ (1999c). "História dos cursos de Psicologia no Rio de Janeiro (1953-1979): aspectos m etodológicos". In: GUEDES, Maria do Carmo e CAMPOS, Regina Helena de Freitas (eds.). Estu dos em História da Psicologia. São Paulo, Educ. pp. 137-152. MAUSS, Marcel (1974). Uma categoria do espírito humano: a no ção de pessoa, a noção de eu. Sociologia e antropologia, São Paulo, Edusp, v. 1. ORLANDI, Luiz B. L. (1987). "Do enunciado em Foucault.à teoria da m ultiplicidade em Deleuze". In: TRONCA, Italo A. (org.). Foucault vivo. Campinas, Pontes, pp. 11-42. PINHO, Luiz Celso (1998). "As tramas do discurso". In: CASTELO BRANCO, Guilherme e BAÊTA NEVES, Luiz Felipe (orgs). M ichel Foucault: da arqueologia do saber à estética da exis tência. Rio de Janeiro, Nau; Londrina, Cefil. pp. 181-188. RAGO, Margareth (1995). O efeito-Foucault na historiografia brasi leira. Revista de Sociologia da USP - Tempo Social, v. 7, n.12, pp. 67-82, out. RODRIGUES, Heliana de Barros Conde (1999). "À oficina da His tó ria : m étodo e fic ç ã o ". In: JAC Ó -VILE LA, Ana Maria; JABUR, Fábio; RODRIGUES, Heliana de Barros Conde (orgs.) Cllo-Psyché: Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro,
UERJ/Nape. pp. 37-44. P SANTOS, Boavantura da Souza (1997). Um discurso sobre as clênet§a, 9,ad. Porto, Afrontamanto.
26
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
SERRES, M. (1993). Filosofia mestiça. Rio de Janeiro, Nova Fron teira. WARDE, Mirian Jorge (1997). "Para uma história disciplinar: Psico logia, criança e Pedagogia". In: FREITAS, M. C. F. (org.). His tória social da infância no Brasil. São Paulo, Cortez.
De/se Mancebo Professora titular e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; doutora em História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Unlvcraldadt Católica de São Paulo.
Il AS IDÉIAS PSICOLÓGICAS NA PRODUÇÃO CULTURAL DA C O M P A N H IA DE JESUS NO BRASIL DO SÉCULO X V I E XVII Marina M assim i
História das idéias psicológicas, na cultura luso-brasileira: do que se trata? A elaboração dos conhecimentos psicológicos ao longo do tempo nas diferentes culturas é objeto de uma área de estudos que ie denomina história das idéias psicológicas. Indica-se com este nome a reconstrução de conhecimentos e práticas psicológicas pré sentes no contexto de específicas culturas e sociedades, expressi vos das diversas "visões de mundo" (Chartier, 1990) que as carac terizam. Entende-se por visão de mundo aquele conjunto de aspiraçfies, de sentim entos e de idéias que reúne os membros de um mesmo grupo e os diferencia de outros grupos sociais. O estudo da cultura brasileira dos séculos XVI ao século XVIII é particularmente fecundo e propício para esse tipo de investiga ção: de fato, a produção de idéias e de tentativas de sínteses cultu rels é uma característica marcante desse período histórico, confor me assinalado por vários autores (Hansen, 1986; Morandé, 1984; Morse, 1995; Pecora, 1994). Analisando o conjunto da produção lUIO-brasllelra colonial, delineiam-se umas temáticas mais relevantes HO que diz respeito a conhecimentos e práticas psicológicas, bem eomo se destaoa o papel significativo de alguns sujeitos culturais
28
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
especialmente expressivos e atuantes no âmbito da cultura oficial ou no da cultura acadêmica e popular brasileira. Com efeito, apesar da fragmentação e do autodidatism o que caracterizam a realidade do país daquele período, constata-se a existência de alguns grupos ou realidades culturais que apresentam uma certa homogeneidade, podendo assim ser considerados como sujeitos culturais, ou seja, sujeitos que representam, expressam, transm item e preservam determinados modelos culturais. Evidenciaremos, a seguir, alguns tópicos da produção cultural brasileira do período entre o século XVI e os inícios do século XIX, que podemos reconhecer como significativos para a história dos conhecimentos psicológicos na cultura ocidental.
Os jesuítas como portadores e transmissores de idéias psicológicas Ordem religiosa recém-surgida quando da vinda de seus pa dres missionários ao Brasil, junto da armada do Governador Geral português Tomé de Souza, em 1549, a Companhia de Jesus se originara num contexto cultural muito fecundo da Europa da época. Com efeito, seus inícios aconteceram no âmbito de um pequeno grupo de docentes e alunos da Universidade de Paris, local de con vergência da tradição medieval e dos novos fermentos do Humanis mo e do Renascimento; além disso, a identidade hispânica de seu fundador, Inácio de Loyola, e de vários entre os primeiros adeptos, proporcionava a colocação da Companhia no âmago de um dos mais im portantes m ovimentos culturais da Europa da época: a Segunda Esco/ástica ibérica, escola filosófica que tencionava abarcar e discutir as novas teorias dos filósofos renascentistas e, ao mesmo tempo, manter uma ligação estreita com a tradição filosófica cristã. Alguns dos membros da Companhia estiveram mesmo entre os mais ilustres representantes desta corrente de pensamento (Francisco Suarez, Pedro de Fonseca, Luís de Molina). A proveniência portuguesa ou hispânica de grande parte dos jesuítas que após 1549 chegaram no Brasil, bem como o fato de sua form ação espiritual e intelectual ter sido realizada no Colégio das Artes de Coimbra, que fora um dos focos do referido movimen to filosófico, reforça ainda mais a significação do papel cultural que
: | i i ; j
:
AS IDÉIAS PSICOLÓGICAS NA PRODUÇÃO CULTURAL DA COM PANHIA DE JESUS
29
os jesuítas assumiram no Brasil: o de portadores e transmissores da tradição medieval e renascentista da Europa no contexto da colônia além-mar, tendo eles propiciado e em parte se encarregado de rea lizar o enxerto das idéias, sonhos e desilusões, riquezas e contradi ções do Velho Mundo no terreno fecundo, virgem e desconhecido do Mundo Novo, onde irão estabelecer sua morada. A educação é reconhecida pelos religiosos - imbuídos pelo espírito da pedagogia humanista - como instrum ento privilegiado para criar um homem novo e uma nova sociedade no Novo M undo.1 Por isso a educação das crianças e a criação de escolas se consti tuíram os objetivos prioritários do plano missionário da Companhia no Brasil. Esse empreendimento acarretava a necessidade de fo r mular conhecimentos e práticas de caráter pedagógico e psicológico. Cabe ressaltar outro motivo que justifica o interesse do estudo do saber dos jesuítas do ponto de vista da historiografia das idéias psicológicas no Brasil: uma das dimensões principais da espirituali dade da Companhia e de sua formação é a ênfase no conhecimento de si mesmo e no diálogo interpessoal visando à compreensão da própria dinâmica interior. O discernimento dos espíritos e a direção espiritual, por exemplo, recursos utilizados na Companhia para a formação de seus membros, são expressões de uma atenção toda moderna para com o cuidado de si mesmo e tornam-se normas para a vida individual e social no âmbito da Companhia. Esses recursos práticos eram aplicados à vida do indivíduo, sendo porém funcio1 Com efeito, assim como muitos entre os europeus que vieram para as Arriéri ons, os jesuítas chegaram ao Brasil carregando consigo fermentos milenaristas qua, expressivos da crise cultural e social da Europa quinhentista, levavam-nos a •iperança de que aqui, no Novo Mundo, seria possível realizar o que fora impossí vel em seu contexto de origem. As Américas seriam, então, o contexto onde seria possível realizar a "utopia". Nesta perspectiva, a criação de escolas seria um dos namlnhos para possibilitar a realização do ideal preconizado. Tal objetivo fora re forçado pela constatação - após alguns anos de experiência com os índios brasilei ros -, de que estes não seriam propriamente tabula rasa, como era esperado; pelo oontrárlo, eram portadores de uma cultura e de um ethos muito diferentes, e às vezes radicalmente opostos à cultura e aos valores religiosos e morais dos euro peus, conforme é documentado pela correspondência jesuítica escrita do Brasil ao longo do século XVI (Massimi et alii, 1997). Daqui nasceu a necessidade urgente (!• orlaçâo de escolas para formação dos meninos, pois na tenra idade seria mais ftoll Inoulcar neles os caracteres da nova humanidade que se pretendera moldar. E, OOm •falto, o resultado foi surpreendente, pois em poucos anos os jesuítas conse|Ulram construir a tornar operativas uma rede de Instrução de primeiro, segundo e
Uroalro grau* na» dlvaraaa raglOtt da tua presença missionária no pata.
30
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
nais ao bem-estar do grupo e destinados a favorecer a adaptação aos diversos contextos de atuação missionária;2 neles canalizam-se conceitos teóricos e receitas práticas próprias de toda a tradição clássica e medieval.3 Apresentamos, a seguir, as principais idéias psicológicas que surgiram nesse contexto, presentes no meio sociocultural do Brasil colonial.
O estudo da alma e a cura das enferm idades do ânimo Uma importante fonte para o conhecimento da teoria psicoló gica difundida no ambiente cultural da Companhia de Jesus em Portugal e no Brasil, ao longo do período colonial, são alguns co mentários às obras de Aristóteles elaborados pelos jesuítas portu gueses docentes no Colégio de Coimbra, os tratados assim chama dos conimbricences (termo derivado de Conimbrica, nome latim da cidade de Coimbra) (Lohr, 1995). Tais comentários eram baseados nos textos gregos de Aristó teles, tendo por objetivos o uso didático (visando facilitar o trabalho dos alunos e propor um corpo seguro e uniformizado de conhecimen tos filosóficos) e a necessidade de assumir uma posição cultural explícita a favor de Aristóteles e de Santo Tomás, mas ao mesmo tempo acolhedora dos fermentos culturais novos do Humanismo e 2 Especialmente daquela área que se denominara medicina do ânimo e que, desde Platão, visava ao cuidado para com as assim chamadas enfermidades do ânimo, caracterizadas pelo desequilíbrio entre as partes da alma causado pela perda da soberania da alma racional sobre as demais partes da vida psíquica do homem (vide, por exemplo, a longa discussão a respeito realizada por Platão no Timeu). 3 A contribuição do estoicismo à medicina da alma é conhecida (Pigeaud, 1989), mas se pode afirmar que, ao longo de toda a Idade Média, proliferaram discussões teóricas e receituários práticos, visando descrever, explicar, prevenir e cuidar de todos os aspectos daquele microcosmo que é o homem, de maneira que este fosse um verdadeiro jardim da saúde (Schipperges, 1985), conforme a expressão utiliza da na época para definir o gênero literário que se ocupava da difusão desses conhe cimentos e dessas práticas. O Humanismo e o Renascimento, retomando as tradi ções do neoplatonismo e do estoicismo, dedicam-se à construção da medicina do ânimo, considerada essencial mesmo no que diz respeito à pedagogia e à política, como, por exemplo, na formação do príncipe. De fato, não é casual que um entre os tratados do humanismo italiano, dedicado ao filho do rei de Espanha e escrito por Tideu Acciarini, tivesse o título de De Animorum Medicamentis.
AS IDÉIAS PSICOLÓGICAS NA PRODUÇÃO CULTURAL DA COM PANHIA DE JESUS
31
da Renascença.4 Das teorias dos "modernos", aproveitavam o possí vel e refutavam os conceitos fundados em posições agnósticas e naturalistas.5 A teoria psicológica dos mestres de Coimbra pode ser apreen dida pela leitura dos comentários às obras psicológicas de A ristóte les, a saber: De Anima-, Anima Separata; Parva N aturaiia; Ética a Nicômaco; De Generatione et Corruptione.6 A concepção psicológica proposta pelos Comentários é clara mente inspirada na tradição aristotélico-tom ista: a alma é definida
4 Uma análise das fontes citadas pelos comentaristas pode fornecer uma idéia mais concreta acerca da estrutura do conhecimento psicológico proposta pelos filósofos jesuítas, verdadeira e complexa síntese entre antigos e modernos. No comentário ao De Anima, por exemplo, além de outros tratados aristotélicos, Oltam-se, entre as fontes médicas, desde Hipocrates e Galeno até o anatomista msdleval Realdo Colombo e o mais recente trabalho de Vesálio (De fabricatione oorporis humani). Entre as fontes filosóficas, citam-se juntamente aos mestres Oláaaicos e medievais, Platão, Cícero, Agostinho, Alberto Magno, Santo Tomás e Puna Scot, autores modernos, tais como o referido Nicoló Pomponazzi, os filósofoa humanistas Simone della Porta, Pico delia Mirandola e Costantino Nifo. * As origens históricas dos tratados Conimbricences remontam aos 10 de setem bro de 1555, quando, por decreto régio, ao Colégio das Artes de Coimbra fora •ntrague a responsabilidade da Companhia de Jesus. Todavia, somente em 1592 fol Impresso o primeiro tomo do Curso, na tipografia de Antônio Mariz, de Coimbra, QOm 0 título Commentaríi Collegii Conimbricensis Societatis lesu in octo libros Phyalcorum Aristote/is Stagiritæ. Em 1593, foram impressos vários outros tomos, •ntra 08 quais alguns dedicados à discussão das obras psicológicas de Aristóteles: If) Libro Aristotelis qui Parva Naturaiia appellantur H 04 p.), In Libro Ethicorum Arittotelis ad Nichomacum (95 p.), todos em Lisboa, na Oficina de Simão Lopes. Noa anos sucessivos, foram aparecendo os demais textos, sendo o De Anima e o Anima Separata impressos em 1598. O autor anônimo dos tratados parece ter \ lido na maioria dos casos o padre Manuel Góis. I A Influência dos conimbricences no século XVI foi muito grande, chegando a atinfir Daicartes e Leibniz (cit. Andrade, p. XXII).
I
: • Naases comentários, aparece uma discussão que atravessa todo o aristotelis(TIO renascentista, na qual se explicita a divergência entre a interpretação humanista Aristóteles e a leitura medieval. Em 1516, o filósofo italiano Pietro Pomponazzi •leravara o Tractatus de immortalitate animæ, cuja tese defendia a impossibilidade I 0 1 damonatrar filosoficamente a imortalidade da alma segundo os princípios de ltòtalaa. Com efeito, definindo aristotelicamente o homem enquanto corpo animaI • alma enquanto forma da matéria, esta possuiria a mesma qualidade de corruplldada da matéria a, portanto, ela mesma seria mortal. A tese de Pomponazzi lltlonara aaalm a conoapçlo da concordância existente entre a filosofia aristoté| • vlalo orlstl, pola o arlatotallamo, aagundo Pomponazzi, afirmaria uma dou-
t
Í
Hi contrária ao dogma orlatlo da Imortalidade da alma humana.
32
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
como o ato primeiro e substancial do corpo, a forma do corpo e o princípio de toda atividade. Inovadora, porém, é a ênfase quanto à utilidade concreta da ciência da alma - o que justifica a posição prioritária que ela ocupa entre as outras disciplinas filosóficas. Com efeito, já no Proêmio do comentário ao livro De Anim a, afirma-se que a ciência da aima não é útil apenas ao conhecimento da verda de eterna, não caduca, mas também à cura das enfermidades do ânimo (animi m orbus).1 A aplicação das teorias psicológicas no plano prático nortea do pela ética encontra-se nos Comentários Conimbricenses à Ética a N icôm aco.8 Este tratado é particularmente significativo por ser expressão de um gênero de literatura muito im portante ao longo da Idade Média, principalmente no Humanismo e no Renascimento, Ante esta polêmica, os jesuítas tiveram que se posicionar, assim como os demais filósofos da Segunda Escolástica. A opção foi de defender a enciclopédia aristotélica em sua unidade e aprofundar a leitura e a interpretação de Aristóteles. Acaba ram, assim, propondo um novo aristotelismo, elaborado principalmente nas univer sidades espanholas, do qual Francisco Suarez (1 5 4 8 -16 1 7 ) fora o representante mais significativo. Autor das Disputationes metaphysicæ (1 5 9 7 ), publicadas em Salamanca, e que tiveram dezenove edições entre 1597 e 17 5 1 , Suarez aborda a questão da relação entre ser finito e ser Infinito, afirmando a possibilidade de tratar ambos de modo independente um do outro. Portanto, o problema de Deus e o problema do mundo criado, da Teologia e da Filosofia Natural, podem ser tratados de forma autônoma. O ser finito é aquele que o poder de Deus constitui na existên cia real. Deus é o ser por essência; as criaturas são seres por participação e por dependência de Deus. O ser das criaturas enquanto criado é participação ou imita ção do ser de Deus e, portanto, depende de Deus essencial e intrinsecamente. Nesse sentido, a criatura é analogia com o seu Criador. O ser das criaturas pode ser comparado ao ser de Deus, já que é participação deste. A conseqüência da posição de Suarez, no plano da teoria do conhecimento, é a divisão da Metafísica em três partes: a Teologia Natural, a Psicologia Racional e a Cosmologia. A Metafísica é a Filosofia primeira, ou seja, a que enuncia os princípios comuns de todas as ciên cias; seu objeto é o ser real e o seu domínio abrange todos os seres. Os Comentários Conimbricences são elaborados paralelamente à elaboração da filosofia suareziana, refletindo, portanto, a problemática acima apontada e deixan do em aberto as soluções possíveis. 7 Esta posição faz parte de um projeto de renovação da Filosofia proposto pelos padres de Coimbra. A condição para enfrentar a res filosofica é a ordenação da vida, pois as faculdades cognitivas não funcionam bem se antes não tiverem adquirido a vis morai. 8 Os Comentários Conimbricenses à Moral a Nicômaco, impressos em Lisboa em 1 593, foram elaborados por Manuel de Góis, que, servindo-se dos manuscritos correntes nas aulas dos jesuítas em Portugal (ex. Pedro Luís, 1567; Lourenço Fer nandes, 1 5 7 5 -1 5 7 8 ) e de outros comentários impressos, redigiu o texto.
AS IDÉIAS PSICOLÓGICAS NA PRODUÇÃO CULTURAL DA COM PANHIA DE JESUS
33
mesmo no contexto da história cultural de Portugal, onde se pode observar a presença de uma significativa tradição no domínio da literatura moral. Nas ditas disputas, destacamos os seguintes tó p i cos de natureza psicológica: as noções acerca da estrutura e da dinâmica psicológica do homem (vontade, intelecto e apetite sensi tivo); as noções acerca dos estados da alma definidos como pai xões; as relações entre as virtudes (hábitos) e as paixões.
As cegas paixões do coração humano A descrição e a definição conceptual de emoções, tais como o medo, o amor, a tristeza, na época denominadas paixões, são te mas recorrentes na literatura jesuítica produzida no Brasil ao longo dos séculos XVI e XVII. A elaboração de uma teoria completa acer ca de tais fenômenos, bem como de seu controle pelo saber da Companhia, é documentada pela literatura moral e pela oratória aagrada. No século XVII, nos Sermões de Antônio Vieira, encontram-se Várias referências às "paixões", sendo estas reconhecidas como motores do com portamento humano individual e social. O saber de Vieira acerca da psicologia das paixões fundamenta-se numa longa tradição teológica, médica e filosófica, em muitos casos explicita mente documentada e citada,9 e que, de qualquer form a, já encon tramos nos tratados filosóficos dos mestres de Coimbra. * As fontes citadas por Vieira são textos clássicos ou medievais, tais como a Ítlc /1 a Nicômaco e a Retórica, de Aristóteles; a República, o Timeu e outras obras d» Platão; os tratados médicos de Galeno e Hipocrates; a Cidade de Deus de Aflostlnho de Hipona; a Suma Teológica de Tomás de Aquino; mas trata-se tamM m de textos produzidos pela cultura humanista e renascimental, tais como o De Vlln triplici (1475) e a Theologia Platônica de Marsilio Ficino; o De Anima et Vita Llbrl Tres (1538) de Luís Vives, entre outros. A teoria psicossomática tomista •cerca das paixões parece constituir-se no fundamento principal da visão dos jeRUftfls: dita teoria encontra-se formulada principalmente na Suma Theologica e no trotado De veritate (nas Cuestiones disputadas).
No caso específico de Vieira, a influência da Retórica aristotélica (cf. o Livro II) é tiara: por exemplo, a afirmação da determinação exercida pelas paixões sobre a paroepçlo, o entendlmtnto t o juízo, formulada pelo grande pregador jesuíta no IfCSho citado da 1 608, anoontra-te explicitada nos primeiros parágrafos do dito ttNto arletotélloo, oonatltulndo-ae o oonhaclmanto e a modificação da disposlçio emeelonal do ouvlnta numadia eondlpflai fundamental! para a afloáola do dlaourao.
34
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Em sermão de 1665, Vieira declara que: /4s paixõ es do coração hum ano com o as divide e n u m e ra A ris tó te les, são onze; m as todas el/as se reduzem a duas c a p ita e s : a m o r e ódio. E estes dois a ffe c to s cegos são os dois p ólos em que se resol ve o m undo, p o r isso tão m a l governado. Elles são os que dão os m erecim en to s, elles os que avaliam as prendas, elles os que rep ar te m as fortunas. Elles são os que e n fe ita m ou d escom põ em , elles os que fa ze m , ou aniquilam , elles os que p in ta m ou d e s p in ta m os objectos, dando e tirando a seu arbítrio a cor, a figura, a m edida, e ainda o m esm o s e r e substância, sem outra distinção, ou ju ízo , que ab o rrece r ou am ar. ( 1 9 5 1 , to m o 4 , p. 1 1 1 )
À descrição da fenomenologia do amor são dedicados os Ser mões do M andato, pregados entre 1644 e 1670 (Assis, 1995); a fenomenologia da tristeza discute-se no sermão pregado em São Luís do Maranhão, em 1654 (Silva, 1997). Vieira busca explicar as paixões utilizando-se do referencial da filosofia aristotélico-tom ista, mas apóia-se também na medicina hipocrática e galênica (por exem plo, recorre à tradicional teoria dos humores10).
O conhecim ento de si mesmo: força poderosa sobre as próprias ações Para Vieira, o estudo desses fenômenos psicológicos situa-se no plano de um conhecimento de si mesmo instrumental à conver são religiosa e ao com portamento virtuoso, em vista da qual o ser mão é considerado meio privilegiado e eficaz, conform e assinala num famoso sermão ("As cinco pedras da funda de Davi em cinco discursos m orais", 1676): Q ue coisa é a conversão da alm a, senão entrar um hom em dentro em si e ver-se a si mesmo? Para isto, o pregador concorre com o espelho que é a doutrina; Deus concorre com a luz que é a graça; o hom em concorre com os olhos que é o conhecim ento. (1 9 5 1 , v. 5 , p. 6 0 7 )
10 Na visão da teoria dos humores, que se originara na medicina grega e romana, a diversidade na composição dos humores do corpo (complexão) origina diferentes temperamentos psicológicos, mas um excesso ou defeito de um ou outro humor pode degenerar em patologias psíquicas e físicas.
AS IDÉIAS PSICOLÓGICAS NA PRODUÇÃO CULTURAL DA COM PANHIA DE JESUS
35
Por que é tão importante para Vieira o conhecimento de si mesmo, a ponto de identificar-se com a "conversão da alma", ou seja, com o efeito mais significativo do ponto de vista humano, da experiência religiosa? Ele mesmo responde à nossa questão: N este m undo racional do hom em , o primeiro móbil de todas as nos sas ações é o co nh ecim en to de nós m esm os (...). T od o s com um ente cuidam , que as obras são filhas do p ensam ento ou idéias, com que se co nceb em e conhecem as m esm as obras: eu digo que são filhas do p ensam ento e da idéia, com que cada um se concebe, e conhece a si m esm o. (...) (Ibidem)
Os com portamentos, as ações humanas, são expressões da maneira com que o homem concebe e conhece a si mesmo. Em OUtra enunciação de Vieira: "o conhecimento de si mesmo, e o OOnceito que cada um faz de si, é uma força poderosa sobre as próprias acções" (ibidem, p. 612). Observando-se o homem a si mesmo em seu agir cotidiano, o que aparece aos "olhos de seu entendimento"? O fato de que o eu é um composto de duas realidades muito diversas e irredutíveis, *Um composto pouco menos que quimérico, form ado de duas par t i ! tão distantes como lodo e divindade, ou quando menos um •Opro dela" (ibidem, p. 612). Se reduzíssemos o ser humano a uma OU outra parte desse composto, haveria duas "vias" para o conheOlmento de si: o conhecer-se a si mesmo "pela parte inferior e terrem ” , pelo qual o homem produz um "conceito m uito baixo de si", Oentrado no reconhecimento da própria fragilidade e de seu destino d t corrupção; ou, por outro lado, o conhecimento "pela parte su perior e tão alta", pelo qual o homem pode ensoberbecer-se, estifflando-se igual a Deus. Qual será então o verdadeiro conhecimento de si mesmo? Ra»ponde Vieira: "Digo que é conhecer-se e persuadir-se cada um, C|U0 ele é a sua alma" (ibidem, p. 613). A alma é para o ser humano 8 melhor espelho de si mesmo. Considerar apenas a parte corporal do homem significa reduzi-lo à mera dimensão animal. Proclama V ltlra: "eu sou a minha alma" e, portanto, "quem se conhece pela jlirte do corpo ignora-se, e só quem se conhece pela parte da alma | l oonhece" (ibidem). Mas o que significa dizer que "o homem é a sua alma" e que f | verdadeiro conhecimento de si mesmo é o conhecim ento da lim a ”? E o que ee entenda por "alma" na concepção de Vieira?
I
36
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Ele mesmo explica as razões de suas afirmações, razões estas fundadas na teologia aristotélico-tom ista: a essência de cada ser argumenta Vieira - corresponde ao que ele tem de peculiar com relação aos outros seres. No caso do homem, a alma é "o que o distingue e enobrece sobre todas as criaturas da Terra" (ibidem, p. 614). Ademais, o corpo humano não especifica o ser do homem, sendo substancialmente semelhante ao dos demais animais: "quem vê o corpo, vê um animal; quem vê a alma, vê ao hom em " (p. 615). ; Com efeito, o corpo humano, assim como o animal, é uma realidade corruptível, mas há no eu do homem algo que não morre: "sou alma, porque o fui, porque o hei-de-ser-porque sou" (p. 620). Não se trata, porém, de uma antropologia dualista de sabor platônico, em que o corpo seria considerado uma sorte de prisão da alma: o corpo é parte do homem, e não sua prisão, conform e Platão acreditara. Todavia, para que haja verdadeiro conhecimento de si mesmo, é preciso que o homem assuma como ponto de partida! o que peculiarm ente caracteriza-o, diferenciando-o do resto d e i universo. I 0 m étodo para alcançar o saber acerca desse objeto não é ca mesmo utilizado para o conhecimento da realidade natural - do tip c l que a ciência natural proporciona. Com efeito, trata-se de o u tr » ordem de conhecimento, que se refere à realidade moral. Vieira nã* m uai» >cmkmuíu m uju, ttz-
\m anu»,
TVFOGRAfíllA DE E. PEDROZA, Kiu Cajúüíí o. *».
I«í$4.
Figura 2 - Folha de rosto do livro In vestigações de Psicologia. Autoria de Eduardo Ferreira França.
E duardo Ferreira França (1 8 0 9 -1 8 5 7 ) Baiano, nasceu em Salvador e faleceu em viagem para a Euro pa, para onde se deslocava em busca de tratam ento médico (Blake, 1883; Oliveira, 1992). Era doutor em Medicina pela Faculdade de Paris, onde recebeu a mais rigorosa formação naturalista, tendo sido apontado como o primeiro estudante do seu curso. Apresen tou a tese Essai sur l'influence des aliments et des b o fito n s sur le m oral de l'hom m e. De volta ao Brasil, foi nom tiG l# professor de Química Médica e Prlnofplos Elementares de M lÉ iÉ iiË l da Facul-
A FACULDADE DE M EDICINA DA BAHIA
99
dade de Medicina da Bahia. Exerceu a medicina com extrema com petência, sendo também grande filósofo. Durante sua vida, procu rou encontrar elementos observáveis que pudessem explicar o com portamento moral das pessoas. A partir de 1848, representou seu estado em várias legisla turas. Segundo Paim (in França, 1972), em sua atividade política Ferreira França interessou-se por questões de saúde pública, tendo dedicado a esse tema dois ensaios: Influência dos pântanos sobre o homem (1850) e Influência das emanações pútridas animais sobre 0 homem (1859). Na qualidade de deputado estadual, elaborou re latório sobre a situação do sistema penitenciário da Província (1847). Pertenceu a diversas associações literárias de jovens acadêmicos. Para Paim (in França, 1972), foi a atividade política, mais precisa mente a representação em nível nacional, que o levou a se deparar com o problema da liberdade humana e a rever as concepções apren didas na França, que culminaram em sua obra mais im portante, no que foi influenciado por Condillac e Maine de Biran. Investigações de Psicologia, publicado em 1854, é muito pro vavelmente o livro mais antigo sobre este assunto nas três Améri5 Oas. No entendimento do autor, essa obra contém reflexões sobre a j; psicologia experimental, sendo intenção sua, não concretizada, tal| vez em virtude de sua morte prematura, escrever outro livro dedica| do ao que chamava de psicologia racionai. Apresentada em dois volumes, com 284 e 424 páginas, respectivamente, a obra é com posta por seis partes: 1) fenômenos da consciência e faculdades; 2) modificabilidade (sensibilidade, afetividade); 3) m otividade (mo vimentos); 4) faculdades intelectuais I (percepção interna e exter na, relações entre elas, das qualidades dos corpos e do hábito); 6 ) faculdades intelectuais II (sensibilidade cerebral, sono e sonhos, oonsciência, razão, memória, imaginação, abstração, composição, generalização, juízo, faculdade do futuro, faculdade da fé, da idéia); Instintos (físicos, intelectuais, sociais e morais; e 6) vontade.
Abílio Cesar Borges, Barão de Macahubas (1824-1891) I Baiano, natural da cidade de Rio de Contas, médico, com curI 10 realizado na Faouldade de Medicina da Bahia e tese apresentada I i Faouldade do Rio da Janeiro, destacou-se como um dos grandes tduoadoraa da a u t’ipooa. Fundou oa primeiros colégios partícula-
I
I rta do Braall. Tlnhomma forma paoullar a diferenciada oom relaçlo
100
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Figura 3 - Capa da conferência profe rida na Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro em 18 8 2 . Autoria de Abílio Cesar Borges.
à educação, advogando a abolição do castigo físico e a valorização dos corpos docente e discente. Recém-formado, radicou-se na ci dade de Barra, às margens do Rio São Francisco, onde, em 1850, fundou o seu primeiro colégio, o Atheneu Barrense. Passando a residir em Salvador, foi nomeado diretor-geral da Instrução Primária e Secundária da Província da Bahia, cargo que exerceu de 1856 a 1858. Seu projeto de ação neste cargo incluía um plano de valoriza ção do corpo docente e dos alunos, com a conseqüente exclusão da prática de castigos físicos na escola (Alves, 1925, 1936). Veri ficando que suas teorias não eram compreendidas nem executadas, solicitou exoneração do cargo e abriu um estabelecimento de ensi no para pôr em prática seu projeto pedagógico - O Gymnasio Bahiano (Blake, 1883; Alves, 1925 e 1936). No plano educativo, Dr. Abílio procurava, acima de tudo, ins
pirar o amor ao estudo, familiarizando as criançascom todos os conhecimentos e servlndo-se das lições de coisas para desenvolver
A FACULDADE DE M EDICINA DA BAHIA
101
lhes as aptidões naturais físicas, de acordo com as demais capaci dades intelectuais. Em 1883, durante a Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro, na presença de Pedro II, proferiu duas conferências sobre o "arithm om etro fracionário", de sua invenção, e sobre a nova lei do ensino infantil, aplicada no Colégio Abílio, o que lhe valeu os foros de primeiro reformador do ensino público e particular no Brasil (Fleiuss, 1925). Em 1889, obteve a medalha de ouro na Exposição Internacional de Paris, onde exibiu trabalhos escolares, obras didáticas e inventos seus. Representou o Brasil no Congresso dos Americanistas; integrou comissão nomeada pelo barão de Mamoré para reformar o ensino do Rio de Janeiro. Foi um dos primei ros a chamar a atenção do governo para a educação dos retardados e para a criação de uma cadeira de Linguagem Articulada aos surdos-mudos. Dr. Abílio não somente remodelou os métodos e os processos de ensino e transform ou o tirocínio escolar, mas também m odificou os compêndios então adotados. Imaginou um processo de leitura que apelidou "leitura universal", para lhe demonstrar a eficiência e quanto merecia cuidados o problema do analfabetismo em sua pá tria. Em 1881, D. Pedro II outorgou-lhe o título de Barão da Macahubas, em reconhecimento aos serviços prestados à educação brasileira. Por sua ação pedagógica, fundamentada numa preocu pação com o educando, e com efetiva análise e implementação de condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem numa época em que a Psicologia ainda não havia sistem aticam ente se dedicado a essas questões, Abílio Cezar Borges, Barão de Macahubas, merece ser reconhecido como um precursor da tecno logia de ensino. R aym undo N ina R odrigues (1 8 6 2 -1 9 0 6 )
!
Maranhense, formou-se em 1886 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tendo apresentado a tese intitulada A s amiotrofias de origem periférica. Radicou-se em Salvador/Bahia, onde teve uma destacada atuação em Medicina Legal, sendo mesmo patrono do Instituto Médico-Legal do Estado da Bahia. Segundo Bonfim {in CFP, 2001), foi ele influenciado principalmente por Scipio Sighele, Tarde e Gustave La Bon. Fundou a Reviita Médico-Légal e foi redator da Gazeta Médica da Bahia. Dentra auaa obrai, ancontram-aa 0 §nlml$mo fetlchlata
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
102
NINA
RODRIGUES
ÀS COLLECTIVIDADES ANORMAES Prefacio e Notas de A rth u r R am os
B - 5 . ■: c .
'■
n
/Mel-
BÎBLÏOTHHCA DH LHVULGAÇAQ SCIENTÍFICA
DmrciDAHaoprov. Du. Arthur
K am os
CIVIL1ZAÇAO B R A SILE IR A S. A. Rio
deJaneiro
1 9 3 9
~ Vo»,. 19 EDITORA
Figura 4 - Folha de rosto do livro A s Collectividades Anorm aes. Autoria de Nina Rodrigues
dos negros baianos (1896), A s raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil (1894), O alienado no direito civil brasileiro (1901 ), Os africanos no Brasil ( 1932) e A s collectividades anormaes ( 1939), os dois últim os publicados postumamente, com base em textos preparados pelo autor. 0 prim eiro deles teve coordenação de Homero Pires e o segundo, de Arthur Ramos. Nina Rodrigues é considerado o fundador da Escola Baiana de Antropologia, a despeito de sua posição altamente criticável com relação às populações negra, mulata e indígena, que considerava inferiores, defendendo, ainda, que o Código Penal deveria prever tratam ento diferenciado segundo um critério racial.
Juliano Moreira (1873-1933) Baiano, freqüentou a Faculdade de Medicina da Bahia, tendo apresentado a tese Slf/lls maligna precoce (1891). Peittrlormente, foi também profaaaor d a m Eacola. ConalderadO ^ l^ O u r io r da
A FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
103
psicanálise no Brasil, uma vez que, já em 1899, na qualidade de professor catedrático da FMB, proferiu conferência divulgando as Idéias de Sigmund Freud. Pode-se atribuir a isso o fato de ser ele ■depto da psiquiatria alemã. Radicou-se no Rio de Janeiro, tendo dirigido de 1903 a 1930 o Asylo Nacional de Alienados. Defendia a reformulação da assistência psiquiátrica pública, com a criação de hospitais-colônias e a assistência heterofamiliar (Venâncio, in CFP, 2001), tendo incentivado a primeira lei federal de assistência aos alienados (1934). Esteve ligado à fundação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins. Integrou a comissão da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, oonstituída com o objetivo de definir uma classificação psiquiátrica para o Brasil. Foi homenageado pelos baianos, uma vez que dá nome ao hospital psiquiátrico mais antigo do Estado, o antigo Asylo Blo Joâo de Deus» fundado no século XIX.
104
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
J ú lio A frâ n io P e ixo to (1 8 7 6 -1 9 4 7 ) Baiano da cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, foi alu no da Faculdade de Medicina da Bahia, onde defendeu a mais fam o sa das teses do século XIX, que obteve repercussão internacional, denominada Epilepsia e crime (1897). Esta tese foi publicada no ano seguinte, com dois prefácios: um escrito por Nina Rodrigues e o outro, por Juliano Moreira. Transferindo-se para o Rio de Janeiro, trabalhou, juntam ente com Juliano Moreira, no Hospital Nacional de Alienados. Escritor muito fértil, produziu mais de cem obras, científicas e literárias. Dentre as primeiras, podem ser arroladas aquelas que lidam com temas afins à Psicologia, a exemplo de A seleção dos incapazes afortunados pelo ensino secundário (s. d.), Clima e saúde (s. d.), Criminologia (s. d.), Ensinara analnar (s. d.), Ensino primário no Braall am 100 anos (s. d.), M arta 9 Mêrfâ (s. d.), Novos rumos da mêdfeffíâ lag»/ (•. d), E lem entoêtàJM j& tlna Lagal
A FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
105
(1910), Psicopatologia forense (1916), Sexo/og/a forense (1934). Dentre as segundas obras, destaca-se Rosa M ystica, symbo/o trági co, drama em cinco atos, com forte carga simbólica. Cada um dos atos foi impresso em uma cor diferente. Segundo Ribeiro (1950, citado em Peixoto, 2000, p. 11): (...) de fa to , a R o sa M y s tic a com eçava verm elho sangue, chegava ao azul, acab ava violeta, sendo o últim o ato de escuridão e de m or te , negro. A s cores iam com a gradação psicológica do dram a, ver m elho claro na felicidade e negro fúnebre na m orte.
É Dalila Machado, autora que realizou um breve estudo sobre esse livro, constante da edição fac-similar lançada em 2000 pelo governo do Estado da Bahia, quem diz: De fa to , a R osa M y s tic a , obra-prim a de A frânio P eixo to , à época Júlio A frân io , causou escândalo nos meios literários d evid o , princi p alm en te, à ousadia de seu tem a: trata-se da história de um pai que m ata a sua filh a, para que ela não se corrom pa com o am or dos h om ens. V a le lem brar que o te m a do incesto co m eço u a ser tra b a lhado por Freud, a partir de 1 9 1 0 , e que só em 1 9 1 3 ele publicou T o te m e T a b u . P a rte 1 - 0 h o rr o r a o in c e s to . (Fl. 10)
Concluindo, gostaríamos de sinalizar que a Faculdade de Me dicina da Bahia, a despeito das dificuldades estruturais e econômi cas, atuou como um centro dinamizador da cultura baiana, oportunizando o desenvolvimento de trabalhos em áreas afins e formando pessoas que se destacaram também no cenário nacional. As obras de alguns deles (Lino Coutinho, Ferreira França e Barão de Macahubas) ainda estão por merecer análise mais aprofundada, a fim de que possamos efetivam ente avaliar sua contribuição para o desen volvim ento posterior da Psicologia no Brasil.
106
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
R eferências bibliográficas
ALVES, Isaías. (1925). Esboço da vida e obra do amigo dos meninos "Dr. Abílio César Borges (Barão de M acahubas)". Revista do In stitu to Geográfico e Histórico da Bahia, v. 50, pp. 113-216. ____ (1936). y ida e obra do Barão de Macahubas. Rio de Janeiro, Renato Americano. 22p. ALVES, Maria Luiza de Souza (1925). Atuação de Abílio Cesar Bor ges sobre os processos educativos no Brasil. Revista do Insti tuto Geográfico e Histórico da Bahia, pp. 43-58. ARAGÃO, Gonçalo Muniz Sodré de (1940). Memória histórica da Faculdade de Medicina da Bahia, relativa ao ano de 1924. S.I., M inistério da Educação e Saúde. BLAKE, Augusto Victorino Sacramento (1883). Diccionario biblio gráfico brasileiro. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. CASTRO, Dinorah de Araújo Berbert de (1977). Cartas sobre a edu cação de Cora, do Dr. José Lino Coutinho. Salvador, UCSAL. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (2001). Dicionário biográfi co da Psicologia no Brasil. Brasília, CRP. FLEIUSS, Max (1925). Conferência. In: Homenagens prestadas ao Barão de Macahubas pelo Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, v. 50, pp. 275-289. FONSECA, Anselmo da (1893). Memória histórica da Faculdade de Medicina da Bahia. Bahia, Typ. e Encadernação do "Diário da Bahia". FRANÇA, Eduardo Ferreira (1854). Investigações de Psicologia. Salvador, Typografia Pedroza. ____ (1972). Investigações de Psicologia. São Paulo, Grijalbo/USP. GRAND ENCYCLOPÉDIE, (s. d.). Inventaire raisonné des Sciences, des Lettres et des A rts. Paris, H. Lamirault. LOGOS ENCICLOPÉDIA Luso-Brasileira de Filosofia (1989). Lisboa/ São Paulo, Editorial Verbo. MOREL, Pierre (1997). Dicionário biográfico Psi. São Paulo, Jorge Zahar. OLIVEIRA, Eduardo de Sá (1992.). Memória histórica da Faculdade de M edicina da Bahia concernente ao ano de 1942. Salvador, UFBA.
; j ; j í ; j :
A FACULDADE DE M EDICINA DA BAHIA
107
PEIXOTO, Adriano de L. A. (1996). História da Psicologia na Bahia no século XIX. Teses arquivadas no M em orial de Medicina 1845-1900. Relatório final de atividade de pesquisa. Salva dor, UFBA. PEIXOTO, Afrânio (1898). Epilepsia e crime. Bahia, V. Oliveira. ____ (1946). Breviàrio da Bahia. 2.ed. Rio de Janeiro, Agir. ____ (2000). Rosa M ystica, sym bolo trágico. Ed. fac-sim . Salva dor, Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia/ Funceb/Diretoria de Bibliotecas Públicas. PEREIRA, Pacífico (1918). A tradição histórica da Faculdade de Medicina da Bahia é um traço luminoso e indelével de patrio tism o desde a sua fundação até os nossos dias. Bahia Ilustra da, anno II, n. 3, pp. 7-8. ROCHA, Nádia M. D. (2001). "Questões psicológicas nas teses da Faculdade de Medicina da Bahia no século XIX - nota prévia sobre as influências intelectuais". In: JACÓ-VILELA, Ana Ma ria et alii. Clio-Psyché ontem. Rio de Janeiro, Relume-Dumará. SANTOS, Malaquias Álvares dos (1905). Memória histórica da Fa culdade de Medicina da Bahia relativa ao anno de 1854. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional. SILVA, Innocencio Francisco da (1885). Diccionário bibliographico português. Lisboa, Imprensa Nacional. T.13.
Nádla Maria Dourado Rocha Profaaaora e pesquisadora na Faculdade Rui Barbosa, Salvador, Bahia. Rvaponaével por projetos sobre a psicologia no Brasil, século XIX - tendo oomo fontes principals as teses de doutorado da Faculdade de Medicina de Bshls s s Saçlo da Obraa raraa da Biblioteca Pública de Salvador. Membro do Grupo de Trsbslho am Hlstórls de Psioologls da ANPEPP,
VI A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX: DESENVO LV IM E N TO CIENTÍFICO E PROFISSIONAL M itsuko Aparecida Ma kino Antunes
Este texto não tem a pretensão de esgotar o assunto enun ciado em seu título, nem é estritamente uma formalização de dados de pesquisa (embora estes sejam sua base). Foi ele elaborado com base em pesquisas em História da Psicologia no Brasil, particular mente referentes ao período que vai da virada do século a 1962 e de algumas reflexões sobre o período posterior a esta data. Sua finalidade é expor um panorama do século XX, enfocando realiza ções que marcaram o processo que culminou com a regulamenta ção da profissão de psicólogo e em seu desenvolvimento como clôncia e como profissão, posteriormente. O período é bastante extenso, pois à medida que o tempo avançava, ampliava-se sobre maneira o espectro das realizações na área, abrangendo ensino, pesquisa, práticas de intervenção, diversidade de abordagens teóri cas, publicação de livros e periódicos, criação de instituições, fun dação de entidades profissionais e promoção de eventos científi cos. Há que se registrar a carência de pesquisas que aprofundem a análise histórica da Psicologia neste século, quer no que diz respei to à variedade de suas manifestações, quer no que se refere às produções das diferentes regiões do país, pois a maioria das pesqul8as ainda enfoca Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Percebe-se, na virada do século, o incremento da preocupaç lo com 08 fenômenos psicológicos no interior de outras áreas de oonheelmonto, particularmente na Medicina a na Educaçlo. Naaaa
110
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
contexto, circunscreve-se aos poucos aquilo que poderia ser deno minado propriamente de Psicologia, processo esse que caracteriza seu reconhecimento como área específica de saber em nosso meio. Esse m ovim ento precisa ser visto à luz de pelo menos dois conjun tos de fatores: o desenvolvimento da Psicologia na Europa, e mais tarde nos Estados Unidos, e as múltiplas demandas impostas pelas condições sociais brasileiras. Esse período pode ser considerado como aquele em que se processa a conquista da autonomia da Psicologia como área de conhecimento no Brasil. Ao longo dos anos 20, e sobretudo a partir da década de 1930, verifica-se uma intensa produção na área, que se amplia e se diversifica em diferentes abordagens e campos de atuação, assim como são múltiplas as articulações que se estabelecem no interior da própria área e desta com outras. Pode-se considerar que, nesse momento, a Psicologia consolida-se no país, produzindo as bases para seu reconhecimento como profissão e o estabelecimento do currículo mínimo para seus cursos de formação. Esse período pode ser considerado como aquele em que se dá a consolidação da Psi cologia como ciência e como profissão no Brasil. Após a aprovação da Lei n. 4 .1 1 9 /6 2 , tendo sido a Psicologia reconhecida como profissão, são criados seus primeiros cursos regulares. Nesse momento, é potencializada a expansão que já vinha anteriormente ocorrendo, sobretudo pelo aumento de cursos oca sionado pela Reforma Universitária de 1968. Nesse período, con cretizou-se a profissionalização da Psicologia. No final dos anos 70, no contexto da luta pela democratiza ção do país, emergem críticas às várias form as de manifestação da psicologia, enfocando as teorias e as abordagens mais em voga, suas práticas e sua organização acadêmica e profissional. Nesse período, são fartos os debates em várias instâncias da Psicologia, o que concorre para a busca de novas perspectivas teóricas e m eto dológicas e sua expansão para vários campos da vida social, acar retando a superação da velha tríade escola-trabalho-clínica. Talvez isso caracterize um novo momento histórico; defini-lo com precisão é difícil, porém vislumbra-se com certa nitidez a expansão da Psico logia como ciência e como profissão, assim como o reconhecimen to de sua originalidade e excelência em várias instâncias.
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
111
A Psicologia é reconhecida com o área específica de c o n h ecim en to
Preocupações com o fenômeno psicológico eram já recorren tes desde os tempos da Colônia1 Como já foi dito, não se poderia, entretanto, afirmar que se tratava propriamente de Psicologia; só aos poucos ela conquistaria a condição de área específica de co nhecimento e, pouco mais tarde, por decorrência, a de campo de intervenção prática. Concorrem para a concretização desse proces so fatores de ordem interna, como o incremento das preocupações com o fenômeno psicológico em outras áreas de saber e o reconhe cimento da Psicologia como ciência autônoma na Europa e nos Es tados Unidos, assim como fatores de ordem externa, como as trans formações da sociedade brasileira e seus velhos e novos proble mas, que demandavam, por sua vez, novos conhecimentos e possi bilidades de intervenção.2 A farta produção de idéias, particularmente no interior da Medicina e da Educação, gerou condições e demandas para a busca dos conhecimentos que vinham sendo produzidos no exterior. Nes sa época, já era fato a condição da Psicologia como ciência autôno ma; França, Alemanha e Estados Unidos, só para citar alguns paí ses, já se constituíam como produtores profícuos de pesquisas em Psicologia, assim como várias perspectivas teóricas desenvolviamse e ampliavam-se, mesmo para alguns campos de aplicação. Nes se panorama, de rico desenvolvimento da área, essas idéias come çaram a penetrar no Brasil, principalmente trazidas por brasileiros que iam estudar e se aperfeiçoar no exterior, ou por estrangeiros que para cá vieram, convidados para ministrar cursos, dar conferências ou para prestar assessoria, muitos dos quais aqui se radicaram. Concomitantemente, no bojo das correntes positivistas e libe rais que participaram da implantação e permaneceram no modelo republicano brasileiro, emerge a defesa da modernização do país. Assiste-se, nesse momento, ao incremento do processo de urbani
1 Para mais informações sobre as idéias psicológicas no período colonial e no •éculo XIX, ver, naata obra, capítulos de autoria de Marina M a s s im i e Nádia R o c h a . 1
Para obtançlo d t mala Informaçfies, ver pesquisa sobre esse período em Antun ii (1891 ). V a ra fltl m i ll raaumldaa podam aar encontradas am Antunis (1 999a a 1999b).
112
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
zação, à migração e ao estabelecimento dos pólos econômico e político para o Sudeste do país, à expansão do ideário liberal e à geração de pré-condições para o desenvolvimento do processo de industrialização. Fazendo frente ao domínio de um modelo agrário (sustentado principalmente na produção e na exportação do café), a reivindicação pela adoção de medidas que pudessem elevar o país à condição de modernidade passou a constituir o núcleo das idéias de vários grupos de intelectuais, que arregimentavam cada vez mais seguidores. Tais idéias caracterizaram a virada do século e se torna ram mais fortes à medida que os anos avançavam. Ainda que in corporando diferentes matizes, era certa, porém, a defesa da cons trução de uma nova nação pela construção de um homem novo, para o que deveria concorrer a ação da Educação, esta também alicerçada numa perspectiva à altura dos novos tempos. Assim, o escolanovismo, uma das expressões das concepções humanistas modernas em Educação, que se pretendia pedagogia científica e buscava na ciência psicológica uma de suas mais im portantes ba ses de sustentação, proporcionou um terreno fértil para o desenvol vim ento da Psicologia. Pode-se afirmar que essa teia de demandas e de possibilidades gerou as condições para que a ciência psicológi ca produzida na Europa e nos Estados Unidos aqui penetrasse, con cretizando seu processo de reconhecimento como área autônoma de saber. Apresentar-se-á, a seguir, uma breve descrição da produção psicológica na Educação e na Medicina, com a finalidade de de m onstrar as realizações que contribuíram para o processo de autonomização da Psicologia no Brasil. A P sicolo gia na E ducação Um marco importante no processo histórico ora em estudo foi o estabelecimento da Psicologia como disciplina autônoma. Mais precisamente, em 1890, a Reforma Benjamim Constant, de cunho positivista, transform ou a disciplina Filosofia em Psicologia e Lógi ca; mais tarde, isso se desdobraria na introdução das disciplinas Psicologia e Pedagogia nas Escolas Normais. Vale dizer que, nos primeiros anos da República, foram reali zadas várias reformas educacionais, oscilando entre as tendências positivistas e liberais; entretanto, o quadro da Educaçfio brasileira pouco se alterou, permanecendo ainda os graves problemaa aduca-
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
113
cionais herdados da Colônia e do Império, sobretudo pela ausência de um projeto nacional de Educação, o que só viria a ter início após os anos 30. À parte isso, ocorreu, ao longo desses anos, uma efer vescência de idéias educacionais, expressão dos ideários naciona listas e modernizadores. A necessidade de expandir a escolarização trouxe grandes debates e muitas propostas, cuja tônica residia na defesa da eleva ção do Brasil à condição de potência mundial. M uitas dessas pro postas traziam em seu bojo algumas preocupações com o fenôm e no psicológico, porém ainda distantes daquilo que poderia ser con siderado propriamente como Psicologia, pois abordavam questões relacionadas à higiene, enfocando os vícios e a decadência moral como produtos da ignorância. Tais preocupações eram basicamen te de natureza disciplinadora. Em geral de cunho patriótico, essas idéias não penetravam na questão propriamente educacional e, so bretudo, pedagógica, pois permaneciam no âm bito do discurso po lítico genérico; disso decorre em parte a ausência de elementos próprios da ciência psicológica.3 Além disso, emerge mais sistematicamente, por volta da dé cada de 1920, a defesa da organização de um sistema nacional de Educação, sobretudo com a implantação de uma reforma eminente mente pedagógica. Nesse contexto, surgiram os primeiros p ro fis sionais da Educação (vindos da Medicina, do Direito e de outras áreas); foram criadas entidades representativas de educadores, como a Associação Brasileira de Educação - ABE; foram empreendidas reformas estaduais de ensino baseadas em projetos especialmente pedagógicos, além de outras iniciativas. É im portante sublinhar que tais empreendimentos estavam intimamente relacionados com a introdução das novas idéias educacionais e pedagógicas represen tadas pela Escola Nova. Procurar-se-á demonstrar, a seguir, algu mas manifestações que ilustram esse processo. O Pedagogium, idealizado originalmente por Ruy Barbosa, foi criado em 1890 com a finalidade de se constituir como centro de produção de saber e fom ento para novas realizações educacionais. Em 1906, foi aí criado o primeiro laboratório de Psicologia no Brasil, planejado por Binet em Paris, com a colaboração de Manoel Bomfim, £ • • • awuntO foi tratado mais especificam ente em Antunm , M . A. M ., Paicolo• i « E d u c a ç t y ^ f U lI; Idéias quo antecederam a sistematliÊÇfyj/f MCOlanovIs-
114
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
que dirigiu esse centro por cerca de quinze anos. Não há registros sobre a produção desse laboratório, embora em suas obras de Psi cologia e Pedagogia seu diretor fizesse referência às pesquisas lá realizadas. Curiosamente, nessas obras, o autor apresenta uma bem argumentada crítica às pesquisas realizadas em laboratório; para ele, as condições restritas e artificiais deste não permitiam a apre ensão da complexidade e das múltiplas determinações do fenôm e no psicológico, especialmente do pensamento, visto por ele como ; função psíquica superior. Bomfim considerava o psiquismo como < um fenôm eno de caráter histórico-social, devendo ser estudado segundo o m étodo interpretativo, o qual deveria recorrer ao estudo j de suas múltiplas manifestações, dando especial atenção à imensa .j obra humana forjada ao longo da história. É im portante lembrar que Bomfim não foi um partidário do escolanovismo, embora sua produ- ; ção nesse âmbito fosse eminentemente voltada para a psicologia i da educação, podendo ele ser considerado, por sua obra em geral, | como um intelectual que não se alinhava ao que era hegemônico na época. Outros laboratórios foram criados em Escolas Normais, princi palmente vinculados às denominadas Reformas Estaduais da Edu* cação dos anos 20, realizadas por aqueles que personificaram os> primeiros profissionais da Educação no Brasil, dentre os quais aN guns dos pioneiros da Psicologia, como Lourenço Filho e Isaías Alves. Essas reformas seguiam fundamentalmente os princípios d#i Escola Nova, tendo a Psicologia como um dos principais sustentât culos para a prática pedagógica, envolvendo estudos sobre desen* volvim ento infantil, processos de aprendizagem, relações entre pro* fessores e alunos, além de dar início ao emprego de técnicas oriun*] das da Psicologia, como os testes pedagógicos e psicológicos, utHj lizados como instrumentos de racionalização da prática educativa. 1 Dentre outras, destacam-se as Escolas Normais de São Paulo, For-1 taleza, Salvador, Recife e Belo Horizonte. As Escolas Normais foram também base para o ensino de Psicologia, e continuaram sendo após os anos 30, pois foram elas os alicerces para as futuras seções de Pedagogia das Faculdades de j Filosofia, Ciências e Letras - FFCL, nas quais a Psicologia se esta» beleceu como matéria de ensino superior, concom itantem ente ao que ocorria nas seções de Filosofia. Como já foi dito, nessas esco* Ias foi introduzida a disciplina Psicologia e Pedagogia, um dos malt Importantes meios pelos quais s clèncla pslcológloi • • difundiu • t i
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
115
desenvolveu, incluindo as diferentes abordagens teóricas e técni cas da época, por meio da tradução de obras estrangeiras ou da vinda de psicólogos como Piéron, Walther, Simon, Claparède e ou tros, fatores estes que permitiram o acesso mais amplo àquilo que vinha sendo produzido em âmbito internacional. As cátedras de Psicologia e Pedagogia nas Escolas Normais também fomentaram a produção de pesquisas e de obras escritas por seus catedráticos, para uso dos alunos e suporte para suas aulas. Eis algumas obras que tratam da ciência psicológica, produzidas por professores das Escolas Normais: Compêndio de Paidologia (1911) e Educação da infancia anorm al de intelligencia no Brasil (1913), de Clemente Quaglio; Lições de Pedagogia (1914), Noções de Psychologia (1916) e Pensar e dizer: estudo do symbolo no pensamento e na linguagem (1923), de Manoel Bomfim; Psychologia (1926), de Sampaio Dória; Teste individual de intelligencia (1927) e Os testes e a reorganiza ção escolar (1930), de Isaías Alves, entre outras. Como diretor da Escola Normal Oficial de Pernambuco, Ulys ses Pernambucano criou, em 1925, o Instituto de Psicologia de Pernambuco, o qual foi transferido para o Setor de Educação em 1929, passando a ser denominado Instituto de Seleção e Orienta ção Profissional - Isop, mais tarde anexado ao serviço de Higiene Mental do Hospital de Alienados do Recife, quando Pernambucano tornou-se seu diretor. É bem verdade que tais fatos demonstram que essa instituição esteve mais ligada a seu criador do que propria mente à Escola Normal; entretanto, nas suas diferentes etapas, foi constante a presença de professoras normalistas, assim como a preocupação com a pesquisa em Psicologia e com o desenvolvi mento de suas técnicas. Muitas realizações aí ocorreram, como estudos sobre testes de nível mental, aptidão e outros, incluindo a padronização para a realidade brasileira; pesquisas sobre o vocabu lário das crianças das escolas primárias; elaboração de testes peda gógicos; estudos sobre técnicas projetivas, assim como muitas ati vidades que tinham como finalidade a formação de pesquisadores em Psicologia, destacando-se Anita Paes Barreto, Nelson Pires e Sílvio Rabelo. Pernambucano também realizou atividades em Psico logia mais relacionadas à sua atuação médico-psiquiátrica, as quais serão citadas mais adiante. Relacionada à Escola Normal e criada no bojo da Reforma Edu cacional de Minas Gerais em 1929, a Escola de Aperfeiçoam ento de Professores de Belo Horizonte constituiu-se numa dae mais
116
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
profícuas instituições produtoras de conhecim ento, ensino e expe riências educacionais baseadas na Psicologia, tornando-se parâme- í tro para os rumos que tomaram a Psicologia e a Educação no país. Mais tarde, essa instituição fundiu-se com a Escola Normal, dando j origem ao Instituto de Educação, que também anexou seu laborató-1 rio de Psicologia. Sob a direção de Helena A n tip o ff4 e por força de sua liderança, aí muitas normalistas entraram em contato com a Psicologia e foram introduzidas nos campos da pesquisa e da prátit ca educacional nela baseada. É im portante ressaltar que A n tipoff, além de ter se responsabilizado pela form ação de educadores ej futuros psicólogos, também fundou a Sociede sil; idealizou e concretizou a experiência educí Rosário, ocupando-se da educação de superdi rural; escreveu muitos artigos para importanti ros em Psicologia e Educação, tendo reconh significativa contribuição para a educação bra: lidação da Psicologia no Brasil. A Escola Normal de Salvador foi também ro para a introdução e o desenvolvimento da F continuou sendo-o também após os anos 30,1 seu mais im portante protagonista; foi ele um < são, aplicação, revisão e adaptação de testes sil, assim como um dos mais veementes defe ção na organização escolar. Foi, por isso, fii área, não apenas na Bahia, mas nacionalment profícuo pesquisador do desenvolvimento psii A Escola Normal de Fortaleza foi um dc do Ensino do Ceará, empreendida por Lourei escola a finalidade de form ar os educadores qi zar os novos rumos da Educação cearense, empreendimento, foi criado um laboratório de borar com a form ação dos educadores, o qu também permitiu a continuidade das pesquisa já vinha realizando na Escola Normal de Pin suas pesquisas sobre maturidade para a leitur A Escola Normal de São Paulo foi uma < instituições responsáveis pelo desenvolvimei 4 Pari mala Informaçflaa aobra i produçlo da Helena, várlaa da Raglna Helena d l Pratlii Campoi,
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
117
Brasil. Sua importância justifica-se por suas atividades de ensino dessa área, pela produção de seu laboratório, pelos cursos m inistra dos por im portantes psicólogos estrangeiros e por ter sido a base para a cátedra de Psicologia Educacional da seção de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras - FFCL da Universidade de São Paulo - USP. A cátedra de Psicologia da Escola Normal de São Paulo pertenceu, sucessivamente, a Sampaio Dória, Lourenço Filho e Noemi Silveira. Seu laboratório, criado na gestão de Oscar Thompson, em 1914, foi dirigido no início pelo italiano Ugo Pizzolli; af foram produzidas inúmeras pesquisas, abordando grafismo, atençfio, tempo de reação, memória, associação de idéias, raciocínio Infantil, tipos intelectuais e outras. Mais tarde, esse laboratório foi Incorporado à cátedra acima citada. As Escolas Normais foram, pois, essenciais para o desenvolvi mento da Psicologia e, certamente, protagonistas de primeira gran deza no processo de autonomização da Psicologia no Brasil. Sua tarefa consistiu em divulgar e difundir o conhecimento psicológico produzido na Europa e nos Estados Unidos por meio do ensino, da produção de obras e da vinda de importantes psicólogos estrangei ros. Foram importantes pela produção de pesquisas; pela formação da profissionais que viriam a fazer parte do grupo de pioneiros da Psicologia; pela introdução dos conhecimentos da área em interVfnções práticas e por terem sido o alicerce para a introdução da Pllcologia como matéria do ensino superior. A P sicolo gia n a M e d icin a Dando seqüência às tendências do século XIX, as Faculdades da Medicina (Bahia e Rio de Janeiro) e os hospícios foram as princi pais fontes médicas de produção de idéias psicológicas, muitas das quais foram aos poucos adquirindo contornos que as qualificavam propriamente como Psicologia, ao mesmo tempo em que vão se distanciando e se diferenciando da Medicina, sobretudo da espeOlalldade psiquiátrica. Algumas teses já apontavam, desde o século passado, para OOnteúdos que poderíamos considerar como próprios da Psicologia. 1890, a tese de José Estelita Tapajós, Psicofisiologia da per99pção e das representações, já apresentava a tendência psicoflllológlca da épooa. Tases denominadas Das emoções foram aprelítntadas por Dias de Castro (1890), Manuel Pereira de
VtrJ||lmo
118
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Melo Morais (1891) e Adolpho Porchat Assis (1892). De Alberto : Seabra, a tese A memória e a personalidade, de 1894, anunciava | temas que viriam a ser largamente pesquisados mais tarde, tam - j bém pelos primeiros laboratórios de Psicologia criados alguns anos \ depois. | A tese de Henrique Roxo, Duração dos atos psíquicos elemen tares, de 1900, defende a Psicologia como propedêutica da Psi quiatria, o que revela a admissão de que a primeira constitui-se numa área específica de saber. A tese de Oscar Freire de Carvalho, orientada por Nina Rodrigues, Etiologia das formas concretas da , religiosidade do norte do Brasil, já apontava para um tema que seria ; incorporado pelas preocupações da psicologia social mais tarde. De 1907, a tese de Maurício Campos de Medeiros, médico que acabou ! por se dedicar à Psicologia, Métodos em Psicologia, é dem onstrati va do reconhecimento da autonomia dessa área, assim como da preocupação com o rigor científico na produção de seus conheci*; mentos. Em 1911, Plínio Olinto, outro médico que mais tarde viria! a se dedicar à Psicologia, defendeu a tese Associação de idéias, indubitavelm ente um tema psicológico. Essas teses demonstram? com bastante clareza a produção psicológica da época, assim como» a condição da Psicologia como área de saber, ainda que fosse ela vista, por vários de seus autores, como subsidiária da Medicina, interpretação esta que em verdade perdurou ainda por muito tempo.' Alguns hospícios também se dedicaram à produção de conhe cimentos em Psicologia, principalmente com a instalação de labora tórios.5 No Hospital Nacional de Alienados, foi criado, em 1907,; um laboratório de Psicologia, sob a influência de Georges Dumas,; dirigido por Maurício Campos de Medeiros. Um laboratório de parti cular relevância foi o da Colônia de Psicopatas do Engenho de Den* tro, criado em 1923. Em 1932, este foi subordinado ao M inistério da Educação e Saúde Pública como Instituto de Psicologia e, em 1937, incorporado à Universidade do Brasil. Esse laboratório foi ) dirigido pelo psicólogo polonês W aclaw Radecki, tendo produzido um significativo rol de pesquisas abrangendo várias temáticas da Psicologia, como estudos sobre seleção e orientação profissional, j fadiga em trabalhadores menores de idade, seleção de aviadores, ; psicometria, etc.; além disso, dedicou-se à formação d e pesquisadorei
1 Para mala Informaçflaa aobra oa laboratórios daaaaa h M M f t i var publloaçfiaa virlaa da Antonio Qomas Pinna aobra a Paloologla no Hw g W l l f e .
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
119
e de profissionais na área, incluindo a preocupação com a modali
dade clínica e a aplicação às questões relativas ao trabalho. A Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada em 1923, também criou um laboratório de Psicologia, considerando ser esta uma ciência afim à Psiquiatria; dirigido sucessivamente por Alfred Fessard, Plínio Olinto e Brasília Leme Lopes, foram aí realizados os Seminários Brasilei ros de Psicologia e, anualmente, as Jornadas Brasileiras de Psicolo gia, com a finalidade de divulgar as pesquisas produzidas. Na esteira do movimento higienista, o Instituto de Higiene de Sâo Paulo form ou um grupo de estudiosos dessa área, sob a lide rança de Geraldo Paula Souza, composto por médicos, educadores e engenheiros. Produtos desses encontros foi a criação do Serviço de Inspeção Médico-Escolar, no qual foi criada uma escola para "deficientes m entais", e, em 1938, da Clínica de Orientação Infan til, dirigida por Durval Marcondes. Além disso, esse grupo foi tam bém precursor do Instituto de Desenvolvimento e Organização Ra cional do Trabalho - Idort, que esteve muito ligado à produção de Psicologia aplicada ao trabalho nos anos seguintes. Os pressupostos higienistas exerciam, nessa época, uma subs tancial influência sobre a Medicina, particularmente sobre a Psi quiatria, haja vista a denominação de algumas instituições acima { Citadas. Os ideais higienistas geralmente se articulavam aos princíí pios da eugenia, intimamente ligados ao pensamento racista brasií lelro. Baseavam-se numa concepção que afirmava a existência de Uma hierarquia racial (sendo a raça ariana considerada superior e a ; riç a negra, a mais inferior de todas), do que decorria a teoria da \ dtgenerescência, que considerava a propensão à degenerescência I física e mental das ditas "raças inferiores". Por essa via, a reivindi| oação de adoção de medidas "higiênicas", cuja finalidade não era EOutra senão o "embranquecimento da raça brasileira", constituía-se \ numa das bandeiras de lutas dessas entidades. É im portante dizer í que tais idéias já se definiam como conteúdos próprios da Psiquia tria, distanciando-se, pelo menos diretamente, daquilo que se pro duzia como conhecimento psicológico, embora este trouxera, pelo USO de testes, uma certa contribuição para corroborar "cientifical "“ ente" tais concepções. Num sentido bastante diferente, evoluiu o M ovim ento Psiquiáloo de Recife, sob a liderança do já citado Ulysses Pernambucano, ovlmento este que antecipou as idéias da antipsiquiatria, que só ria a ae m a n ifM ^ 0éoadaa depois. Na condição de diretor do
É
120
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Hospital de Doenças Nervosas e Mentais do Recife e participando da Assistência a Psicopatas de Pernambuco, ele aboliu as camisasde-força e os calabouços, implantou ambulatórios e hospital aber to, dentre inúmeras outras realizações, incluindo o já citado Institu to de Seleção e Orientação Profissional - Isop. Pernambucano fun dou também a Liga de Higiene Mental de Recife, porém numa dire ção bastante diferente das demais; aí criou ele a primeira "Escola para Anorm aes" no Brasil, mais tarde assumida pela Associação de j Pais e Am igos dos Excepcionais - Apae. Nessas atividades por ele realizadas, fizeram-se presentes médicos e professoras normalis- ; tas, incumbidos de desenvolver e realizar tarefas relacionadas à Psicologia, na condição de m onitores de saúde m ental ou auxiliares psicólogos. É possível dizer que, para Ulysses Pernambucano, não havia uma linha de separação nítida entre Psicologia e Psiquiatria, devendo o trabalho em saúde mental contar com a colaboração de diferentes profissionais, o que também só muitas décadas depoisj viria a ser defendido. Essa sua visão deve-se muito provavelmente* à sua concepção de doença mental como situação existencial, pro« duto da dinâmica psicológica do indivíduo, considerado como sujei to ativo em interação com fatores de ordem social. ? Em síntese, podemos dizer que a Medicina, tal como no sécu* Io XIX, continuou sendo um importante solo para o desenvolvimen-í to da Psicologia, com a criação de laboratórios, cursos, encontros etc., que tinham , em última instância, a finalidade de subsidiar ( prática médica. Entretanto, foi-se gradativamente demonstrando sua delimitação enquanto área de conhecimento, em especial por suai realizações no campo da Educação. Ao mesmo tempo, a Psiquiatrii assumia um perfil mais nítido e distante daquilo que se produzia ert nome da Psicologia. Muitos médicos permaneceram mesmo no es; copo da Psicologia e se distanciaram da Psiquiatria; aliás, m uitol profissionais que se dedicaram à Psicologia na Educação vinham também da Medicina. Dessa forma, é possível dizer que a Psicoloü gia, nessa época, ganhou espaço no interior da Medicina, embor< dela começasse a se separar, adquirindo contornos de ciência autô* noma. J Processo diverso ocorreu com a Educação. Deve-se lembrai que esta não é uma ciência, mas uma prática social que, sistematí zada pela Pedagogia, busca sustentação nos conhecimentos cientl ficos. Essa característica talvez seja importante para se compreenu der como a Psicologia encontrou na Educaçto um rico substrat!
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
121
para o seu desenvolvimento, assim como é possível afirmar que esta também encontrou na Psicologia um vasto cabedal de conhe cimentos subsidiários às suas práticas. Além disso, é possível dizer que ambas, Psicologia e Educação, pelas vertentes que adotaram, foram elementos fundamentais para contribuir com um projeto so cial mais amplo, a modernização do país, consubstanciado na im plementação da industrialização. O movimento da Psicologia a par tir dos anos 30 demonstra com clareza o vínculo com esse projeto, que, por sua vez, é representado pelas diretrizes assumidas pelos grupos que tomaram o poder na denominada "Revolução de 30". Assim, as idéias de modernização da administração pela racionali zação e a organização científica, elementos já presentes na aplica ção da Psicologia à Educação na década anterior, expandiram-se para as aplicações ao trabalho, tendo como protagonistas alguns dos pioneiros da Psicologia que emergiram no período precedente, dentre os quais alguns que se tornaram eminentes quadros políti cos do governo, como Lourenço Filho, por exemplo. Nessa pers pectiva cientificista, vigorava a idéia de neutralidade representada pela ciência, obscurecendo, de certa form a, as contradições de clas•e, herdadas do período anterior, mas naquele m omento portando Uma nova roupagem. Esse quadro, no entanto, apresenta contradições, representa das por posições que não se articulavam com o que era corrente ou hegemônico na época. Nessa condição, encontram-se, por exem plo, Manoel Bomfim e Ulysses Pernambucano, defensores de idéias que só mais tarde viriam a ser efetivamente reconhecidas e que não incontraram respaldo em seus contemporâneos; não por acaso fofsm ambos vítimas do ostracismo e, de certa maneira, de um "es quecimento" deliberado.
A Psicologia consolida-se como área de conhecimento e campo de aplicação Esse período caracteriza-se pela multiplicação de manifesta i s » da Psicologia relacionadas à sua condição de área de conhecibltnto e de campo de ação, envolvendo: a ampliação de seu ensino ■•ra os cursos suptrlores; a concretização da atuação em diversos lim p o s de (particularmente em Educação, trabalho e pfnlca); a liilm m iM E ip rtlfim iin i abordagens teóricas; a crlaçlo
122
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
de instituições de pesquisa e aplicação; o incremento da publicação de livros e o aparecimento de periódicos na área; a criação de enti dades representativas da área e de seus profissionais; a organiza ção de im portantes eventos científicos e, por decorrência, o m ovi mento que culminou com a regulamentação da profissão de psicó logo. Os dados aqui apresentados são ainda precários, pois, pela extensão da produção do período, há ainda carência de estudos que possam fornecer um quadro analítico mais aprofundado de suas inúmeras realizações, assim como de suas produções nas diversas regiões do país. Para expor o percurso da Psicologia nesse período, foram u ti lizados os dados de uma pesquisa,6 cujo objetivo foi elaborar um quadro de referências com base no esquadrinhamento de publica ções que abordam a História da Psicologia no Brasil.7 Serão trata dos, da referida pesquisa, especificamente os dados referentes ao período compreendido entre 1930 e 1962, que foram organizados nos seguintes agrupamentos; ensino; aplicação; estudos e pesqui sas; publicações e outros (eventos e associações científicas e pro fissionais). Estas foram também subdivididas pelos campos de apli cação encontrados freqüentemente no período: educação, traba lho, clínica, ou de âmbito geral. Além disso, fez-se um levantamen to da distribuição geográfica das produções, e, quando diretamente relacionadas a instituições, foram elas organizadas por sua nature za privada ou pública. 6 Os dados aqui apresentados baseiam-se na pesquisa Quadro de Referências sobre a Psicologia no Brasií, realizada por um grupo de doutorandos e mestrandos do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação, da PUC/SP, sob a coordenação da autora deste artigo. Foram colaboradores dessa pesquisa: Alessandra Argolo Maruto, Ana Cristina G. Teixeira Arzabe, Carmem Rotondano Taverna, Eveline Bouteiller Kavakama, Jane Persinotti Trujillo, Lilia Midori S. P. Santos, Maria de Fátima F. de O. Peruchi, Regina C. Norkus, Rita de Cássia Maskell Rapold, Sandra Regina de Souza Pesce, Sílvia Mendes Pessoa e Sonia Regina Bueno. A parte referente ao período 1 9 3 0 -1 9 6 2 encontra-se publica da em: Psicologia Revista - Revista da Faculdade de Psicologia da PUC/SP [ 1999, pp. 9 7 -1 3 2 ). 7 Foram consideradas como obras-referência, nessa pesquisa, entre outras mais específicas, as seguintes publicações: A Psicologia Experim ental no Brasil, de PHnio Olinto; A Psicologia no Brasil; de Annita Cabral; A Psicologia no Brasil e A Psicologia no B rasil nos ú ltim o s 2 5 anos, ambas de Lourenço Filho; A Psicologia no Brasil, d« S im u tl Pfromm Netto; Alotas para uma História dê Psicologia no Brasil
• Dados para um» História dê Psicologia no Brasil, anfíbia d * l u í o P«Mottl, •
- .
.— **'- j*-daAntenloGomai
PMMèi
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
123
Os dados obtidos apontam para o aumento da quantidade de referências encontradas nesse período, significativamente maior que nos períodos precedentes. Além disso, explicita-se claramente a diversificação de realizações, mostrando elementos que caracteri zam o processo de consolidação da área e sua gradativa profissio nalização. É im portante salientar que esses dados não refletem ri gorosamente os fatos ocorridos, uma vez que são tão-somente re ferências encontradas nas obras estudadas, as quais correm o risco de terem sido privilegiadas pelo olhar específico do autor, assim como muitas obras se referem especificamente a determinados au tores, instituições ou regiões. Entretanto, acreditamos que, apesar disso, os dados levantados podem certamente revelar tendências e contribuir para uma visão do período, sendo necessário que se tome cuidado na interpretação destes. Foram encontradas referências8 a: publicações (122); ensino de Psicologia (116); práticas psicológi cas (69); estudos e pesquisas (57), e outras realizações (41), como congressos e criação de entidades representativas da área, entre outras. Seguem-se abaixo algumas descrições sobre essas produções.
Publicações Os dados demonstram que houve uma quantidade substan cial de publicações, ainda que nessa categoria estejam incluídas Indistintamente referências a livros, relatórios de pesquisas ou arti gos em periódicos; no entanto, essa diversidade demonstra que houve preocupação com a sistematização e a difusão do conheci mento, em especial pelos periódicos especializados então criados. Em 1944, foi criado o periódico Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos - RBEP, por iniciativa do INEP - Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Embora fosse esta uma publicação do cam po da Educação, constituiu-se ela num importante veículo de divul gação da psicologia educacional, tendo Arrigo Leonardo Angelini, Helena A n tip o ff e Betti Katzenstein como autores bastante profí cuos. Em seguida, outros periódicos, específicos de Psicologia, sur giram no cenário brasileiro, dentre eles, os A rquivos Brasileiros de Psicotécnica, publicado pelo Instituto de Seleção e Orientação Pro fissional - Isop, da Fundação Getúlio Vargas - FGV. Esse periódico, 1 A i categorias frito l i e flMuamente exclusivas; InoorporadM « •«•Borla.
assim, há referências que foram
124
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
criado em 1949 e publicado até hoje (passou a se chamar Arquivos Brasileiros de Psicologia Aplicada e, atualmente, Arquivos Brasilei ros de Psicologia), foi um im portante veículo de difusão das pesqui sas e aplicações realizadas pelo por esse Instituto, principalmente realizadas sob a liderança de Emilio Mira y Lopez. Em 1949, a So ciedade de Psicologia de São Paulo criou o Boletim de Psicologia. A Revista de Psicologia NormaI e Patológica, do Instituto de Psico logia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Ippuc/SP, inicialmente publicada como Boletim, foi particularmente relevante, não apenas pela diversidade de artigos sobre as diferentes áreas da Psicologia, mas também como im portante órgão inform ativo, que apresentava resenhas de obras e relatos sobre congressos nacio nais e estrangeiros, com farta contribuição de Aniela Ginsberg e Enzo Azzi. Além de outros periódicos, também foram publicados números especiais de Psicologia em periódicos mais gerais, como o Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Os dados demonstram que havia um número razoável de obras de caráter geral, dentre as quais Psicologia moderna, de 1953, or ganizada por O tto Klineberg e contando com a participação de vá rios profissionais, com o: Annita Cabral, Aníbal Silveira, Paulo Sawaia, Cícero Christiano de Souza, Durval Marcondes, Aniela Ginsberg, Betti Katzenstein, Oswaldo de Barros Santos e outros.: Aparecem obras em psicologia social, como Psicologia social ( 1935),. de autoria de Raul Briquet, e Introdução à psicologia social (1952)4 de A rthur Ramos. Muitas são as publicações relacionadas à psico-j metria, relativas à adaptação e à padronização de testes, tais comc as de autoria de Anita Paes Barreto, ou O método de Rorschach (1953), de Cícero Christiano de Souza. Vale registrar que um signl* ficativo número de publicações em periódicos referia-se a essa tej mática. Autores católicos, como Alceu de Amoroso Lima, Teobaldí Miranda Santos, Leonel Franca, frei Damião Berge, padre Paulo Siweck, também produziram obras psicológicas, ora relacionadas a aspectos religiosos, ora de Psicologia geral ou educacional. A EducaçãC ocupa papel privilegiado nas publicações do período, com participai ção de autores como Helena A n tipoff, Lourenço Filho, Isaías Alvea e outros. Essa expressividade aumenta se nesse grupo forem inclufí das as publicações sobre psicologia infantil, por autores come Sílvio Rabelo e Maurício Campos de Medeiros. Deve-se acrescentai que artigos sobre a Psicologia no Brasil já começavam a ser publicai dos ne8se período, como Um decênio de atlvktitíêi no Instituto dê
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
125
Psicologia [de Pernambuco], de Anita Paes Barreto e Alda Campos (1935); La pensée de Ribot dans la psychologie sud-americaine (1939), de Lourenço Filho; A psicologia experim ental no Brasil (1944), de Plínio Olinto e A Psicologia no Brasil, de Annita Cabral, de 1950, o primeiro te xto mais longo e elaborado sobre o tema. Ensino Às publicações seguem as referências ao ensino de Psicolo gia. As Escolas Normais continuaram a ser im portantes fontes de ensino dessa disciplina e, além disso, terreno sobre o qual foram criados os cursos superiores de Educação, geralmente constituídos como seções de Pedagogia das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras - FFCL, que, por sua vez, deram as bases para os primeiros cursos de Psicologia. Foram encontradas várias referências à Esco la Normal de São Paulo, origem da cátedra de Psicologia Educacio nal da FFCL da Universidade de São Paulo. A ela se acrescenta o Instituto Pedagógico, subordinado à Diretoria do Ensino de São Paulo, criado em 1931, sob a direção de Lourenço Filho, com a colabora ção de Noemi Silveira, no qual a Psicologia Educacional fo i ofereci da como matéria de ensino superior; o Instituto de Educação do Distrito Federal, com efetiva participação também de Lourenço Filho, seu catedrático; a Escola Normal da Bahia, com Isaías Alves • Simone Bensabath, cujo curso de aperfeiçoamento de professo res foi base para a seção de Pedagogia e, mais tarde, para o curso de Psicologia da Universidade Federal da Bahia - UFBA. A partir dos anos 30, inicia-se o ensino form al de Psicologia •m cursos superiores, com destaque para as seções de Pedagogia e Filosofia das FFCL. Em São Paulo, com a criação da USP, em 1934, Lourenço Filho foi nomeado professor de Psicologia; essa institui ção criou, pouco mais tarde, na seção de Pedagogia, a cátedra de Psicologia Educacional, incorporando o Laboratório de Psicologia de Escola Normal de São Paulo e nomeando Noemi Silveira sua primeira catedrática, que, em 1954, seria sucedida por Arrigo Angelini. jj, A cátedra de Psicologia na seção de Filosofia da FFCL da USP Ébrlgou Jean Maugué e depois O tto Klineberg, que teve como seus ■lllstentes; A m lÚ I Cabral, Cícero Christiano de Souza, João Cruz Bosta e Anfla^ J É i i fr i. I m 1947, com a salda de Klineberg, Annita jGabral t o r n è t f | | J g j p < l r*tloa. Em 1958, Annita Cabral, Cícero
126
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Christiano de Souza, Aníbal Silveira e Durval Marcondes dariam início ao curso de especialização em Psicologia Clínica. Foi em 1962 que a Congregação da FFCL da USP estabeleceu o currículo pleno do curso de Psicologia. Em 1940, a FFCL Sedes Sapientiae começa a gestar um proje to para form ação de psicólogos. Sob a liderança de madre Cristina Sodré Dória, catedrática de Psicologia Educacional, foi aí instalada, em 1953, uma clínica psicológica e criado um curso de especializa ção em Psicologia Clínica, com duração de três anos, para gradua dos em Filosofia ou Pedagogia. Destaque deve ser dado à figura de sua idealizadora, que foi não apenas uma das pioneiras da Psicolo gia no Brasil e formadora de gerações de psicólogos paulistas, mas também uma com bativa defensora da democracia e dos Direitos Humanos, atividades estas jamais separadas de sua prática psicoló gica e educativa. Em 1946, foi criada a Universidade Católica de São Paulo, um ano depois elevada à condição de Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, na qual Ana Maria M. de Morais foi nomea da catedrática de Psicologia Educacional e da Criança. Nesse mes mo ano, Maria José Peters assumiu a cátedra de Psicologia Educa cional e Orientação Profissional na PUC/SP-Campinas. Em 1950, foi criado o Instituto de Psicologia da PUC/SP - Ippuc/SP, dirigido por Enzo Azzi e contando com a colaboração de Ana Maria Poppovic, diretora da clínica psicológica aí instalada em 1959. Nesse mesmo ano, a Faculdade de Filosofia São Bento, com Enzo Azzi, Aniela Ginsberg, Ana Maria Poppovic e Aydil Ramos, organizou cursos de especialização em psicologia clínica, educacional e do trabalho; em 1962, essa instituição também elaborou e organizou seu curso de graduação em Psicologia. A Faculdade de Psicologia da PUC/SP foi formada com a junção dos cursos da Faculdade de Filosofia São Bento e do Instituto Sedes Sapientiae. Relacionado ao ensino católico, a Companhia de Jesus, em 1941, prescreveu o ensino de Psicologia Experimental. Na Faculda de Pontifícia de Filosofia do Colégio Máximo Anchieta, da referida ordem, o padre Henrique Lima Vaz assumiu o ensino de Psicologia. No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, o Instituto de Psico logia foi um dos pioneiros no ensino dessa disciplina, contando com figuras que posteriormente assumiram essa tarefa nas universida des. A Universidade do Brasil instalou a disciplina Psicologia nos três primeiros anot do curso de Filosofia, tendo NlItCjn Campos como
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
127
seu catedrático de Psicologia e de Psicologia Educacional, cátedra esta assumida, em 1939, por Lourenço Filho. Nilton Campos tam bém lecionou na Faculdade Nacional de Filosofia, a qual contou ainda com os estrangeiros Etienne Souriau e André Ombredane. A Universidade do Distrito Federal teve a colaboração de Etienne Souriau, sendo Plínio Olinto o professor de Psicologia. Em Minas Gerais, Helena A n tip o ff teve participação funda mental na implantação de cátedras de Psicologia em cursos supe riores, criando a cadeira de Psicologia Educacional na Universidade de Minas Gerais e na Escola de Filosofia de Minas Gerais, em 1948, assumida por Pedro Parafita Bessa. Em 1958, a Universidade Cató lica de Minas Gerais instituiu o curso de Psicologia. Na Universidade do Rio Grande do Sul, em 1950, Décio de Souza criou a cadeira de Psicologia no curso de Medicina, tendo sido um dos pioneiros na área nesse estado. Em 1954, a PUC de Porto Alegre deu início ao curso de Psicologia. Também aparecem referências ao ensino de Psicologia em outros cursos superiores: Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (com a presença de Durval Marcondes, Raul Briquet, Aniela Ginsberg, Betti Katzenstein e Lourdes Viegas); Faculdades de Medicina (Rio de Janeiro, com Nilton Campos; Ribeirão Preto, que criou um departamento de Psicologia Médica; Rio Grande do Sul, com Décio de Souza; além de outras); cursos de Enfermagem; Escola Nacional de Educação Física e Desportos (com Nilton Campos); Escola de Economia e Direito (com Plínio Olinto e André Ombredane); cursos de Serviço Social, etc. Órgãos governamentais também patrocinaram cursos espe ciais de Psicologia, como o Departamento de Adm inistração do Ser viço Público - Dasp (com Lourenço Filho e Mira y Lopez); o M inisté rio da Guerra (curso de classificação de pessoal, com programa de Psicologia Aplicada) e a Aeronáutica (que criou uma cadeira de Psi cologia). É indubitável o processo de expansão do ensino de Psicologia no Brasil nesse período, o que demonstra o prenúncio e a criação das bases para os futuros cursos dessa área, expressão da formaçlo profissional do psicólogo em bases institucionais legais.
128
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
A p lic a ç ã o A aplicação da Psicologia aparece em seguida, demonstrando que sua profissionalização vinha sendo gestada com a ampliação cada vez maior de seu campo de atuação, abrangendo a Educação (dando continuidade à tendência do período anterior), a aplicação à organização do trabalho (incluindo diversas instituições que deman davam os serviços prestados pela Psicologia) e a clínica (que esbo çava sua autonomização em relação à Medicina e que foi aos pou cos conquistando um espaço que se ampliaria significativam ente no futuro próximo). Deve-se destacar que muitas das aplicações à organização do trabalho e à clínica tiveram suas origens em conhe cimentos, práticas e demandas relacionados à Educação. A distribuição das referências por campo de atuação demons tra que, com exceção das produções psicológicas de caráter geral, a Educação é o campo que apresenta a maior quantidade de produ ção, m antendo de certa maneira a tendência já verificada no perío-, do anterior, embora seja evidente a ampliação dos campos de atuação do psicólogo em geral. Isso é reforçado pelo fato de que muitas produções consideradas pertinentes ao campo do trabalho guardam estreita relação com a Educação, sobretudo aquelas rela cionadas à orientação profissional, geralmente tratadas no âmbitoi da orientação educacional, tendo esta última sua base teórica na Psicologia, assim como são desta as técnicas de que se valem, errt especial a psicometria. M uitos foram os trabalhos realizados em Educação, dentre os quais: as atividades realizadas no Serviço de Psicologia Aplicada do) Instituto Pedagógico da Diretoria de Ensino de São Paulo, sob af; responsabilidade de Noemi Silveira; a fundação da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, em 1932, por Helena A n tipoff, inauguran do o atendim ento educacional aos portadores de deficiências em escala mais ampla; a criação de uma "Escola para Anorm ais" no Sanatório de Recife, em 1936, por Ulysses Pernambucano; a fun dação do Inep, no qual foram implantadas seções de seleção e orientação profissional e psicologia aplicada; a instalação da Clínica de Orientação Infantil/Seção de Higiene Mental da Diretoria de Saú de Escolar da Secretaria de Educação de São Paulo, por Durval Marcondes, e a Clínica de Orientação Infantil do Rio de Janeiro, sob a responsabilidade de Arthur Ramos, ambas em 1938. Houve, em 1940, a fUfldaçlo da Fazenda do Rosário, por Helena Antipoff, com
r A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
129
a finalidade de educar crianças da zona rural, além de crianças "ex cepcionais" e "abandonadas", com base num método centrado na atividade espontânea da criança; em 1944, foi institucionalizado o Departamento Nacional da Criança e fundada a Sociedade Pestalozzi do Brasil, e ambas as instituições contaram com a participação ativa de A n tip o ff; em 1 947 foi criado o Instituto de Seleção e Orientação Profissional - Isop/FGV, que se dedicava também à orientação educacional e profissional. Poppovic desenvolveu traba lhos com "crianças abandonadas" no Abrigo Social de Menores da Secretaria de Bem-Estar Social do Município de São Paulo, cabendo aos psicólogos também colaborar no planejamento educacional; foi ela também a responsável, em 1953, pela criação e a organização da Sociedade Pestalozzi de São Paulo; no Ippuc/SP, sob a direção de Poppovic, realizaram-se serviços de medidas escolares, pedago gia terapêutica e orientação psicopedagógica. Muitas das atividades acima relatadas têm interfaces explíci tas com atuações no âmbito do trabalho e da clínica. Além disso, muitas instituições estritamente educacionais desenvolviam traba lhos relacionados à Psicologia. É possível dizer que, ao largo do que vinha ocorrendo especificamente no interior da Psicologia, a Educaç lo continuou sendo um terreno sobre o qual os conhecimentos e a prática psicológica se desenvolveram significativam ente, sobretu do como sustentação teórica da Didática e da Metodologia de Ensi no, bases para a form ação de professores. Esta tendência explicitou-se mais claramente em experiências como as da Escola Experi mental da Lapa e as dos Ginásios Vocacionais em São Paulo; além disso, o ensino nas Escolas Normais e nos cursos de Pedagogia (durante e depois desse período) dava à Psicologia um significativo tspaço em seus currículos. Outro elemento que se mostra com clareza é o número signi ficativo de referências à aplicação da Psicologia na organização do trabalho. Esse fa to pode ser interpretado como relacionado ao de senvolvimento do processo de industrialização do país, sobretudo num período em geral dominado pela ideologia do "nacional-desenvolvim entism o", caracterizado pela intervenção do Estado na eco nomia, com a meta de substituir importações. Esse fato, de certa maneira, é confirmado pelos dados, pois muitas referências à apliOaçfio da Psloologla ao trabalho ocorreram em instâncias do poder público íprlnnlfitfoantl paio governo federal) ou sob sua influência. Vala reltarar iJfj§§fftaatabelsolda entra Educaçflo a trabalho, pois
130
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
muitas realizações, como já apontado aqui, estiveram diretamente ligadas à orientação profissional, inseridas nas preocupações de cunho educacional, assim como muitos de seus autores tinham sua origem, form ação e dedicação voltadas a essa área. Acrescenta-se I a isso o fa to de que muitas referências dizem respeito também à ] seleção profissional, atividade esta que se revestia de grande J im portância numa estrutura social que se preocupava especial-1 mente com a racionalização do trabalho, uma das bases da "moder-1 nidade", cultuada pelas elites intelectuais, políticas e econôm icas! brasileiras. I Uma das figuras mais relevantes na aplicação da Psicologia à s l questões do trabalho foi Roberto Mange, figura não apenas pionei^l ra, mas também um de seus maiores divulgadores e formadores d en novos quadros na área. Foi ele pioneiro no uso de testes para fin s * de seleção de pessoal, com o trabalho realizado no Liceu de Artes â l Ofícios de São Paulo, na década de 1920, utilizando-se dos testes* de Giese. Realizou estudos e estendeu para vários setores a aplicaM ção da Psicologia, incluindo a implantação da área no Idort (com m colaboração de Aniela Ginsberg e Betti Katzenstein); criou o CentrÆ Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional - CFESP, um dos cenÈ tros de difusão da psicologia industrial; criou a Comissão de Psicojl técnica da Associação Brasileira de Engenharia Ferroviária, assinjl como o Boletim de Psicotécnica da referida associação; im planto® o Serviço de Psicotécnica e respectivo laboratório no Serviço NaÊ cional da Indústria - Senai e no Serviço Nacional do Comércio M Senac, neste últim o com a participação de Leon W alther. fl Outra figura de particular importância foi Emilio Mira y Lopezl que dirigiu o Isop/FGV, criado em 1947. Aí trabalharam m édicos! psicólogos e estatísticos, foram realizados exames de orientaçãaj educacional e profissional, seleção de pessoal para empresas privai das e públicas, além da produção de pesquisas e formação de espél cialistas na área. Com a assessoria de Mira y Lopez, o trabalha desse Instituto estendeu-se para outros estados, como Bahia e MM nas Gerais. Foi ele um produtivo profissional da Psicologia, tendfl publicado uma vasta obra escrita, participado de m uitos congre® sos, assessorias e consultorias, abrangendo não apenas o Brasltj mas vários outros países da América e da Europa. M uitos dos trabsj lhos que Mira y Lopez criou e implantou exercem ampla influênclj| até hoje, como é o caso da utilização do Psicodiagnóstíco Mfoclné tico - PMK, teste de sua autoria.
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
131
O governo federal e os estaduais foram, direta e indiretamente (como nos casos do Isop/FGV, Senai, Senac, etc.), incentivadores, produtores e usuários dos serviços prestados pela Psicologia. Isso pode ser visto nas realizações a seguir: instalação de um setor de seleção profissional, em 1936, pela Comissão do Serviço Público Civil, do governo federal; em 1938, o Dasp instalou uma divisão de seleção de pessoal, com participação de Lourenço Filho; o Instituto de Psicologia, no Rio de Janeiro, realizou serviços de seleção de diplomatas e de candidatos aos postos de escritório para o Instituto de Previdência e Assistência Social; o M inistério da Marinha criou um serviço de seleção psicotécnica naval; a Estrada de Ferro Cen tral do Brasil instalou um serviço de seleção profissional, em 1939; a Estrada de Ferro Central do Brasil instalou um serviço de seleção profissional em 1939; em São Paulo, a Polícia M ilitar criou um ser viço de psicotécnica e, em 1952, foi criado o Centro Coordenador das Atividades de Orientação, que deveria coordenar as diversas Instituições de orientação profissional. Além disso, o Setor de Psicologia Aplicada da Faculdade de Ciências Econômicas e Admi nistrativas da USP realizou pesquisas e projetos de intervenção em processos de seleção. Os dados demonstram uma preponderância de instituições í públicas na base das atividades desenvolvidas em Psicologia. No \ C|Ue diz respeito a esse aspecto, sem dúvida a investida estatal í iparece com ênfase na organização do trabalho, pela seleção e j Orientação profissional; deve-se reiterar que o número poderia ser l maior se fossem consideradas como públicas algumas instituições Como Senai e Senac, financiadas parcialmente pelo poder público. Mais uma vez, a relação entre as diretrizes estabelecidas pela polí tica econômica, de caráter nacional-desenvolvimentista, em busca do incremento do processo de industrialização e da racionalização dê sua administração, veio encontrar na Psicologia um cabedal de ; Conhecimentos úteis para seus propósitos, além de mais uma vez ! demonstrar a presença direta e marcante do estado na economia e nos meios para sua efetivação, na medida em que investia diretai mente no desenvolvimento de uma área de saber que lhe proporl lionava um conjunto de técnicas e conhecimentos necessários para I t concretização de seus projetos. Bi A maioria dat referências no campo da clínica situa-se mais Eto final do período* éimonetrando que essa modalidade de atuação ■ mala r e c e n ta .||M ||^ la da Psicologia no Brasil.
132
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Uma parte das realizações no campo da clínica está relaciona da à Medicina, sem que a Psicologia apareça de maneira explícita como área autônoma de conhecimento; em outras palavras, sua presença mais se aproxima da idéia de que é ela um aporte ou elemento subsidiário da área médica. Nessa perspectiva dominada por médicos, podem ser destacadas as seguintes realizações: em 1932, a Liga Brasileira de Higiene Mental propôs ao M inistério da Educação e Saúde Pública a presença obrigatória de gabinetes de Psicologia em clínicas psiquiátricas e, em 1936, foi criado o Labora tório de Biologia Infantil, sob a direção de Leonídio Ribeiro, cujas ; finalidades eram estudar os determinantes físicos e mentais da cri minalidade juvenil e desenvolver técnicas para seu tratam ento. Essa idéia é reforçada pela resistência dos médicos, mais tarde, à regula mentação da profissão de psicólogo com atribuição clínica, além de outras investidas posteriores. M uitas das primeiras realizações que podem ser consideradas como eminentemente do campo da psicologia clínica tiveram sua origem em preocupações de natureza educacional. Dentre estas, os ’ já citados serviços de orientação infantil, sob a direção dos m édicos; Durval Marcondes e Arthur Ramos, respectivamente, com a finali dade de atender crianças que apresentavam problemas escolares; embora vinculados às demandas educacionais, esses serviços po dem ser considerados como iniciativas de caráter clínico. Numa perspectiva de natureza bem mais próxima à Psicologia, foi criado* em 1946, o Centro de Orientação Infantil, do Departamento Nacio-nal da Criança, subordinado ao M inistério da Educação e Saúde Pública, com serviços de psicologia clínica, contando com a colabo-* ração de Helena A n típoff, Mira y Lopez e Reba Campbell. O mesmo pode ser afirmado a respeito da Clínica Psicológica do In stitu toj Sedes Sapientiae, em cuja origem estava a preocupação também com o atendim ento de crianças que apresentavam problemas esco lares. Nessa linha, podem ser incluídos os trabalhos de Ana Maria Poppovic, dentre os quais: sua atuação no Abrigo Social de Meno res, tendo como tarefa a realização de psicodiagnósticos; o traba lho na Clínica Psicológica da Sociedade Pestalozzi de São Paulo; sua participação na instalação da Clínica Psicológica do Instituto de Psicologia da PUC/SP, a qual, a convite de Enzo Azzi, ela viria tam bém a dirigir. Acrescenta-se a isso que, em 1956, foram criadaa clínicas p8icológicaã pela Prefeitura de São Paulo.
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
133
É im portante notar que as atividades clínicas empreendidas por profissionais form ados na área da Educação constituíram-se nas principais bases para o ensino de Psicologia tendo em vista a formação clínica, e as instituições que acolheram essas atividades foram as bases para o enraizamento desse campo de atuação em nossa realidade. Aqui, mais uma vez, fica patente a presença mar cante da Educação no processo de desenvolvimento da Psicologia no país, uma vez que demandas educacionais estiveram no cerne daquilo que viria mais tarde a constituir-se como campo específico de atuação do psicólogo, assim como seus desdobramentos em formas variadas de intervenção. E stu d o s e p e sq u isa s No que se refere à pesquisa, a presença da Educação é tam bém bastante significativa, reforçando a tendência demonstrada em outras modalidades de produção da Psicologia no Brasil. Nesse pla no, podem ser destacadas as seguintes instituições, as quais se dedicaram à pesquisa em psicologia educacional: Instituto de Edu cação do Rio de Janeiro; Escola de Aperfeiçoamento de Professo res de Belo Horizonte; Isop de Recife; Laboratório de Psicologia Educacional do Instituto de Educação (evolução do Instituto Peda gógico de São Paulo); Núcleo de Pesquisas Educacionais da Munici palidade, no Rio de Janeiro; Instituto Nacional de Surdos-Mudos; Instituto de Educação de Porto Alegre; Escola Normal da Bahia e Universidade da Bahia; Escolas Normais do Estado de São Paulo e Centros Regionais de Pesquisas Educacionais - CRPE; que se so mavam ao que se produzia nas universidades, por suas cátedras de Psicologia. As pesquisas relacionadas às questões do trabalho estavam muito articuladas às finalidades de aplicação prática mais imediata, envolvendo em geral estudos sobre seleção e orientação profissio nal. Mais uma vez, Roberto Mange e Mira y Lopez aparecem com destaque nesse campo, assim como as seguintes instituições: Es trada de Ferro Sorocabana, Senai; Senac; CFESP; Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo; Dasp; Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da USP - Setor de Psicologia Aplica da e leop/FGV. Num» paP#|Matlva mais geral de Psicologia, podem ser lem-
brados o tnitfà n è Ü Pltooiogla, herdeiro do Laboratório da Colônia
! 134
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
de Psicopatas do Engenho de Dentro; o Instituto de Psicologia da PUC/SP; e a cátedra de Psicologia da seção de Filosofia da FFCL da j Universidade de São Paulo. É im portante sublinhar que, em 1950, a Psicologia fez-se pre sente na Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC; o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi- j co e Tecnológico - CNPq concedeu, em 1952, a primeira bolsa d e i pesquisa em Psicologia; e, em 1953, Joel Martins escreveu uma| tese sobre neurose experimental em ratos, a primeira em psicologia experimental. Vale dizer também que muitas referências a estudosj e pesquisas com testes foram identificadas. E ventos e e n tid ades c ie n tífic a s e p ro fis s io n a is t Seguem-se as referências a eventos (congressos, e n co n tro s,* etc.) e a criação ou atividades desenvolvidas por associações/enti-j* dades científicas ou profissionais, que apareceram mais fre q ü e n te * mente no final do período estudado. Não há dúvida de que taiaÊ dados demonstram o desenvolvimento e o amadurecimento da P s * cologia enquanto ciência e profissão no Brasil, não apenas por d e w monstrar o grau de organização dos profissionais que exerciam a t i f l vidades nesse campo, mas também porque tais fatos sustentam-s j i ;
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
143
de resposta a inúmeros problemas, inicialmente em seus campos tradicionais - educação, trabalho e clínica - , ensaiando e implan tando mais tarde novas modalidades de intervenção, como foram a psicologia com unitária, a psicologia hospitalar e a psicologia jurídi ca, entre outras, que viriam a se consolidar e ampliar sua capacida de de responder às demandas antes não atendidas e a outras acar retadas por problemas sociais então emergentes. A isso articulada, e em função também de um desenvolvimen to relativamente autônomo, a produção de conhecimento em Psico logia expandiu-se m uito, sobretudo com a implementação dos cur sos de pós-graduação, que, apesar da escassez de recursos, conse guiram se impor não apenas quantitativa mas também qualitativa mente, produzindo um acervo de conhecimento original e criativo. A carência de investimentos em pesquisa no Brasil, sobretudo nas Ciências Humanas, associada à complexidade de nossa realidade e a seus múltiplos problemas, constituiu-se em condições fundamen tais para que a originalidade e a criatividade se tornassem caracte rísticas marcantes do modo de se produzir conhecimento em Psico logia, não apenas relacionadas à pluralidade de aspectos de seu objeto de estudo, mas também à adoção de diferentes perspectivas do olhar sobre eles. Houve um incremento da qualidade de ensino com a expan são da pós-graduação, embora de forma heterogênea, pois a articu lação entre ensino e pesquisa não se constituía em regra para todas as IES, ficando limitada às instituições que garantiam as condições de trabalho necessárias para a efetivação do princípio de indissociabilidade entre difusão e produção de conhecimento. O mesmo pode ser dito em relação à extensão, que muitas dessas instituições reduziam à necessidade específica e restrita do ensino, isto é, ao estágio supervisionado, e não a um projeto de coletivização e ex tensão para a comunidade do saber produzido pela universidade. Entretanto, muitas IES produziram trabalhos significativos e rele vantes articulando ensino, pesquisa e extensão, tendo sido estes um dos mais im portantes terrenos para o desenvolvimento da Psi cologia em várias de suas manifestações, seja como ciência, seja como profissão. A realização de congressos tornou-se uma prática regular, ocorrendo enoontroa gerels da área ou encontros por temas, abordagena ou OMP0QI da atuaçBo específicos. Dentre os encontros da área, d ev en rajU H H O T , por antiguidade a regularidade, as reunlõea
144
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
anuais realizadas na USP-Ribeirão Preto, hoje com organização da Sociedade Brasileira de Psicologia - SBP. A participação da Psicolo gia em congressos científicos mais amplos foi marcada sobretudo por sua presença na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên cia - SBPC, na qual vale a pena destacar o papel desempenhado por Carolina Bori, que foi membro de sua diretoria, presidente da entidade e, hoje, presidente de honra. Foram criadas outras entida des e associações de diversos campos específicos da Psicologia, as quais se responsabilizaram pela organização de vários eventos cien tíficos. A criação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pes quisa em Psicologia - Anpepp também deve ser destacada, constituindo-se hoje num dos mais importantes fóruns de discussão sobre a produção de pesquisa na área. No que diz respeito à literatura, esse período contou muitas vezes com uma dedicação ímpar de professores, que, dada a precariedade editorial no país, muitas vezes traduziam livros, capítulos de livros e artigos, ou ainda elaboravam apostilas (em mimeógrafos!) para uso dos alunos. Aos poucos, ocorreu um incremento do mercado de publicações, ainda assim baseado em traduções de obras estrangeiras básicas; uma produção editorial mais significati va, incluindo obras escritas por brasileiros, só viria a se concretizar um pouco mais tarde. Como categoria profissional, a Psicologia sofreu grandes trans formações. Antes representada por um grupo pequeno de profissio nais, a expansão do ensino provocou um aumento quantitativo de psicólogos que, como já foi dito, não foi acompanhado pelo merca do de trabalho; esse processo gerou algumas conseqüências, que foram do abandono puro e simples da carreira à defesa corporativa da profissão. Entretanto, outros m ovimentos surgiram daí, buscando-se uma organização mais sólida e crítica. Mas isso é assunto para o item seguinte.
A Psicologia ampiia-se como ciência e como profissão Os fatos anteriormente mencionados trouxeram transform a ções substanciais para a Psicologia no Brasil, o que pode caracteri zar um possível novo momento em sua história. Os problemas anfrantados pela Psicologia podam Mr Ilustra do* palas «Ituaçõas abaixo: precariedade da fo M M M ftfttrao ld a por
I j j j
;
; ] !
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
145
niuitos cursos de graduação, disparidade entre o número de form a dos e o de profissionais atuando de fato na área, em contraposição à carência quantitativa e qualitativa de atendimento às demandas pelo trabalho profissional do psicólogo. Ademais, havia uma produ ção de conhecimento e de modalidades de ação com padrões de excelência, caracterizada pelo desenvolvimento de muitas pesqui sas e projetos específicos de intervenção, que, pioneiramente, apon tavam para o potencial da Psicologia a fim de contribuir na solução de várias das demandas já referidas. Enfim, muitas eram as contra dições que estavam no cerne dos problemas enfrentados pela cate goria, fazendo-se necessário o empreendimento de um movimento amplo que buscasse superar essa situação. Esse m ovim ento foi, e é, heterogêneo, pois há segmentos que tomam a dianteira do processo, outros que respondem mais tardia mente e, claro, outros que resistem. Essa característica não é, po rém, exclusividade da Psicologia no Brasil, mas condição do próprio processo histórico, que nunca é homogêneo nem ocorre em bloco. Assim, por ocasião da virada dos anos 70 para os anos 80, momento esse caracterizado pelo renascimento dos movimentos sociais, algumas iniciativas começaram a despontar, pontuais no início, mas que foram aos poucos se ampliando. A defesa da Psico logia como ciência e como profissão foi gradativamente ganhando contornos que superavam o corporativismo, buscando uma ampla participação da categoria na discussão dos problemas que a envol viam, mas que não poderiam ser limitados à mera defesa de interes ses intrínsecos a ela. Sua compreensão implicava uma articulação com a realidade social como um todo e, fundamentalmente, com o estabelecimento de um compromisso radical com ela. Era necessá rio, antes de tudo, adm itir a ampliação da categoria e trazê-la para uma participação efetiva em seus órgãos representativos, ou, em outras palavras, fazia-se necessário que esses órgãos passassem a representar a maioria dos psicólogos. Nesse aspecto, há que se considerar as mudanças ocorridas nas orientações dos Conselhos Regionais de Psicologia - CRP, Conselho Federal de Psicologia CFP, Sindicatos de Psicólogos e, mais tarde, já produto dessas mudanças, a criação da Federação Nacional dos Psicólogos Fenapsi. Vale lembrar que esse movimento começou a se materiali zar em S lo Paulo, mais precisamente a partir de uma histórica reu nião ocorrida l>0 Inatltuto Sedes Sapientiæ, com o apoio de madre C ristin a9«D éftò fla,
146
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
A questão a ser enfrentada não era propriamente a defesa do mercado de trabalho, mas a busca de respostas às demandas so ciais que se impunham. Nesse contexto, a questão ética passava a ser central, devendo ser enfrentada não mais como estritam ente de âmbito da ética profissional, mas fundam entalmente de ética so cial. Impunha-se a necessidade de construção e reconstrução de uma Psicologia enraizada e comprometida com sua realidade. Para isso, era necessário também produzir novos conhecimentos e no vas formas de intervenção, difundi-los e torná-los parte da form a ção do psicólogo. Ora, isso implicava um m ovim ento amplo, que deveria contar com os vários segmentos da área: conselhos, sindi catos, associações, universidades, instituições várias e, sobretudo, o envolvimento da categoria. Como já foi dito, além das entidades, cabia à Universidade uma im portante tarefa nesse processo. Sua participação foi subs tancial para o engendramento dessas transform ações. Mais parti cularmente, alguns setores ligados à pesquisa e à busca de novas formas de intervenção contribuíram sobremaneira para a construção de novas concepções em Psicologia. A busca de um conhecimento com prom etido com os problemas sociais abriu um campo vasto para a ampliação do olhar sobre o fenômeno psicológico, levando não só à busca de novas teorias, categorias e conceitos, bem como de novas bases metodológicas para a pesquisa na área, as quais deveriam dar conta da complexidade de seu objeto, mas também à construção de novas práticas que pudessem responder melhor aos desafios que se impunham à Psicologia. É uma tarefa difícil ilustrar esse processo, pois muitos são os grupos que para isso contribuíram; mas, para efeito de ilustração, vale a pena lembrar a criação da Associação Brasileira de Psicologia Social - Abrapso, no início dos anos 80, que congregou psicólogos das várias regiões do país, os quais tinham como principal linha de ação a construção de uma nova maneira de se fazer Psicologia por meio da discussão e da socialização de conhecimentos e práticas. Esse processo não ocorreu sem sofrer resistências acadêmicas, mas se fortaleceu ao longo do tempo, sendo a Abrapso hoje composta por um grupo amplo de psicólogos e de outros profissionais interes: sado8 em fazer da Psicologia uma área de conhecimento e um cam* po de açfio articulados a comprometidos com a transformação da aooladada. Embora tanha sa avltado citar nomaa ralaclonados aos
tampos mais raoantaa, nlo é posslvsl deixar da lüftlrar o papal qua
j j j j I 1 | I
I j
j !
j
*
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
147
desempenhou Sílvia Lane nesse processo, com a colaboração e a participação de um sem-número de profissionais das várias regiões do país, além do contato com estrangeiros, com quem foram esta belecidos intercâmbios que produziram ricas possibilidades de avanço da área. Destes, podem ser citados, dentre muitos outros, Ignacio Martin Baró, Maritza Montero, Fernando Gonzalez-Rey e Karl Scheibe. As transform ações da Psicologia se manifestam mais clara mente no âm bito da ampliação de seus campos de intervenção. Para as primeiras gerações de psicólogos formados pelos cursos específicos de Psicologia, as opções por campo de atuação lim ita vam-se praticamente àquelas que se consolidaram nos anos que precederam a regulamentação da profissão; entretanto, já nos anos 70, começavam a aparecer modalidades de intervenção que, à cus ta de muito esforço, apontavam possibilidades efetivas de interven ção psicológica. Segue abaixo descrição de algumas realizações que podem ilustrar esse processo. Nessa época, a atuação de psicólogos em hospitais começava a se efetivar. Aos poucos, e à base de um incansável trabalho (não apenas no que se refere ao próprio campo de ação, mas também no que diz respeito à tentativa de convencer os demais profissionais da possibilidade efetiva de intervenção da Psicologia nesse âmbito), alguns profissionais demonstravam, por sua atuação, que vários setores hospitalares poderiam usufruir desses serviços, ampliando seu raio de ação e, principalmente, estendendo os benefícios da Psicologia a pessoas que até então tinham negadas algumas de suas necessidades humanas fundamentais. Assim, os então profis sionais da saúde (hoje o psicólogo é considerado também como tal) e sobretudo seus usuários começaram a reconhecer a potencialida de e a necessidade da Psicologia nesse campo. Mais do que isso, a Psicologia estende-se hoje para muito além da intervenção hospita lar, tendo presença marcante em diferentes setores da assistência à saúde e participação significativa no âmbito da pesquisa na área. A Psicologia era considerada até pouco tempo como um cam po de ação estritamente urbano (exceção deve ser feita ao trabalho pioneiro de Helena A n tip o ff com educação rural). Entretanto, sua preocupação com os m ovimentos sociais, seja no plano da pesqui sa, seja no da intervenção, veio mostrar, dentre várias outras pos sibilidades, que a Psicologia possui um potencial efetivo de traba lho, tanto nas regiões urbanas como nas rurais. Isso se demonstra •m perspectives várias de eçlo, como aquelas que atuam com
148
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
assentamentos de sem-terra, tribos indígenas, mutirões, etc. Tam bém deve ser lembrado que, nessa área, trabalhos realizados com grupos vitim ados por preconceito e intolerância - tais como mulhe res, negros, gays e lésbicas, pessoas portadoras de deficiências são de relevância não apenas profissional e acadêmica, mas sobre tudo social. Nessa perspectiva, deve-se sublinhar a importância his tórica da psicologia comunitária, que pode ser considerada como uma das expressões pioneiras da ampliação dos campos de ação da Psicologia, especificamente voltada para o atendimento de segmen tos da população antes alijados dos benefícios que a Psicologia poderia lhes proporcionar. A psicologia jurídica surgiu com uma proposta de superar e estender seus serviços para além daquilo que era realizado pelos peritos-psicólogos, procurando criar um modelo de ação alicerçado no atendimento às necessidades psicológicas e no encaminhamen- i to de crianças assistidas pelas então denominadas Varas de Meno- j res, o qual foi, posteriormente, requisitado também pelas Varas de Família. A isso se deve acrescentar a intervenção da Psicologia em casos de violência sobre crianças e adolescentes; em instituições i totais, como presídios; ou ainda sua im portante participação no : m ovim ento antimanicomial. ! É possível dizer que as críticas feitas à Psicologia pela própria Psicologia foram os mais substanciais fatores para sua superação, 0 que pode ser ilustrado pelo aumento quantitativo e qualitativo dôi sua produção, abrangendo a pesquisa, os campos de aplicação, o ensino, as publicações, as entidades representativas, os congres sos, atividades essas que, sem dúvida, contribuíram para que séí possa dizer que elas forjaram um possível novo momento histórico da Psicologia no Brasil. Além disso, é importante a reflexão sobre as relações entre a Psicologia e questões mais gerais, especificamente aquelas de na tureza epistemológica. As grandes discussões epistemológicas, hoje, fazem referência constante à crise do conhecimento, pautada pelas rígidas demarcações entre as áreas de saber, e à negação da com plexidade dos fenômenos, em busca de leis explicativas gerais. Essa tradlçflo tem suas raízes na emergência da ciência moderna, com Gallleu e Newton, acrescida da influência de Descartes (com partly culsr Influência sobre a Psicologia, especialmente por «eu dualismd Intsrsclonlsta relativo è questão mente-corpo) • levada ès últimai
ooneeqüènolaa pela tradtçlo positivista. Imtoort essa tradlçlo
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
149
persista, talvez na maior parte da produção psicológica (e da ciên cia em geral), é possível dizer que a Psicologia tem avançado muito na superação dessa perspectiva, sobretudo ao assumir uma con cepção transdisciplinar (que admite e afirma a necessidade de trân sito pelos diferentes campos disciplinares), considerando-se que a compreensão do fenômeno psicológico concreto transcende os li mites de seu objeto de conhecimento e exige o trânsito por outras áreas de saber que dão conta da multiplicidade de fatores que o integram, pois sua redução aos próprios limites a faz permanecer no plano da abstração, abortando a finalidade de sua compreensão. Ademais, fica cada vez mais explícito o fa to irreversível da atuação m ultiprofissional (como a coexistência de m últiplos profis sionais contribuindo naquilo que lhes cabe para cum prir determina das finalidades), em favor da qual diferentes profissionais devem atuar conjuntam ente no plano da intervenção sobre a realidade. Deve-se reiterar que, ao adotar essa concepção, torna-se um contrasenso qualquer defesa corporativa da profissão, pois o que deve mover o trabalho da Psicologia não pode ser a defesa do mercado formal de trabalho, mas a possibilidade de contribuir para o enfrentamento dos grandes (e pequenos) problemas que assolam a humani dade, que na sociedade brasileira não são de forma alguma menores. Essa discussão extrapola os limites e os objetivos deste texto, mas é im portante dizer que tais questões devem ser cuidadosamen te pensadas para cada uma das manifestações da Psicologia. Den tre tantos aspectos, deve-se sublinhar a importância da formação do psicólogo, que, se se furtar a uma sólida e ampla base teórica em Psicologia, fundamentalmente articulada às áreas afins, assim como a absoluta necessidade de articulação com a realidade social e prática, pouco se avançará nesse processo já iniciado de constru ção de uma Psicologia capaz de compreender o fenômeno psico lógico em sua complexidade e pluralidade e sobre ele intervir efeti vamente. Para finalizar, deve-se reiterar que a pluralidade da Psicologia contemporânea no Brasil é tal que seu perfil só poderá ser visto mais nitidam ente com o passar do tempo. 0 que está aqui exposto nada mais é do que uma viagem panorâmica que certamente con tém a perspectiva particular da autora; por esse motivo, não há •qui a pretensio de expor um quadro completo e que dê as diferente i e possíveis Interpretações para o processo, nBo sendo esse item nada mala do qua uma reflexlo aobro a atualidade da Raloologla no
150
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
Brasil. De qualquer maneira, é necessário que a Psicologia exerça sua função de pensar-se a si própria, isto é, ser também objeto de estudo da Psicologia.
Referências bibliográficas ALVES, Isaías (1927) Teste individual de intelligencia. Salvador, Officinas Graphicas da Luva. ALVES, Isaías (1930). Os testes e a reorganização escolar. Salva dor, Nova Graphica. ANTUNES, M. A. M. (1991 ). O processo de autonomização da Psi cologia no Brasil - 1890/1930: uma contribuição aos estudos em História da Psicologia. São Paulo. Tese de doutorado. São Paulo - Psicologia Social, PUC/SP. ____ (1999a). A Psicologia no Brasil: leitura histórica sobre sua constituição. São Paulo, Educ/Unimarco. ____ (1999b). Processo de autonomização da Psicologia no Brasil. Psicologia e Sociedade, v. 11, no. 1, jan./jun. ____ Psicologia e Educação no Brasil: idéias que antecederam a sistematização do escolanovismo no Brasil, (no prelo). ANTUNES, M. A. M. (coord.). Quadro de Referências sobre a Psico logia no Bras/1. São Paulo, Programa de Estudos Pós-Gradua dos em Educação: Psicologia da Educação, da PUC/SP. ARZABE, Ana Cristina Teixeira (2000). Memórias de professores: um estudo sobre a implantação de um curso de Psicologia em São Paulo na década de 70. São Paulo. Dissertação de Mes trado - Psicologia da Educação, PUC/SP. BARRETO, Anita Paes e CAMPOS, Alda (1935). Um decênio de atividades no Instituto de Psicologia (Pernambuco). BRIQUET] Raul C. (1935). Psicologia social. Rio de Janeiro, Francis co Alves, 1935 CABRAL, A. C. M. (1950). A psicologia no Brasil. Psicologia Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, v. 119, n. 3, pp. 9-51. CARVALHO, Francinete Maria Rodrigues (1997). Reconstruindo e história do curso de Psicologia da Universidade Federal do Paré. São Paulo. Dlasartaçlo de Mestrado - Psicologia da Educaçio, PUC/SP, , ,
A PSICOLOGIA NO BRASIL NO SÉCULO XX
151
CARVALHO, Oscar Freire de. Etiologia das formas concretas da religiosidade do norte do Brasil. CASTRO, Veríssimo Dias de (1890). Das emoções. Rio de Janeiro, Tip. de "O Comércio". KLINEBERG, O tto (org.) (1953). Psicologia moderna. São Paulo, Agir. LOURENÇO FILHO (s. d.). "A Psicologia no Brasil". In: AZEVEDO, Fernando (org.). A s ciências no Brasil. São Paulo, Melhora mentos, s. d. (1954), v. II. Republicado em: A rquivos Brasilei ros de Psicologia Aplicada, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, pp. 41-53, set. 1971. MARTINS, Joei (1953). Ensaio da indução dos com portamentos neurotiform es em ratos brancos através da aprendizagem. São Paulo. Tese de Doutorado - Instituto de Psicologia da Univer sidade de São Paulo. OLMOS, Jozélia Regina Diaz (1999). História e memória do curso de Psicologia da Universidade de M ogi das Cruzes. São Paulo. Dissertação de Mestrado - Psicologia Escolar, Universidade de São Paulo. PESSOTTI, I. (1988). "Notas para uma história da psicologia brasi leira". In:. CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Quem é o psicólogo brasileiro? São Paulo, Edicon, Educ. PESSOTTI, Isaías (1975). Dados para uma História da Psicologia no Brasil. Psicologia. Ano 1, n.1, maio. PFROMM NETO, S. (1979). "A psicologia no Brasil". In: FERRI, M. G. e MOTOYAMA, S. (orgs.). História das ciências no Brasil. São Paulo, Edusp/EPU. v. 3, pp. 235-276. PSICOLOGIA REVISTA - Revista da Faculdade de Psicologia da PUC/SP (1999). São Paulo, Educ/Fapesp, ano 8, pp. 97-132, maio. QUAGLIO, Clemente (1911). Compêndio de Paidoiogia. São Paulo, Typ. Siqueira. ____ (1913). Educação da infancia anormal de intelligencia no Brasil. RAMOS, A rthur (1952). Introdução à psicologia social. 2.ed. Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil. RAPOLD, Rita de Cássia Maskell (1999). Uma contribuição para a Historia da Psicologia no Brasil: o curso de Psicologia da UFBA, cronologia, memórias e alguns depoimentos (1961-1973). São Paulo. Dissertação de Mestrado - Psicologia da Educação, PUC/SP.
152
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
SAMPAIO DÓRIA, A. S. (1926). Psychologia. São Paulo, Typ. do Instituto D. Anna Rosa. SANTOS, Lilia Midori S. P. dos (1999). Estudo de caso sobre a criação de um curso de psicologia: uma contribuição para a discussão sobre o ensino superior. São Paulo. Dissertação de Mestrado - Psicologia da Educação, PUC/SP. SOUZA, Cícero Christiano de (1953). O método de Rorschach. São Paulo, Companhia Editora Nacional. TAPAJÓS, José Estelita (1890). Psicofisiologia da percepção e das representações. TRUJILLO, Jane Persinotti (1999). Reconstrução histórica de um curso de Psicologia: pensando a formação no ensino superior privado. São Paulo. Dissertação de Mestrado - Psicologia da Educação, PUC/SP.
Mltauko Aparto/da Maklno Antuttê*
Profiiiora do Programa da A É lÉ êi Pda-Graduadoa am Eduoaçlo Paloologla d i Eduoaçlo. da P o n jj^ | Unlvtraldada Católica da 81o Paulo.
VII A C O N S T IT U IÇ Ã O DA IDEN TIDADE DE ALGUNS PROFISSIONAIS QUE A T U A R A M C O M O PSICÓLOGOS ANTES DE 1 9 6 2 EM SÃO PAULO Marisa T. D. S. Baptista
Introdução
Este é um estudo sobre a constituição da identidade do psicó logo na fase anterior à regulamentação, abrangendo aproximada mente o período que se inicia na década de 1920 e vai até 1962. Ele tem um cunho histórico e é realizado pela perspectiva de identi dade enquanto metamorfose (Ciampa, 1990). O objetivo é clarificar como foram se constituindo em São Paulo, antes de 1962, as iden tidades de alguns profissionais que desempenharam atividades no campo da Psicologia e que poderiam ser considerados pioneiros em sua introdução na nossa realidade social, assim como os contextos nos quais eles circulavam. A necessidade de compreender o processo de constituição da Identidade do profissional em Psicologia antes da regulamentação da profissão se justifica, porque o fato de serem formados em uma área e depois se dedicarem profissionalmente à outra mostra a ocor rência de um m ovim ento de transformação de identidade, ou seja, 0 processo que Ciampa (1 990) denomina "m etam orfose". Ademais, 1 existência dessa metamorfose nos leva a crer que houve, no contsxto da época, uma abertura que possibilitou e permitiu essas transformações. Nesse sentido, torna-se também fundamentei verificar
154
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOS
quais foram as instâncias sociais propiciadoras dessa abertura, quais':i grupos existentes no país e no exterior serviram de referência para'; as transform ações, bem como os tipos e espaços de discussões; que permitiram novas reflexões. Devido a essas questões, este texto se inicia com uma apre-i sentação dos espaços que permitiram, nesse período, o floresci-i mento das idéias psicológicas em São Paulo e, posteriormente, ana-< lisa dois cursos ligados à Universidade de São Paulo que introduzN ram a Psicologia em seu currículo, além da constituição da identida* de de seis profissionais ligados a eles e considerados pioneiros.
O flo re sc im en to das idéias psicológicas em S ão Pauld
Desde a década de 1920, a Psicologia esteve presente e n j vários espaços da cidade de São Paulo. Os mais significativos f o i ram os núcleos institucionais de formação: a Escola Normal C aetal no de Campos; a Universidade de São Paulo, através da Faculdada de Medicina, do Instituto de Educação, da Seção de Educação e d a Seção de Pedagogia, do Curso de Filosofia; a Faculdade S e d e i Sapientiæ, através da Seção de Pedagogia; e a Faculdade São B entol também através da Seção de Pedagogia. fl Foram igualmente localizados vários núcleos institucionais d a exercício da psicologia aplicada: Liceu de Artes e Ofício; Estrada d a Ferro Sorocabana; Escola Técnica Getúlio Vargas; Senai (Serviça Nacional de Aprendizagem Industrial); CMTC (Companhia M etropola tana de Transportes Coletivos); Setor de Psicotécnica da FaculdadÉ de Economia e Administração da Universidade de São Paulo - USra| Serviço de Saúde Escolar e Seção de Higiene Escolar, relacionados jfl Secretaria de Educação e Saúde Pública; Departamento de Ensina Profissional. Esses núcleos de exercício profissional tinham comdl objetivos a seleção e o treinamento de pessoal. Seus participantes eram preparados para exercer os papéis de psicometristas, psicólo»! gos clínicos, higienistas mentais e técnicos de seleção de pessoal. ,| Em 1924, Roberto Mange inaugurou um serviço de seleçãd de alunos no Liceu de Artes e Ofícios (ajudado por Henri Pièron a sua esposa). Em 1 93 0 , essa experiência foi transplantada para ■ Estrada de Ferro Sorocabana, Inicialmente com a função de seleçta a orientação de pessoal. A m ilp a se ampliou e, em 1932, Robarti
A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DE ALGUNS PROFISSIONAIS
155
Mange passou a contar com a colaboração de ítalo Bologna; em 1933, com a de Aniela Ginsberg; em 1934, com a de Betty Katzenstein Schõenfeldt; em 1937, com a de Oswaldo de Barros Santos; e, no início da década de 1940, com a de Arrigo Leonardo Angelini. As atividades também se ampliaram e eles passaram a efetuar treinam ento, seleção, avaliação de desempenho, análises profissiográficas, tradução e validação de testes. Em 1934, essa experiência permitiu a esse grupo se engajar na criação de um Cen tro Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional, assim como organi zar o Idort - Instituto de Organização Racional do Trabalho. Poucos anos depois (1937), Roberto Mange e Oswaldo de Barros Santos organizaram um gabinete de psicotécnica na Escola Técnica Getúlio Vargas, idéia transplantada para o Senai, criado em 1942, e ampliada em 1945, quando implantaram a Orientação Vo cacional nos cursos vocacionais. Em 1947, organizaram o Serviço de Pesquisa e Orientação no Departamento de Ensino Profissional do Estado de São Paulo. Em 1941, a mesma estrutura foi implanta da na CMTC e, em 1950, na Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Nessa mesma época foi criado, no Instituto de Administração da Faculdade de Economia e Administração da USP, um Setor de Psicologia, dirigido por Raul de Moraes. Eugênia de Moraes de A n drade, Jovino Guedes de Macedo e Dulce de Godoy Alves também atuaram nesse serviço. O principal trabalho desse grupo foi desen volver instrum entos de medida para pesquisas. Traduziram, adapta ram e padronizaram vários testes, como, por exemplo: Inventário de Personalidade de R. C. Benreuter; CIA - Teste Coletivo de Inte ligência para A dultos; Inventário de Inteligência de Thurstone; 16PF - Fatores de Personalidade. Segundo depoimentos (Morais, 1999), a biblioteca da Administração tinha a maior quantidade de obras psicológicas da USP no período em que esse serviço foi criado. A seção de Higiene Mental Escolar foi criada na década de 1940 por Durval Marcondes. Helena Moreira e Silva Carmo (Morais, Ibidem), que a partir de 1 954 trabalhou durante dezessete anos no local, descreve o tipo de atividades realizadas pelos profissionais. As crianças eram encaminhadas à Higiene Mental pelas educadoras ■anitárias. As queixas se referiam a repetências, comportamentos de choro, agraaalvldads, roubos. As equipes de atendim ento eram multldlscIplInSMir W m poitas por psicólogas, psicometristas, neu rologistas, .unitárias, fonoaudiôlogas, assistantes pe-
156
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO BRASIL: NOVOS ESTUDOSj
dagógicas, psiquiatras e pediatras, que trabalhavam em conjunta para atendê-las. Eram realizados exames clínicos, raios X. As "psi^ cólogas" e as educadoras sanitárias desenvolviam um trabalho de| formação das professoras primárias para que elas pudessem sabejj como selecionar e encaminhar as crianças. Segundo Helena, as dis| cussões em equipe sobre os casos clínicos eram m uito ricas. \ Outra atividade mencionada eram as avaliações feitas cond as crianças na intenção encaminhá-las para classes especiais. Erani aplicados testes - principalmente o Binet-Simon (na edição de 1 9091 - e efetuadas conversas com os pais e os professores para fechai um diagnóstico. Segundo a depoente, havia sempre uma d ú v id l sobre outros aspectos que deveriam ser vistos, além dos testes, m formação da classe especial era seguida de um acom panham enti pedagógico dos alunos e da professora. Outro tipo de trabalho re la tado por Helena era desenvolvido em "grupos escolares". A equip! m ultidisciplinar se deslocava para uma determinada escola e atei® dia a todos os alunos das escolas da redondeza que necessitasse» do serviço. Procuravam atender prioritariamente a todas as c r ia * ças de 7 anos, bem como às de outras séries que apresentasse* problemas. fl Outro núcleo existente na época era o da Cruzada Pró-lnfâ® cia, que mantinha vários jardins de infância; Betty K atzenstdfl Schõenfeld, segundo depoimento de Margarida W indholz (id e ril ibidem), era quem fazia a avaliação e orientava das crianças q f l freqüentavam essas classes. Utilizando o material obtido nos a te fl dimentos, Betty desenvolveu várias pesquisas. ■ Além desses núcleos, a Psicologia também se fez preserifl nas sociedades criadas com a finalidade de agregar p ro fissio n a | interessados na área. As que se instituíram nessa época foram: f l - A Sociedade Brasileira de Psicanálise (1927), fundada p f l Franco da Rocha, Raul Briquet, Lourenço Filho, Durval M f l condes e Almeida Júnior. Durval Marcondes, que h a vfl mantido correspondência com Freud durante sua fo rm a ç ã * passou a ser o primeiro diretor do Instituto de Psicanálise CÊ São Paulo. fl - A Sociedade de Psicologia de São Paulo (1945), o rg a n iz a * por professores do curso de Filosofia e de Psicologia
![Novos negócios no Brasil [1 ed.]
8577344126, 9788577344123](https://ebin.pub/img/200x200/novos-negocios-no-brasil-1nbsped-8577344126-9788577344123.jpg)