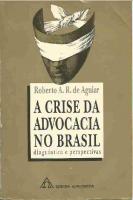Pensando a família no Brasil: da colônia à modernidade 8585114207
364 77 2MB
Portuguese Pages [70]
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Angela Mendes de Almeida
File loading please wait...
Citation preview
P E N S A N D O A FAMÍLIA NO BRASIL
AUTORES
ANGELA MENDES DE ALMEIDA ENI DE MESQUITA SAMARA GILBERTO VELHO KÁTIA MURICY LEILA UNHARES BARSTED MARGARETH DE ALMEIDA GONÇALVES MARIA JOSÉ CARNEIRO ROBERTO DA MATTA ^ S É R V U L O AUGUSTO FIGUEIRA SILVANA GONÇALVES DE PAULA
Angela Mendes de Almeida Historiadora, doutorada em Paris, membro do corpo permanente do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro — CPDA/UFRRJ Eni de Mesquita Samara Doutora em História, faz parte do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanasda Universidade de São Paulo Gilberto Velho Antropólogo doutorado pela Universidade de São Paulo, integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ Kitia Muricy Filósofa com doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde trabalha como professora e pesquisadora do Departamento de Filosofia
Angela Mendes de Almeida (org.) Eni de Mesquita Samara Gilberto Velho Kátia Muricy Leila Linhares Barsted Margareth de Almeida Gonçalves Maria José Carneiro (org.) Roberto Da Matta Sérvulo Augusto Figueira Silvana Gonçalves de Paula (org.)
PENSANDO A FAMÍLIA N O BRASIL DA COLÔNIA A
MODERNIDADE
Co-edição Espaço e Tempo/Editora da UFRRJ Rio de laneiro 1987
© 1987, Editora Espaço e Tempo Ltda. Rua Francisco Serrador, 2 — grupo 604 — Centro Rio de Janeiro — RI — CEP 20.031 Tel.: 262-2011
Capa: Vanja Freitas Ilustração da capa: Rugendas (Família de fazendeiros)
CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte. Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ. P467
Pensando a família no Brasil; da colônia à modernidade / Angela Mendes de Almeida... |et al|. — Rio de Janeiro: Espaço e Tempo: UFRRJ, 1987. Vários colaboradores. ISBN — 85-85114-20-7 1. Família-Brasil. 2. Antropologia. I. Almeida, Angela Mendes de.
87-0357 ISBN — 85-85114-20-7
CDU — 306.8 CDU — 17.023.32(81)
A direção do CPDA sente-se feliz por trazer a público o presente volume, que colige as exposições e sumariza os debates levados a efeito por ocasião do Seminário Pensando a Família no Brasil, realizado em setembro de 1985. O seminário resultou dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos da Família do CPDA. Criado em 1984, o Núcleo abriu uma nova área de debates e pesquisas dentro da instituição, que vê, assim, consolidar-se sua vocação ao trabalho interdisciplinar. Finalmente na oportunidade desejamos agradecer ao Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na figura de seu decano, Prof. Manlio Silvestre pelo apoio dado tanto na realização do Seminário quanto à sua publicação. Rio de Janeiro, abril de 1987 Jorge O. Romano Coordenador do CPDA/UFRRJ
SUMÁRIO
1. Pensando a família no Brasil Vários autores 2. O embuste das dívidas externas — Exportar não é a solução Jacques Dezelin
Apresentação, 9 Introdução, 13 Angela Mendes de Almeida, Maria José Carneiro e Silvana Gonçalves de Paula FAMÍLIA ATRAVÉS DA HISTÓRIA: REPRESENTAÇÕES E PRATICAS, 23 Tendências atuais da história da família no Brasil, 25 Eni de Mesquita Samara Expostos, roda e mulheres: a lógica da ambigüidade médico-higienista, 37 Margareth de Almeida Gonçalves Notas sobre a família no Brasil, 53 Angela Mendes de Almeida FAMÍLIA E CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE, 67 O indivíduo e a sociedade em Machado de Assis, 69 Kátia Muricy Família e subjetividade, 79 Gilberto Velho O papel da psicanálise no entendimento da construção da subjetividade, 89 Sérvulo Augusto Figueira
CRISE DA FAMÍLIA: UMA QUESTÃO DA ATUALIDADE?, 101 Permanência ou mudança? O discurso legal sobre a família, 103 Leila Linhares Barsted A família como valor: considerações não-familiares sobre família à brasileira, 115 Roberto Da Matta
APRESENTAÇÃO
O Núcleo de Estudos da Família, do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola (CPDA), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), veio amadurecendo longamente a idéia de um seminário sobre família. Nosso objetivo era trocar experiências com outros estudiosos da temática, combinando pontos de vista interdisciplinares e alargando dessa forma o leque das questões abordadas e o diálogo entre elas. O Seminário Pensando a Família no Brasil, realizado em 26 e 27 de setembro de 1985, sob o patrocínio do CNPq, teve a seguinte programação: 1. Família e estratégia de sobrevivência Expositoras: Maria Rosilene Barbosa Alvim (IFCS/UFRJ) Beatriz Maria A. de Heredia (IFCS/UFRJ) Maria Coleta F. A. de Oliveira (FAU/USP) 2. Família através da História: representações e práticas Expositoras: Eni de Mesquita Samara (Depto. de História — FFLCH/USP) Margareth de Almeida Gonçalves (CESAP/SBI) Angela Mendes de Almeida (CPDA/UFRRJ) 3. Família e construção da subjetividade Expositores: Gilberto Velho (Museu Nacional/UFRJ) Sérvulo Augusto Figueira (Depto. de Psicologia Social/ PUC-RJ) Kátia Muricy (Depto. de Filosofia/PUC-RJ) 100
4. Crise da família: uma questão da atualidade? Expositores: Leila Linhares Barsted (IDAC/RJ) Roberto Da Matta (Museu Nacional/UFRJ) Desde o início, nossa intenção era também a de transformar o material produzido no Seminário em alimentação para novos debates e alargamento do intercâmbio. Mas considerávamos que essa publicação deveria ao mesmo tempo refletir a contribuição do evento para o amadurecimento do trabalho do Núcleo de Estudos da Família. Nos diversos balanços de avaliação, bem como nos encaminhamentos concretos para a publicação desse material, delineou-se o caráter do conjunto de textos que ora apresentamos. Em primeiro lugar, decidimos publicar as intervenções apresentadas pelos diversos expositores, dando conta na Introdução das questões mais importantes suscitadas no debate entre os expositores e a platéia. Para a publicação das intervenções solicitamos aos próprios autores uma revisão, e isto explica o caráter heterogêneo dos textos, alguns mais coloquiais, outros menos, fruto da opção de cada expositor. Quanto à Introdução, para além da mera transcrição das discussões, tivemos a preocupação de reinseri-las na problemática da pesquisa do Núcleo, dando conta assim da contribuição fornecida pelo debate. Em segundo lugar, em função do caráter que escolhemos para a publicação, bem como de determinações de ordem material, fomos levadas a não incluir nesse conjunto as exposições da primeira mesa temática, "Família e Estratégias de Sobrevivência", uma vez que as questões suscitadas no debate em torno desse tema escapam de certa forma ao perfil dominante nas discussões que se travaram no evento. Nosso objetivo com o Seminário era o de ao mesmo tempo abranger pontos de vista diversos no estudo da família e mostrar quão grande é a gama de abordagens possíveis, e esse objetivo foi conseguido com a inclusão da primeira mesa temática. No entanto, a família vista como articuladora de estratégias de sobrevivência, escapou, de certa forma, à tendência predominante no conjunto das discussões, preocupada essencialmente com a família enquanto es10
trutura fundamental de valores e de mentalidades. Como se verá, as outras três mesas temáticas mantêm entre si muito mais pontos em comum, de modo que se estabeleceram entre os debates alguns fios condutores com continuidade e interligação. Foram estas reflexões que nortearam nossa escolha sobre o caráter da presente publicação. Queremos agradecer o apoio inestimável que nos foi oferecido pelo CNPq, pelo Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESAP)/Cândido Mendes e pelas instâncias dirigentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
11
INTRODUÇÃO
A discussão sobre família, enquanto uma porta de entrada para a compreensão de uma sociedade, começa com o questionamento sobre o significado do termo família e sobre o estatuto teórico que damos a ele. Ou seja, o que pretendemos circunscrever ao definirmos família? Trata-se de um grupo concreto composto por um certo número de pessoas ligadas por consangüinidade ou aliança e que ocupam lugares diferentes numa hierarquia interna de poder e de papéis? Ou trata-se de uma representação social que os diversos grupos e sociedades fazem das relações de aliança e de consangüinidade, sendo, nesse sentido, não uma realidade positiva visível, mas uma realidade simbólica — e portanto construída — que expressa, produzindo, reproduzindo e legitimando valores que transcendem as fronteiras do grupo, uma mentalidade, uma maneira de se situar na vida? É praticamente inevitável discutir a questão do estatuto teórico do termo família sem recorrer aos dados empíricos da realidade. Isto, por paradoxal que possa parecer à primeira vista, não se deve a nenhum recurso discursivo, mas sim à postura de que toda teoria deve dar conta e integrar estes dados. No entanto, a análise do social, em qualquer nível de recorte em que se realize, implica em conjugar os fatos empíricos e os simbólicos, dentro da concepção de que a realidade é constituída por ambos. Além disso, numa sociedade que se percebe historicamente, é importante levar em conta a inserção desses fatos numa perspectiva de grandes períodos históricos, como é feito pelos estudiosos das mentalidades. Falar de família no Brasil implica necessariamente em se remeter a uma formulação já clássica sobre o tema que é a de família patriarcal elaborada por Gilberto Freyre. Em Casali
grande & senzala como em seus livros subseqüentes, Gilberto Freyre delineia o perfil da família patriarcal brasileira no período colonial, e nos períodos posteriores (Sobrados e mocambos). Esse perfil tem sido objeto de várias leituras, dentre as quais, tendo-se em vista o debate sobre o estatuto teórico possível para o termo família, podemos destacar basicamente duas. A primeira leitura do perfil gilbertiano de família patriarcal brasileira reivindica a comprovação dos argumentos de Freyre no sentido de testá-los enquanto válidos para explicar o que poderíamos chamar de organização familiar. Pesquisas históricas sobre o período colonial brasileiro em diferentes áreas do território — particularmente as referentes ao sul — permitem que se argumente contra os dados levantados por Freyre para a elaboração da arqueologia da família brasileira. Isto sugere uma série de questões tais como: qual a abrangência da família patriarcal brasileira para o Brasil como um todo? Pesquisas históricas sobre estratos sociais não dominantes também não parecem encontrar aqueles elementos e personagens utilizados por Freyre para montar o quadro da família patriarcal, o que nos remete a questões como: qual a verticalidade do modelo gilbertiano? Trata-se de um modelo válido apenas para os segmentos dominantes da sociedade brasileira? O que esses trabalhos indicam, é que o modelo de Gilberto Freyre, enquanto modelo de organização familiar, só seria encontrável entre uns poucos senhores de engenho nordestinos todo-poderosos, com as mulheres submissas e preguiçosas em suas redes, as filhas castas, os filhos amamentados e embalados por negras de boa saúde, amados pelas escravas jovens, os moleques, as crias ilegítimas, os agregados, os afilhados, os parentes, os amigos, o padre etc., todos "como se fossem da família". Isto nos levaria a uma relativização do modelo gilbertiano que o transformaria numa crônica de algumas famílias recifenses e um mito para o restante do Brasil colonial. Um mito que, tendo sido construído no contexto das décadas de 20 e de 30 1
Sobre este tipo de abordagem, ver a contribuição de Eni de Mesquita Samara neste volume. 1
15 11
— Casa-grande & senzala é de 1933 — induz-nos a uma outra série de indagações: até que ponto o modelo gilbertiano de família patriarcal não seria uma construção ideológica das primeiras décadas deste século e sem base empírica alguma na história? Tratar-se-ia, então de uma "criação genial" de Gilberto Freyre? Sendo assim, como explicar que a idéia tenha sido tão amplamente aceita por diferentes setores da intelectualidade e da sociedade brasileiras enquanto outras "invenções", como a de sociedade "democrática" e "antiautoritária", por mais que tenham sido propagandeadas desde o século XIX, com José Bonifácio, por exemplo, nunca tiveram a mesma aceitação, nunca "pegaram"? Seria a "família patriarcal" uma construção ideológica, um mito recente sobre o passado da sociedade brasileira? O que justificaria então o surgimento e a necessidade desse mito? Uma segunda leitura de Gilberto Freyre interpreta seu perfil de família patriarcal brasileira como uma construção ideológica que, constituída de traços básicos do comportamento familiar, serve de referência para a prática no que tange a padrões de relações afetivas, sexuais, de solidariedade e de hostilidade. Neste sentido, o modelo de Freyre aparece, não como uma descrição da família brasileira, mas como uma representação dela. Tal perspectiva não interpreta o modelo enquanto uma realidade demonstrável a partir da organização familiar, mas enquanto ética que envolve o conjunto de suas relações. O modelo gilbertiano funciona assim como critério, como medida de valor para a vida familiar e para as pessoas nela envolvidas. O conteúdo dos argumentos de Freyre permite que se conceba seu modelo como uma representação de família enquanto um grupo estruturado numa hierarquia, que embora forte — "todo mundo conhece seu lugar" —, está a cada momento sendo subvertida, real ou aparentemente, por força de favores entre as pessoas hierarquizadas. Isto permite que pensemos o modelo de família patriarcal como uma estrutura de relações entre desi2
Este foi o questionamento provocativo feito no debate por Roberto Da Matta.
2
guais: pais e filhos, homem e mulher, branco e negro, senhor e escravo, senhor e agregado e assim por diante. Esta orientação nos sugere que pesquisas históricas que se debruçassem sobre documentos, com o objetivo de deles extrair um material menos fatual e mais ideológico, poderiam demonstrar que o modelo gilbertiano sintetiza a lógica das decisões familiares no tocante aos processos de perfilhamento, "divórcio", herança e alforria, processos exemplares para se perceber a distinção entre o "bem" e o "mal", ou seja, entre o "legítimo" e o "ilegítimo". Os livros de memória e de histórias familiares também permitiriam esse tipo de constatação ao revelarem os sentimentos de sucesso ou insucesso medidos em valores como os ressaltados por Freyre. Enquanto estrutura de relações entre desiguais, o modelo gilbertiano também é tomado como instrumento importante para que pensemos a sociedade brasileira contemporânea, não somente no tocante à mentalidade que rege a vida familiar, mas inclusive à ética social e política abrangente. Nessa linha, argumenta-se que Freyre tenha conseguido articular aquilo que seria o arquétipo de um modo de pensar tipicamente brasileiro que informaria nossa prática privada e pública. As questões em que esse tipo de leitura de Gilberto Freyre implica são as relativas ao caráter dominante dessa construção ideológica para o conjunto da sociedade. Assim, critica-se a abrangência desse modelo para estratos ou classes sociais, ou mesmo circunstâncias pessoais em que não se têm as condições de concretização dele. Isto vem sendo contestado com a argumentação de que, mesmo em condições adversas à sua realização, o modelo continua sendo legitimado pela sociedade. Situações de não-atualização do modelo são, em referência a ele, definidas negativamente: não ser poderoso, não ter amigos poderosos, ser "solteirona", ser "mãe solteira", ser "mulher abandonada", ser mulher que "tem que sustentar a casa". Todas essas e muitas outras são situações em que se vivência a infelicidade; infelicidade definida implícita ou explicitamente por oposição 3
As contribuições de Angela Mendes de Almeida e Roberto Da Matta situam-se mais dentro desta segunda leitura.
3
16
a valores tidos como positivos, tais como: ser poderoso, ter amigos poderosos, "arranjar marido", ter "um marido que sustenta, a casa", e assim por diante, como se a realidade ou "a sorte de cada um" estivesse em desacordo com o que "deveria ser", com o modelo, com o ideal de homem, de mulher, de relação entre homem e mulher, entre senhor e escravo, entre diferentes. Outra questão a que o modelo gilbertiano nos remete é a seguinte: essa estrutura de relações entre diferentes que a família patriarcal estabelece como desiguais, encobre o quê e revela o quê? O que ela encobre já vem sendo desvendado há um certo tempo: o fortíssimo grau de exploração e subordinação existente na sociedade brasileira. O que ela revela é uma maneira sui generis de exercer a exploração e a subordinação: a brandura advinda da intimidade entre "superiores" e "inferiores". De modo que todos manuseiam dois códigos a um só tempo; todos são desiguais mas simultaneamente aparecem como iguais. A brandura da intimidade entre "superiores"e "inferiores" amortece o conflito inerente à situação de desigualdade social. Essas duas interpretações da obra de Gilberto Freyre são exemplares de dois dos planos de análise possíveis para o tema família brasileira. A opção por um desses planos não garante, de per si, a solução de todas as questões atinentes ao tema, pois ambos têm suas limitações. Assim, se tomamos família enquanto um fato empírico podemos dar conta da diversidade de formas de organização familiar ao longo do tempo, nas diferentes regiões e segmentos sociais. Com isso, chegaríamos à relativização de todas as formulações de ordem mais geral e no limite nenhuma teoria sobre família seria possível. Nenhum conhecimento seria atingível pois cada caso seria um caso, cada período histórico seria único, cada região uma região, cada grupo um grupo e assim por diante. Ademais, não seria possível explicar como se articulam as diferentes regiões, as diferentes classes sociais e os diferentes períodos históricos. Essa corrente, portanto, se por um lado enriquece o tema com cuidadosas aná4
O trabalho de Leila Linhares Barsted neste volume examina historicamente, através da legislação, a situação da mulher brasileira, chamando a atenção para a conveniência contraditória entre sua autonomia enquanto cidadã e sua subordinação civil enquanto esposa. 4
11
lises descritivas e levantamentos históricos, esquiva-se, pela forma mesma em que o objeto de estudo é construído, tanto de explicar a diversidade e a mudança histórica como de construir um fio que conecte a diversidade e a história. No limite, a história só seria possível numa microordem, na ordem do singular. Por outro lado, a opção por um plano de análise que privilegie, no tema família, o aspecto de representação social, lançanos num problema complexo das ciências sociais que é o da intrincada articulação entre o real empírico — a prática — e o real simbólico — a ideologia. • Para o caso que acabamos de ver — o da família patriarcal de Gilberto Freyre —, a pergunta é: como esse modelo pode sustentar-se enquanto ideal para uma realidade empíriéa polimorfa, onde em grande número as famílias se organizam de modo tão dispare do descrito? Essa questão tem sido enfocada de duas maneiras. Em primeiro lugar, argumenta-se que os modelos — como é o caso do modelo gilbertiano — não se propõem a retratar a realidade como ela é, mas sim como ela é pensada e vivida. Nesse sentido, um modelo não é algo dado, mas algo construído. A validade da construção é tanto maior quanto mais questões ela for capaz de resolver de modo a harmonizar as contradições. Assim, as diferenças de organização e as mudanças materiais não significam automaticamente uma alteração na forma de pensar e articular as contradições. No caso da família brasileira, o modelo gilbertiano aparece como instrumento pertinente de análise ideológica, na medida em que é uma construção que encampa uma série de contradições existentes não só nos limites das unidades familiares, mas que os transcendem, como são as questões econômicas, afetivas, sexuais, raciais e de poder. Em segundo lugar, o argumento de que o fato ideológico é um fato construído socialmente permite que se investigue a sociedade enquanto conjunto de agências formuladoras e articuladoras de padrões de comportamento e de mentalidade. Essa linha interpretativa que privilegia no tema família seu 5
Ê nesta seara que se situam os trabalhos de Margareth Gonçalves e de Kátia Muricy. Embora as autoras tratem de objetos diferentes, ambas nos remetem ao caráter construído dos padrões de sentimento, de comportamento e de mentalidade.
conteúdo ideológico tem, a nosso ver, o grande mérito de possibilitar o conhecimento de um parâmetro comum a toda forma de diversidade de organização familiar, assim como permite perceber o fio condutor das mudanças ao longo do tempo. Dela pode surgir como interessante ponto de reflexão a questão da modernidade na sociedade brasileira. Ao lado da modernização da base material da sociedade, podemos, através desse veio interpretativo, investigar o processo pelo qual as mudanças concretas são articuladas com noções e valores já enraizados no imaginário social. Dessa forma podemos perceber como as construções ideológicas conjugam valores tão díspares como são, por exemplo, os ideais liberais dos séculos XVIII e XIX e o escravismo. Ou ainda, a modernização do Estado nos termos de seus aparatos formais e legais depois de 1930 e o seu descompasso com a sociedade civil. Na tradição ocidental, a questão da modernidade tem como núcleo fundamental uma determinada noção de indivíduo, livre de laços impostos pelas relações de cunho pessoal. A realidade histórica do advento do capitalismo ocidental, que transforma o homem em força de trabalho livre para o mercado, corresponde uma noção de indivíduo para quem a sociedade existe como espaço de plena realização, visto estarem banido? os entraves de ordem pessoal. Em tese, todas, as oportunidades passam a ser possíveis para todos e todos têm acesso a elas, independentemente de linhagem ou de vassalagem. O indivíduo aparece como valendo por si e acaba por constituir objeto de saberes específicos como a psicologia e a psicanálise, cujas atenções estão voltadas para ele enquanto unidade articuladora de razão, de sentimento, de criação, de sexualidade e de construção de uma imagem de si e dos outros. A linhagem, o grupo, a nação cedem lugar ao indivíduo enquanto sujeito da história. Essa noção de indivíduo como valor social, livre do destino que lhe seria imposto por uma linhagem, está associada a uma determinada visão de família: a família nuclear burguesa, representada como espaço privado e atomizado da vida social. 6
5
19 11
Ver Eli Zaretsky, O capitalismo, a família e a vida privada, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1976; Philippe Ariès, História social da criança 6
Por constituir um espaço reservado à intimidade, onde se realizam a afetividade, a sexualidade, a família nuclear burguesa desfruta de um peso privilegiado na configuração do indivíduo e no processo de construção de sua subjetividade. A formulação desta problemática sugere uma série de questões. Primeiro, em relação aos termos indivíduo e subjetividade. Pergunta-se se essas noções só seriam possíveis em sociedades que, como as ocidentais modernas, conhecem o processo de individualização da força de trabalho e do consumo. Isso é contraargumentado na medida em que as investigações de cunho antropológico revelam que, mesmo em sociedades e culturas em que o coletivo tem primazia sobre o particular, pode-se constatar uma percepção de indivíduo. No mesmo sentido, os trabalhos históricos revelam nos períodos anteriores à emergência do capitalismo no Ocidente, períodos que vêm desde a Antigüidade Clássica, a existência da percepção de indivíduo, revestida, evidentemente, de conteúdos diferentes do de sua noção moderna. Isso nos conduz a pensar a diferença entre indivíduo e individualismo, entendido este enquanto noção de indivíduo como valor social, mola estruturadora da cultura. O mesmo argumento é utilizado em relação à subjetividade, isto é, embora a questão da subjetividade esteja vinculada à de indivíduo, tal como definido modernamente na civilização ocidental, sua existência não é exclusiva da modernidade e sua percepção é diferenciada historicamente. Em segundo lugar, admite-se que, embora não exclusiva, a família é uma agência privilegiada no processo de construção da subjetividade. Em geral, esta afirmação está focada numa determinada concepção de família, a nuclear burguesa, constituída de pai-mãe-e-filhos. Esta interpretação nos induz a algumas indagações. De um lado, pode-se perguntar se esse papel de agência privilegiada não deve ser relativizado ao abordarmos 7
sociedades anteriores à emergência do capitalismo, em que o trinômio pai-mãe-e-filhos era ofuscado por uma ampla e densa rede de relações sociais que o extravasavam. De outro lado, pergunta-se se esse papel não é nuançado também nas sociedades contemporâneas em que a família nuclear é complementada ou mesmo secundarizada por relações com amigos, vizinhos e criados. Além disso, cabe lembrar o caso das sociedades tribais, nas quais as relações triangulares não seriam instituintes da subjetividade. Ou seja, qual o peso da família nuclear em sociedades ou segmentos sociais nos quais a significação desse grupo é apenas a de unidade reprodutiva, sendo que o espaço da afetividade, da sexualidade e da emoção é estruturado diferentemente? Pensando na formulação triangular edipiana de construção da subjetividade, essas situações em que a representação de família é mais abrangente do que a família nuclear implicariam numa adaptação do modelo interpretativo? Como se vê, a problemática abarca diversas perspectivas não necessariamente excludentes. Pensando a Família no Brasil, muito mais que orientar para soluções das questões previamente colocadas, foi uma excelente oportunidade de aprofundar e complexificar o entendimento do tema. Esperamos que com a publicação destes textos estejamos contribuindo para a ampliação do debate. Angela Mendes de Almeida Maria José Carneiro Silvana Gonçalves de Paula
e da família, Rio de Janeiro, Zahar, 1978; e Elizabeth Badinter, O amor conquistado — O mito do amor materno, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. Sobre este tema, ver as contribuições de Gilberto Velho e Sérvulo Figueira neste volume. 7
20
11
FAMÍLIA ATRAVÉS DA HISTÓRIA: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS
TENDÊNCIAS ATUAIS DA HISTÓRIA DA FAMÍLIA NO BRASIL Eni de Mesquita Samara 1. Introdução É fato notório que, nas últimas décadas, as pesquisas sobre a família e o matrimônio vêm merecendo uma especial atenção por parte dos estudiosos no campo das Ciências Humanas. Essa redescoberta da família, como objeto de investigação, deve-se, entre inúmeras outras razões, ao debate recente em torno do tema e às polêmicas que vêm despertando na sociedade atual. Para comprovar essa tendência, estão aí os levantamentos estatísticos realizados recentemente com o objetivo de compilar essa produção, que mostram que apenas entre 1954 e 1964 surgem 6.000 títulos a respeito do assunto, número que, segundo Peter Laslett, deve ter duplicado até o presente. E isso pode ser facilmente identificado nas inúmeras bibliografias organizadas quer na Europa, quer nos Estados Unidos, e que nos fornecem uma idéia mais precisa desse volume. No entanto, até há bem pouco tempo, a contribuição dos historiadores nesse campo aparecia tímida e restrita, fato que se relacionava ao desinteresse pelo tema e às dificuldades de pesquisa, geradas pela dispersão das fontes documentais e pela falta de um quadro conceituai adequado ao tratamento do assunto. 1
2
Ver Peter Laslett (ed.), Household and family in past time, London, Cambridge University Press, 1972. Veja-se, por exemplo, Natalie Zenon Davis, Society and the sexes in early modern Europe, 15 to 18 centuries, a bibliography, Berkeley, University of California, 1973. 1
2
th
th
100
Para uma nova geração de historiadores que se formou, desde que entraram em voga os estudos dessa natureza, a aceitação da premissa de que a família é uma Instituição fundamental e duradoura, de cujas contribuições dependem as outras Instituições, passou a significar um melhor entendimento da estrutura das sociedades e do desenvolvimento econômico e político no presente e no passado. Ao mesmo tempo, os trabalhos referentes ao assunto se esforçavam por construir uma teoria científica, buscando sair das comprovações empíricas e das generalizações que caracterizavam as análises históricas sobre a família, antes da publicação do livro de Philippe Ariès. O progresso metodológico também se efetuou na medida em que os pesquisadores, especialmente os americanos e europeus, procuraram identificar os diferentes procedimentos que orientavam a investigação científica. E nessa linha teríamos inúmeros trabalhos a mencionar, como os de Lutz Berkner e do grupo de Cambridge, que realizaram estudos pioneiros a partir dessa ótica. Reconhecida pelos sociólogos a necessidade de perspectiva histórica, assim como a interdisciplinaridade da matéria, a História da Família passou a utilizar o instrumental demográfico, recorrendo também aos modelos conceituais pertinentes à Antropologia, Sociologia e Psicologia que se mostraram perfeitamente válidos e ampliaram os recursos técnicos e metodológicos do pesquisador da família. Desse renovado interesse surgiram inúmeros estudos sistemáticos que, a despeito das divergências ou acertos entre as diversas correntes, quanto ao tratamento específico do objeto de análise, focalizaram com êxito a importância da família para a compreensão das sociedades. 3
4
5
Especificamente no caso brasileiro, o estudo do tema é fundamental principalmente pelas perspectivas novas que oferece para a interpretação do passado brasileiro, pela própria relevância das funções sócio-econômicas desempenhadas pela família desde o início do período colonial. Essa relação de grandeza e importância entre a família e a organização da sociedade já nos primeiros séculos da nossa história é claramente apreendida em trabalhos pioneiros, como os de Gilberto Freyre e Oliveira Vianna, retomados com novo vigor por estudiosos como Antonio Cândido na década de 50. Com relação a São Paulo, são inúmeros os estudos que nos remetem à mesma questão, como a belíssima obra de 'Alcântara Machado, publicada em segunda edição na década de 30 e que recupera a partir dos inventários, as famílias, as fortunas coloniais, a moradia e o mobiliário paulista da época. Sob o aspecto da solidariedade familiar, da vingança e das relações entre família e o Estado, temos na década de 40 a análise de Luiz de Aguiar Costa Pinto, onde o público e o privado se confundem conferindo à nossa sociedade colonial características bastante peculiares de organização. Sem dúvida, um repasse pela Historiografia brasileira até a década de 60, nos fornece inúmeros e valipsos exemplares sobre o tratamento dispensado à Família, o que não significa que não sejam passíveis de revisão crítica. A retomada decisiva da família deu-se na década de 70, momento em que começam a aparecer novas pesquisas sobre o assunto, que têm principalmente por intuito rever as antigas 6
7
8
Gilberto Freyre, Casa-grande & senzala, 99 ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 1977; Oliveira Vianna, Evolução do povo brasileiro, São Paulo, Lobato & Cia., 1923; Antonio Cândido, "The brazilian family", in T. Lynn Smith e Alexander Marchant (eds.), Brazil — Portrait of half a continent, Nova York, Dryden, 1951. Alcântara Machado, Vida e morte do bandeirante, 2$ ed., Revista dos Tribunais, 1930. Luiz de Aguiar Costa Pinto, Lutas de família no Brasil, 2* ed., São Paulo, Ed. Nacional-INL, 1980.
6
Philippe Ariès, História social da criança e da família, trad. Dora Flaksman, Rio de Janeiro, Zahar, 1978. Peter Laslett (ed.), op. cit.; e Lutz Berkner, "The peasant household", AHR, 77, n.° 2, abril de 1972; entre outros. Sobre esse assunto ver Tamara Hareven, "The history of the family as an interdisciplinary field", in Theodore Rabb (ed.), The family history, Nova York, Harper Torchbooks, 1973. 3
4
5
26
7
8
112
propostas feitas pelos estudiosos buscando novas perspectivas de entendimento da sociedade brasileira do passado. Uma análise global dessa produção é ainda muito difícil, senão precária, pelo natural atraso com que vêm a público os novos trabalhos, gerado pelas dificuldades de pesquisa e de publicação. O total de obras publicadas ainda é pequeno, mas tende a crescer progressivamente, assim como nas diferentes áreas de conhecimento, pelo próprio interesse que o tema vem despertando. Face a essas dificuldades e à carência de levantamentos bibliográficos sobre os trabalhos recentes é que achamos opor9
10
11
Ver, entre outros, os trabalhos de Maria Luiza Marcílio, A cidade de São Paulo, São Paulo, Pioneira, 1974; Iraci dei Nero Costa, "A estrutura familiar e domiciliária em Vila Rica no alvorecer do século XIX", RIEB, (19), 17-34, 1977; Maria Beatriz Nizza da Silva, "Sistema de casamento no Brasil Colonial", Ciência e Cultura, vol. 28; Eni de Mesquita Samara, A família na sociedade paulista do século XIX, FFLCHUSP, Tese de Doutoramento, 1979; Alida Metcalf, Household and family structures in late XV///" century, Ubatuba, Austin, The University of Texas, 1978. Recentemente foram publicados: Maria Beatriz Nizza da Silva, Sistema de casamento no Brasil colonial, São Paulo, Queiroz-EDUSP, 1984; Maria Odila Silva Dias, Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX, São Paulo, Brasiliense, 1984; Eni de Mesquita Samara, A família brasileira, São Paulo, Brasiliense, 1983; e Miriam Moreira Leite (org.), A condição feminina no Rio de Janeiro, século XIX, São Paulo-Brasília, HUCITEC-Pró-Reitoria, 1984. Não existem levantamentos feitos especificamente para cobrir a produção dos historiadores que vêm trabalhando nessa linha de pesquisa, mas, sem dúvida, podemos recorrer a outros arrolamentos realizados para outras áreas e que de certa forma cobrem parte desses estudos. Ver: Elba Siqueira de Sá Barreto (org.), Mulher brasileira — Bibliografia anotada, São Paulo, Fundação Carlos Chagas-Brasiliense, 1979; Lia de Freitas Garcia Fukui, "Estudos e pesquisas sobre família no Brasil", DADOS, BIB, 10, 13-23, 1980; Maria Salete Sulske Trujillo, "A família brasileira", Campinas, Notícia bibliográfica e histórica, 67, maio de 1975; Aspásia Alcântara, "Estudos e pesquisas sobre família no Brasil", DADOS, 1, 1966; Maria Coleta Oliveira, "Notas acerca da família nos estudos demográficos", Caderno Cerhu n.° 18, maio de 1983; Iraci Costa e Eni de Mesquita Samara, Demografia histórica — Bibliografia histórica — Bibliografia brasileira, IPE-USP, 1984. 9
1
19
11
29
tuno discutir alguns pontos que consideramos fundamentais e que emergem da própria leitura e análise dessa produção realizada por historiadores ou considerada de conteúdo histórico. 2. A análise histórica da família: uma revisão crítica É difícil desvincular a produção recente da História da Família no Brasil da própria Demografia Histórica, fato que ocorre principalmente na década de 70, na qual a maior parte dos estudos foi feita por demógrafos-historiadores. Por outro lado, com o grande impulso tomado pela História Social, a família adquire um papel fundamental, ampliando os estudos nessa área e seguindo de perto as tendências de vanguarda, na medida em que a análise do tema possibilita uma revisão profunda na História Social do Brasil. A riqueza e ineditismo das fontes primárias, associados à pluralidade de assuntos que o tema aborda (mulher, criança, sexualidade, educação etc.), colocaram definitivamente a História da Família no Brasil, na década de 80, como um ramo específico de conhecimento e pesquisa, com sua própria área de atuação, mas sem dúvida utilizando os recursos técnicos e metodológicos da Demografia Histórica e das demais ciências afins. No âmbito das publicações internacionais, podemos verificar que a produção nacional vem seguindo de perto o ritmo das principais tendências apresentadas pelos estudos realizados na Europa, Estados Unidos e Canadá. As afinidades temáticas e metodológicas se revelam principalmente pela adaptação de modelos comparativos utilizados pelos autores estrangeiros, o que não significa que os pesquisadores tenham perdido de vista a especificidade do caso brasileiro. Após uma fase inicial de dificuldades quanto à construção de uma metodologia própria de análise, o estágio atual das pesquisas já permite a elaboração de modelos específicos para o estudo da família brasileira. 12
Vejam-se, por exemplo, os inúmeros trabalhos arrolados por Iraci Costà e Eni Samara na Demografia histórica — Bibliografia histórica — Bibliografia brasileira, op. cit.
12
11
Ainda no plano conceituai, outra séria dificuldade enfrentada pelos pesquisadores liga-se ao próprio conceito de família brasileira e da necessidade de revisão, pois a utilização de uma concepção única e genérica revelou-se historicamente insuficiente para abarcar toda a complexidade social do Brasil, da Colônia ao Império. A retomada desse assunto é fundamental, pois, de acordo com a literatura, a família brasileira seria o resultado da transplantação e adaptação da família portuguesa ao nosso ambiente colonial, tendo gerado um modelo com características patriarcais e com tendências conservadoras na sua essência. Esse modelo genérico de estrutura familiar, comumente denominado patriarcal, serviu de base para caracterizar a família brasileira como um todo, esquecidas as variações que ocorrem na organização da família em função do tempo, do espaço e dos diferentes grupos sociais. Dessa maneira, confundiram-se aí vários conceitos: o de família brasileira, que passou a ser sinônimo de patriarcal, e mesmo o de família patriarcal, que passou a ser usado como sinônimo de família extensa. Nessa mesma perspectiva, ainda genericamente falando, família e parentela passam a ter um significado comum. A análise estrutural desse momento vem, portanto, confirmar o que acima foi exposto, permitindo vigorar o consenso de que a família brasileira era uma vasta parentela que se expandia, verticalmente, através da miscigenação e, horizontalmente, pelos casamentos entre a elite branca. Por outro lado, estudos e pesquisas mais recentes têm tornado evidente que as famílias "extensas do tipo patriarcal" não foram as predominantes, especialmente no sul do país nos séculos XVIII e XIX, onde eram mais comuns aquelas com estruturas mais simplificadas e menor número de componentes. 13
14
Ver Mariza Corrêa, "Repensando a família patriarcal brasileira", in Colcha de retalhos, São Paulo, Brasiliense, 1982, e Eni de Mesquita Samara, A família brasileira, Brasiliense, 1983. A esse respeito, ver Maria Luisa Marcílio, Crescimento demográfico e evolução agrária paulista, FFLCHUSP, Livre-Docência; Iraci Costa, 13
14
31
O que se percebe claramente nesse período é que os diferentes segmentos que compunham a sociedade encontraram formas diversas de organização. Essa pluralidade de modelos revela-se, por exemplo, ao tentarmos compor um quadro geral da família paulista no início do século XIX, no qual constatamos que as "extensas" ou do "tipo patriarcal" não chegavam a representar 26% dos domicílios. Nos demais, ou seja, em 74% das casas, predominavam outras formas de composição, o que significa que as famílias extensas eram representativas apenas de um segmento minoritário da população. A validade do modelo pode ser assim contestada, pois estruturalmente a família paulista, assim como a de outras áreas do sul do país, mostrou-se diferente daquela descrita por Freyre na região de lavoura canavieira do Nordeste. A partir desses elementos bastante concretos e calçados em documentação da época, concluímos pela ineficácia de se utilizar um conceito genérico para representar a sociedade brasileira como um todo. Assim, mergulhar no passado buscando reconstituir a família é enveredar por muitos caminhos, é o encontro de uma gama variada de composições ora simples, ora complexas, que vão da unidade conjugal à extensa, do grupo de sangue ao núcleo doméstico, que agrega relações não formalizadas apenas pelo parentesco. Desde que reconhecida essa pluralidade, resta ao pesquisador estabelecer critérios que definam a sua própria pesquisa, pois se tomarmos o exemplo da historiografia recente, verificamos que não existe um consenso com relação à utilização do termo "família", significando para alguns o estudo do núcleo 15
16
Vila Rica: população (1719-1826), São Paulo, FIPE, 1979; Eni de Mesquita Samara, O papel do agregado na região de Itu (1780-1830), São Paulo, Museu Paulista, 1977; e também as inúmeras teses defendidas na Universidade Federal do Paraná. Ver Eni de Mesquita Samara, A família brasileira, op. cit. p. 18. Entre as inúmeras fontes que servem à história da família teríamos a mencionar os recenseamentos da população e os testamentos, que são extremamente valiosos. Ainda a respeito de fontes documentais, ver Adeline Daumard e outros, História social do Brasil — Teoria e metodologia, Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 1984. 15
16
11
doméstico e para outros apenas o do grupo de sangue, fato que não invalida os trabalhos já realizados, pois comparando-se o total da produção verificamos claramente que são inúmeros os pontos conclusivos. E o que dizer ainda daquelas famílias ilegitimamente constituídas, se considerarmos como pressuposto básico de análise apenas o seu aspecto jurídico? Especialmente no caso brasileiro, esse é um ponto crucial, já que as uniões consensuais permeavam a sociedade e contra isso de nada adiantavam as argumentações da Igreja e as ameaças de punição para aqueles que viviam em concubinato. E isso apenas para falarmos dos casos de conhecimento público. Ao nosso entender, uma análise da família brasileira deve sem dúvida levar em conta todos esses aspectos de certa forma já presentes na historiografia recente, ou seja, da questão conceituai, do uso do termo "família", da pluralidade de organização e da própria representatividade do casamento que, ao que tudo indica, era uma opção para apenas uma parcela da população. Terá, portanto, o pesquisador que se defrontar com esses problemas, bem como com a questão da bastardia, dos concubinatos e das uniões esporádicas, que revelam imagens bem mais realistas do comportamento e do modo de vida da população no passado. A oposição de imagens é evidente — de um lado o casamento, a moral e a própria submissão e a castidade da mulher; do outro, o alto índice de ilegitimidade, a falta de casamentos e a insatisfação feminina revelada nos testamentos e nos processos de divórcio. Obcecados pelo ideal de recato, moral e pureza, historiadores e romancistas exageraram nesse 17
18
quadro, estabelecendo estereótipos que se enraizaram até o presente. Tudo isso não significa, entretanto, uma diminuição da importância da família nas sociedades da Colônia e do Império. Essa ruptura na complexidade familiar, que por diferentes razões levou pais a se separarem dos filhos solteiros, casados, genros, noras, netos e mesmo dos parentes, não revive nos séculos XVIII e XIX o mesmo ambiente da casa-grande, mas por outro lado não parece interferir no ciclo de obrigações mútuas que unem os indivíduos ligados por parentesco, amizade ou trabalho. Assim, se a absorção dessas relações não se dá mais ao nível estrutural e interno da família, continua correndo fora dela, já que os laços de sangue e de solidariedade, pelo menos na aparência, ainda são resistentes e estão presentes na trama social, mas esse ainda é um aspecto a ser estudado pelos pesquisadores. É evidente, portanto, que o padrão de família descrito por Freyre de certo modo deixou resquícios na sociedade brasileira, mesmo no sul do país, especialmente entre as camadas mais abastadas da população, que constituíam famílias legítimas com maior número de integrantes. Surpreende-nos, entretanto, a verificação de que pesquisas em andamento sobre as áreas rurais paulistas vêm demonstrando que prevalece o mito da existência da família extensa, mesmo em se tratando da elite agrária local. Tal constatação reforça ainda mais a polêmica e sugere novas reflexões para o problema, questionando mais uma vez a representatividade e validez da utilização de conceitos genéricos para os estudos de família, lembrando "que a estrutura 19
20
Maria Beatriz Nizza da Silva, "O divórcio na Capitania de São Paulo", in M. C. Bruschini (org.), Vivência, história, sexualidade e imagens femininas, São Paulo, Brasiliense, 1980; Eni de Mesquita Samara, "Família, divórcio e partilha de bens em São Paulo no século XIX", Estudos Econômicos, 13, 1983. José Luiz de Freitas, O mito da família extensa: domicílio e estrutura fundiária em Jundiaí (1818), ANPUH, 1985; Fernando Furquim de Campos, Família e mudança: as elites paulistas no final do século XIX, ANPUH, junho de 1985. 19
A respeito, ver Luiz Mott, Os pecados da família na Bahia de Todos os Santos (1813), Salvador, Universidade Federal da Bahia, 1982; Iraci Costa, Devassa nas Minas Gerais — observações sobre casos de concubinato, Anais do Museu Paulista, 1982, tomo XXXI; sobre celibato, ver Ida Lewcovitz, A fragilidade do celibato no Brasil Colonial, ANPUH, 1985. Eni de Mesquita Samara, Casamento e papéis familiares em São Paulo no século XIX, Cadernos de Pesquisa, (37), 17-25, maio de 1981. 17
18
33
20
11
da família varia não só de uma sociedade para outra, mas também de uma classe para outra numa mesma sociedade". Um outro aspecto discutido no âmbito da História recente da Família está relacionado de certa forma ao mesmo problema conceituai. Uma outra decorrência da utilização do modelo patriarcal seria a demasiada ênfase que é dada à autoridade do marido e à dependência da mulher, especialmente no período colonial. Ociosas e recatadas, as mulheres teriam, sob o ponto de vista da historiografia tradicional, um estilo de vida restrito ao lar, segregadas e com raras oportunidades de aparecer em público. A esse retrato, pintado também por viajantes e cronistas, sobrepunham-se as imagens das mulatas, negras e brancas pobres que andavam pelas ruas em busca da sobrevivência, ou então viviam da prostituição. Sem deixarmos de reconhecer a inserção da mulher num sistema mais amplo de dominação, onde os papéis dos sexos estavam legitimamente bem definidos, seria errôneo confirmar a priori a sua condição de subjugada. Em São Paulo, já no final do período colonial, os estudos realizados recentemente mostraram imagens femininas que muito divergem dos parâmetros convencionais. Existiu realmente o ideal de passividade feminina? Seria apenas mais um mito criado pela literatura? Essas indagações estão muito presentes na historiografia contemporânea da família. Mesmo se considerarmos a situação específica da área paulista com saída freqüente da população masculina, o que sem dúvida alterava o quadro do número de mulheres como chefes de família, o problema não se coloca apenas quantitativamente, mas sob a ótica do próprio comportamento das mulheres quanto a sua condição de submissão. 21
22
23
William J. Goode, The family, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1964, p. 44. Ver Maria Odila Silva Dias, Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX, op. cit.; Miriam Moreira Leite (org.), A condição feminina no Rio de Janeiro, op. cit.; A. J. R. Russel Wood, "Women and society in Colonial Brazil", Journal of Latin American Studies, 9, I, 1-34. Ver Elizabeth Kusnesof, Occupacional differentiation and the female — Headed household (1765 to 1836), São Paulo, (mimeo). 21
Assim, através dos testamentos e dos processos de divórcio, verificamos que mulheres de diferentes níveis sociais trouxeram tensões para o casamento, provocadas por rebeldia ou mesmo insatisfação. Além disso, encontramos inúmeras mulheres com participação ativa, quer na família, quer na sociedade, gerindo negócios e propriedade de maior e menor vulto, assumindo a chefia da família e trabalhando para a sobrevivência da sua prole. E o que dizer ainda dos momentos de adultério confessados nos testamentos? E das solteiras e viúvas com filhos ilegítimos, tidos por "fragilidade humana" como elas mesmas confessavam? Essa característica é marcante e não estavam excluídas dessas situações mulheres brancas e de posses, numa sociedade com alto índice de ilegitimidade. Percebem-se, portanto, ao menos no século XIX, divergências no ideal de castidade e submissão da mulher, mostrando que na prática, os valores tradicionais estavam sendo afetados ou mesmo burlados, embora no plano legítimo a autoridade ainda permanecesse nas mãos do sexo masculino. A existência de um aparato legal de dominação masculina garantia os seus privilégios, mas não perpetuava a sua manutenção. Assim, a partir de meados do século XVIII, casamentos arranjados pelas famílias eram desfeitos e mulheres divorciadas conseguiam a tutela dos filhos e a parte que lhes competia no patrimônio, o que nos remete a um distanciamento entre a norma e a prática. Esses são apenas alguns pontos de reflexão e de discussão a que nos remete a leitura dos trabalhos feitos recentemente pelos historiadores, sem que tivéssemos a preocupação de fazer uma análise completa de todas as tendências apresentadas, dado o pequeno volume de obras específicas sobre a família no Brasil que veio a público nos últimos anos. Assim, a partir de um 24
25
22
23
100
Eni de Mesquita Samara, A família brasileira, op. cit. Sobre ilegitimidade, ver o trabalho de Laima Mesgravis, A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, Conselho Estadual de Cultura, 1976. 24
25
11
arrolamento preliminar dessa produção, é que optamos pela discussão de alguns pontos considerados básicos nessas leituras e que também apontam a necessidade urgente de novas pesquisas específicas sobre a família e a condição feminina na sociedade brasileira do passado. 26
EXPOSTOS, RODA E MULHERES: A LÓGICA DA AMBIGÜIDADE MÉDICO-HIGIENISTA Margareth de Almeida Gonçalves "A regra geral eram as noites de profunda calada, na escura constância das quaes, se podia enxergar, a custo, vultos se esgueirando. Quem se aproximasse deles reconhecia mulheres, parteiras e curiosas, sob cuja mantilha se abrigavam crianças pequeninas. Iam depositá-las na Roda, receiosas de serem castigadas." (Escragnole Dória. Publicado no Jornal do Commercio de 16 de janeiro de 1916).
Com esse intuito fizemos um levantamento preliminar dessa produção que incluiu publicações (livros e artigos), bem como teses difundidas e apresentações em Congressos, sem que pudéssemos neste trabalho apresentar na íntegra a relação comentada de todos os pesquisadores envolvidos com o tema.
26
36
1. Na época colonial e durante o Império, "exposto" e "enjeitado" constituíam termos recorrentemente empregados na sociedade brasileira para nomear a criança abandonada. "Exposto" e "enjeitado", segundo o dicionário da língua portuguesa de Antonio de Morais Silva, edição de 1831, correspondia àquele (e/ou àquela) que era abandonado(a) na Roda — aparelho, em geral de madeira, do formato de um cilindro, com um dos lados vazado, assentado num eixo que produzia um movimento rotativo, anexo a um asilo de menores. A utilização desse tipo de engrenagem permitia o ocultamento da identidade daquele(a) que abandonava. A pessoa que levava e "lançava" a criança na Roda não estabelecia nenhuma espécie de contato com quem a recolhia do lado de dentro do estabelecimento. A manutenção do segredo sobre a origem social da criança resultava da relação 100
promovida entre abandono de crianças e amores ilícitos. Os espaços especialmente destinados a acolher crianças visavam, num primeiro momento, absorver os frutos de" tais uniões. Com o tempo, essas instituições passaram a ser utilizadas também por outros motivos — indivíduos das camadas populares, por exemplo, abandonavam seus filhos na Roda por não possuir meios materiais de mantê-los e criá-los. Casa dos Expostos, Depósito dos Expostos e Casa da Roda eram designações correntes no Brasil para os asilos de menores abandonados. Os primeiros asilos surgiram nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro durante o século XVIII. Em 1693, entretanto, já havia sido enviada ao governador da Capitania do Rio de Janeiro, Antonio Paes de Sande, uma carta régia na qual se determinava que os "expostos" fossem criados às custas dos cofres públicos. Através dessa medida, os "enjeitados" deixariam de ser jogados nos adros das igrejas, nas portas das residências, nas ruas e praças, na dependência da "caridade pública". Durante mais de oitenta anos, no entanto," os termos da carta régia permaneceram esquecidos. Foi em 1738, meio século após a carta régia, que Romão de Mattos Duarte doou quantia que permitia a fundação de um estabelecimento voltado para o recebimento e abrigo de crianças abandonadas na cidade do Rio de Janeiro. A partir de então o benfeitor seria reconhecido como o "pai dos sem pais". 1
2
Cf. Ubaldo Soares, O passado heróico da Casa dos Expostos, Rio de Janeiro, Fundação Romão de Mattos Duarte, 1959. Este trabalho, de um arquivista da Santa Casa da Misericórdia, descreve as condições de abandono de crianças no Rio de Janeiro no período que antecedeu à criação da Roda. As informações acerca de Romão de Mattos Duarte são fragmentadas e imprecisas. Sabe-se que era de origem portuguesa, possuidor de "cabedais", e que resolveu favorecer os "enjeitados", fundando um asilo. Para tanto, contribuiu com a doação de 32 mil cruzados. No entanto, houve outras doações, nesta mesma época, para auxiliar a criação dos "expostos". Entre elas destaca-se a doação de "mais" de 10 contos de réis fornecida por Ignácio da Silva Mandella. Cf. Félix Ferreira, A Santa Casa de Misericórdia Fluminense do Rio de Janeiro, 1898: "E foi nesse mesmo século, de tanta decadência que ela (Santa Casa), ainda assim fundou dois utilíssimos asilos, o de órfãs e o de enjeitados, por iniciativa 1
2
39
A Casa dos Expostos foi criada dentro dos quadros da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. A irmandade da Misericórdia, mediante seu provedor, elegia três irmãos da ordem para o exercício das funções de procurador, tesoureiro e escrivão. A eles cumpria a supervisão dos bens pertencentes à Casa dos Expostos e sua administração financeira. Aos três irmãos competia, ainda, a escolha da regente, responsável pela organização interna do estabelecimento. Na realidade, a Casa não possuía autonomia; os irmãos prestavam contas, por meio de relatórios e ofícios, à provedoria da Santa Casa. A maioria das decisões concernentes aos expostos era, em sua efetividade, submetida à aprovação da direção da Santa Casa. A organização da Casa dos Expostos se encaixava, portanto, no modelo que caracterizava o cuidado com populações carentes no Rio de Janeiro. A lógica que presidia a essa orientação se coadunava com uma prática caritativo-assistencial; o cuidado com populações "carentes" estava, assim, nas mãos de irmandades religiosas. A história da assistência das Misericórdias de origem portuguesa tem-se assinalado pela pregação da caridade e solidariedade cristã. Essa regulamentação dos setores marginais da sociedade, moldada pelo religioso, pelo particular, distinguiu a ação da Santa Casa — exemplos são encontrados tanto na Casa dos Expostos quanto no recolhimento das órfãs, Hospital Geral, etc. A partir de 1778, quarenta anos após sua fundação, a Casa dos Expostos passou a receber da Coroa portuguesa a dotação de 800$000 rs anuais. O pagamento das dotações, todavia, se caracterizou pela irregularidade e a sustentação da Roda, como 3
de irmãos beneméritos, cujos nomes devem ser inscritos com letras de ouro à entrada desses estabelecimentos, Romão de Mattos Duarte, padre Ignácio da Silva Mandella, Francisco dos Santos Marçal de Magalhães Lima" (p. 216). Cf. F. Ferreira, op. cit.; e José Vieira Fazenda, Os provedores da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Tip. do Jornal do Commercio, 1912. A estrutura administrativa da Misericórdia seguia, desde os tempos coloniais, os termos dos compromissos da Misericórdia de Lisboa, usufruindo tanto das obrigações quanto dos privilégios e benefícios. 3
11
de outros estabelecimentos da Santa Casa, prosseguiu mediante doações de particulares. Entre segmentos médios e altos da população era bastante comum o arrolamento em testamentos de doações para entidades religiosas. Por meio de uma certa sintonia, a doação, o cristão buscava o perdão de seus pecados e alcançar uma morte mais tranqüila, pagando o direito de entrada no reino dos céus. A lista de benfeitores da Casa dos Expostos é longa e demonstra a importância desse tipo de prática na sociedade da época. A Roda teve vários endereços. Inicialmente, quando de sua criação, esteve situada em edifício contíguo ao Hospital Velho da Misericórdia, ficando aí até 1810, quando José Dias da Cruz, irmão da Misericórdia, legou um prédio na Rua da Misericórdia para abrigar os "expostos". Em 1821, foram providenciadas, pela Mesa da Casa dos Expostos, duas casas pequenas nessa mesma rua, no sentido de aumentar e melhorar os alojamentos. Já em 1840, durante a provedoria de José Clemente Pereira na Santa Casa, os "expostos" foram transferidos para uma casa situada na Rua de Santa Teresa. Ainda com José Clemente Pereira provedor, os "expostos" foram transferidos em 1850 para uma edificação na Rua da Lapa, no cais da Glória, aí permanecendo até 1860, quando foi transportada para a Rua dos Barbonos, atual Evaristo da Veiga. As mudanças de local da Roda tiveram lugar a partir do século XIX; até 1810 a Casa dos Expostos, segundo revelam os documentos e relatos, teve como endereço o Hospital Velho. Os sucessivos deslocamentos do estabelecimento denotam, por um lado, o aumento de crianças abandonadas. Por outro, manifestam uma preocupação crescente que então despertara a mor4
talidade, de altas taxas, que atingia os "enjeitados" da Santa Casa. E, na expressão dessa 'preocupação", a medicina higienista teve um desempenho determinante. As remoções da Roda decorriam de problemas definidos como "higiênicos". Com a transferência se tentava libertar a Casa dos focos de doenças que, segundo os administradores e médicos, penetravam nas edificações, atingindo aqueles que as habitavam. As causas estariam nas poucas janelas dos edifícios que impediam a "livre" circulação do ar. O ar, acreditava-se então, era o principal agente na transmissão de doenças: viciado, ele produziria fenômenos considerados mórbidos que apareciam com certa regularidade. De fato, as sucessivas trocas de endereço parecem revelar tentativas de fuga, de escape à morte prematura das crianças. Buscava-se reduzir as altas taxas de mortalidade que atingiam uma percentagem quase sempre superior a 50%. 5
6
7
2. O estudo de uma instituição como a Casa dos Expostos implica na reflexão sobre um determinado tipo de moral que conduzia as relações familiares. Os asilos de "enjeitados" emergiam na condição de reguladores dos possíveis "desvios" familiares — um lugar para os filhos de uniões ilegítimas, os que Para um estudo da constituição de um pensamento e de uma prática médico-higienista na sociedade brasileira do século XIX, ver os trabalhos de Roberto Machado e outros, Danação da norma, Rio de Janeiro, Graal, 1978; e Paul Singer e outros, Prevenir e curar — O controle através dos serviços de saúde, Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1981. Ibidem. A questão da mortalidade em asilos para menores foi uma preocupação constante não só no Brasil como também em outros países, como, por exemplo, a França. A emergência de espaços destinados a abrigar crianças abandonadas, assim como a utilização do aparelho da roda, têm uma história similar em diferentes países. No caso francês são relevantes para o estudo desta problemática os trabalhos de J. Donzelot, A polícia das famílias, Rio de Janeiro, Graal, 1980; Jean-Louis Flandrin, Familles — Parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Paris, Editions du Seuil, 1984; Pierre Chaunu, La civilisation de l'Europe des Lumières, Paris, Flammarion, 1982. 5
6
Figura eminente do Império, um dos "beneméritos da Pátria". Nasceu em Portugal. Era bacharel em direito e em cânones pela Universidade de Coimbra. Em 1815, veio para o Brasil. Foi Senador do Império, Conselheiro de Estado e participou como membro de várias entidades: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, Sociedade Amante da Instrução e Conservatório Dramático. Foi Provedor da Santa Casa de Misericórdia de 1838 a 1854 (ano da sua morte). (Augusto Sacramento Blake, Dicionário bibliográfico brasileiro, Rio de Janeiro, Tip. Nacional, 1883-1902). 4
40
7
11
não possuíam história, os "sem família". No Brasil, esses estabelecimentos surgiam dentro da estrutura familiar colonial. Os preceitos e as regras que orientavam a organização familiar, e que criavam e mantinham estabelecimentos como a Roda, encontravam no "cristianismo" seu campo de referências. Para a moral cristã, as práticas reprodutivas estavam restritas aos limites do casamento. A procriação fora do casamento era alvo de recriminação e estava sujeita a sanções, tanto a nível religioso, como social, já que ambas as instâncias tendiam, neste caso específico, a se confundirem. A fonte principal para a presente reflexão são as teses da Faculdade de Medicina sobre a Roda dos Expostos, produzidas entre 1845 e 1860. Como requisito para o término do curso de medicina, o candidato a médico deveria defender uma tese a 8
No Brasil, os asilos para menores abandonados, os conventos e os recolhimentos para mulheres foram criados a partir do século XVIII. Esses estabelecimentos surgiram em centros urbanos no bojo de um movimento de moralização dos comportamentos femininos; tinham como objetivo a preservação da "honra" das mulheres pertencentes aos segmentos médios e altos da população. As mulheres destinadas, em princípio, para o casamento; as que escapavam ao matrimônio eram encaminhadas para ordens religiosas, onde tomavam o hábito, cortando, assim, os vínculos com o mundo exterior. O regime de casamento prevalente, na colônia e em parte do século XIX, estava conduzido por meio de relações de interesse; pela aliança se garantia a perpetuação e crescimento do patrimônio econômico e social da família. A instituição do dote adquiria importância na regulação das trocas matrimoniais. A mulher sem dote estava provavelmente fadada ao não-casamento. Um homem branco, mesmo de condição inferior, dificilmente se casaria com mulher, embora que branca, sem dote. Pode-se perceber a influência do dote nessa sociedade através da documentação da Santa Casa da Misericódia. O Recolhimento das Órfãs, por exemplo, possuía um cofre de dotes a ser destinado às recolhidas — órfãs, em geral pobres, assim como expostas criadas no estabelecimento. O cofre era mantido através de doações feitas geralmente em testamento para a dotação de órfãs e expostas. Dote e honra da mulher constituíam elementos que se confundiam na destinação ao casamento. (Cf. Maria Beatriz Nizza da Silva, Cultura no Brasil Colônia, Petrópolis, Vozes, 1981; A. J. R. Russel Wood, Fidalgos e filantropos — A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 1550-1755, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1981). 8
100
partir de um dos pontos elaborados pela faculdade. Entre os diversos pontos colocava-se um referente à Casa dos Expostos. Das teses dar-se-á destaque, aqui, às partes que buscavam justificar a existência de estabelecimentos como a Roda. Essa temática era abordada, em geral, no capítulo segundo das teses e recebia, na sua maioria, o seguinte título: "Vantagens dos Hospícios de Enjeitados". Através das "justificativas" médicas para a manutenção da Roda, procuramos subtrair elementos que ajudem a construir a concepção médico-higienista da mulher que abandonava o filho. A produção da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi fértil e expressiva após os anos 30 do século XIX. Temas relacionados com o mundo urbano eram privilegiados e estudos sobre higiene médica foram desenvolvidos, tendo as cidades como alvo de interesse e objeto de conhecimento. Numa atitude de repúdio à crescente mortalidade que atingia as cidades, teve início um movimento de "defesa" da vida; clamava-se pelo direito à vida. Era preciso eliminar a postura de indiferença perante a morte e demover um arraigado princípio cristão: a morte não mais a ser vista como um "mal" a ser aceito, mas, ao contrário, um "mal" a ser evitado e combatido. Ao forjar essas idéias, a medicina visava à formulação de um projeto de higiene que apontava para uma maior racionalidade no cuidado com populações. Ao teorizar sobre a problemática da higiene, a medicina da época instalava uma discussão que visava à enunciação de conceitos, práticas e políticas de caráter amplo, ligada a uma nova ordem, a das modernas sociedades capitalistas.® Cf. R. Machado e outros (op. cit.). a medicina dessa época já pressupõe a noção de prevenção, o que implica, para o autor, a definição de uma medicina sobre o meio ambiente: "(...) o momento em que o Èstado se encarrega de maneira positiva da saúde dos cidadãos é o mesmo em que a sociedade como um todo aparece como passível de uma regulamentação médica. E regularizar a organização e o funcionamento sociais do ponto de vista sanitário exige que a medicina se obrigue não apenas a tratar o indivíduo doente, mas fundamentalmente a supervisionar a saúde da população, não só a visar ao bem-estar dos indivíduos, mas à prosperidade e à segurança do Estado" (p. 253).
9
11
Entre as diferentes temáticas abordadas pela higiene, algumas estavam relacionadas ao universo da mulher e da família. Os títulos das teses, por si só, demonstram a preocupação e o raio de intervenção da medicina: "Dissertação sobre a puberdade da mulher"; "Da menstruação"; "Algumas reflexões sobre a cópula, onanismo e prostituição do Rio de Janeiro"; "Higiene da primeira infância"; "Considerações higiênicas e médico-legais sobre o casamento relativamente à mulher"; "Dos casamentos sob o ponto de vista higiênico"; "Aleitamento materno"; e tantos outros mais. As teses mostram que a atenção médica se voltava para a definição de papéis e comportamentos dentro do cenário familiar. E, na (re)atualização da família, à mulher cabia menção especial. Ela aparecia como peça central das dissertações médicas; o seu domínio era o espaço da casa. Observa-se, portanto, o privilegiamento de um tipo particular de mulher: a mulher "boa" mãe e "boa" esposa. Em contraposição, atuando em negativo, outros tipos de mulheres eram apresentados: a mundana, a mulher de "vida fácil!', a prostituta. Aqui se situavam aquelas mulheres que recusavam o desempenho do papel de esposa e mãe. As mulheres que abandonavam seus filhos se enquadravam, segundo os relatos médicos, neste último grupo. Daí a defesa em prol da preservação de espaços especiais para o abrigo dos filhos de "amores adulterinos". A Roda era, acrescentam os higienistas, um problema de moral familiar e pública: os asilos constituíam um "remédio" possível à "má" conduta da mulher, permitindo que a mulher, "arrependida", levasse uma vida "digna". Já em países como a França e Inglaterra teve início, nos anos 20 e 30 do século passado, um debate em torno da eficácia de instituições como a Roda na resolução dos impasses colocados pelo crescente abandono de crianças. Sociedades que defendiam, em contraponto à local, a eliminação da Roda, na medida em que a sua manutenção contribuiria para o aumento do abandono e não para a sua redução. Os asilos para crianças abandonadas eram, portanto, apontados como exemplos de imo10
Ver Jurandir Freire Costa, Ordem médica e norma familiar, Rio de Janeiro, Graal, 1979.
10
100
ralidade: eles concorriam para o fomento da "improvidência" e do "crime" ao acolherem frutos de amores "pecaminosos" acelerando a "depravação" dos costumes e da moral. Duchatel e Lord Brougham figuravam, segundo os médicos declaram, como representantes dessas doutrinas que postulavam a eliminação da Roda. No caso desses países (França e Inglaterra), modificações operadas ao nível de suas formações sociais — vide a revolução industrial capitalista — deram seqüência à aplicação de novas políticas, de maior racionalidade, no que tange às suas populações. Nesse movimento, instituições vinculadas a uma estrutura mais tradicional, remanescentes do Antigo Regime, eram alvo de críticas ferozes e radicais. Na nova ordem, com a hegemonia da burguesia, estabelecimentos como os asilos para menores e os recolhimentos de mulheres eram, em suma, indicadores de "caduquice" e anacronismo. Costumes, hábitos e comportamentos transformavam-se, confluindo para um aburguesamento da vida social. O Brasil, país de recente emancipação política (afinal, no início do século XIX partilhava ainda do estatuto de colônia), expressava o descompasso entre uma organização social tradicional, de base agrária escravista, e idéias e práticas de índole "progressista". E, neste contexto, a medicina higienista, tal como presente nos textos da faculdade de medicina, apresentava os paradoxos e ambigüidades da sociedade brasileira da época. Com relação à estrutura familiar, o seu discurso era claramente normativo — priorização do cuidado e da educação dos filhos, a mulher voltada para as funções de esposa e mãe, destruição do pater famílias. Jurandir Freire Costa, em Ordem médica e norma familiar, mostrou proficuamente esse processo de progressiva medicalização das famílias dos setores de elite da sociedade brasileira, a partir de meados do século XIX — a produção de uma norma familiar de comportamento. Do ponto de vista do discurso médico sobre a Casa dos Expostos, contudo, a sua racionalidade se perdia. No que dizia respeito à Roda, os higienistas exprimiam o seu compromisso com o passado. E, nesse recuo, eles buscavam na religião (a católica, evidentemente) a fonte de inspiração — as teses eram freqüentes na utilização de noções e princípios cristãos. 11
Era nesse contexto que se instalava o debate em torno da manutenção da Roda. As dissertações médicas brasileiras forneciam argumentos em favor da conservação da Roda. As doutrinas de Duchatel e Brougham redundavam, frisavam os higienistas, em práticas severas que favoreciam o infanticídio e o aborto. Para eles, a luta pela preservação da Roda era um fato de inspiração cristã. No discurso higienista, noções como caridade, solidariedade humana e providência divina subsumiam um campo de recorrências pertencentes à esfera do religioso. Apontava-se, desse modo, para a diferença entre países católicos e protestantes no tocante ao cuidado com crianças abandonadas: (A doutrina defendida por Duchatel e Brougham) "nega à criança o direito de exigir da sociedade um meio de subsistência, se nascendo em um mundo completamente habitado não pode obter de seus pais. Diz mais que em toda a parte em que se cria um gênero de socorro, o gênero de necessidade correspondente aumenta proporcionalmente, e que finalmente prometer subsistência a quem dela tiver necessidade, é querer que a população cresça sem limite e com ela a miséria. Esta doutrina, fundada talvez em princípios verdadeiros, denuncia por sua austera severidade muita dureza e rigidez de costumes. ( . . . ) Tais são os princípios que admitidos nos países protestantes, tem sempre repelido os estabelecimentos das Rodas". 11
A "caridade cristã", diziam os médicos, "em seu imenso amor para com os homens, não faz distinção de seus males, e procura aliviá-los a todos". Segundo os higienistas esta era a prática corrente em países católicos no que concerne à criação de asilos para crianças abandonadas: Francisco de Paula Lázaro Gonçalves, Que regimen será mais conveniente para a criação dos expostos da Santa Casa de Misericórdia, attentas as nossas circunstancias especiaes, a criação em commum dentro do hospício, ou a privada em casas particulares? Rio de Janeiro, Typ. Universal de Laemmert, 1855, p. 3.
"(. . .) para nós a criança, quer seja filha de uniões ilegítimas, quer de uniões que as leis proíbem, tem igual direito ao interesse da sociedade; já nossas leis sabiamente dispostas, reconhecem hoje este princípio outrora desprezado, em termos de ignorância e barbarismo; sua benéfica ação não pode ainda infelizmente modificar a opinião pública que quase inflexível leva sua intolerância a ponto de dirigir seus golpes absolutamente sobre o sexo mais fraco; .. . " 12
As Rodas, justificam-se os médicos, correspondiam a um sinal de civilização; a edificação de espaços para o acolhimento dos "filhos do pecado" apontaria para o fim dos tempos da "barbarie", tempos associados a abandonos de crianças em vias públicas, sujeitas à fome, frio e morte. "Não seria, com efeito, lançar-se de novo na barbaria antiga o supprimirem-se as rodas, que são o único refúgio do que nasceu aos braços da miséria ou do crime e recebeu com o primeiro raio de luz os osculos queimadores e malditos da desgraça?" 13
Para além da "caridade" que a Roda exprimia, tratava-se de favorecer o ocultamento das condições em que a criança era gerada. O "exposto", provável fruto de uma união ilícita, encontraria na Roda um lugar de socorro e acolhida. Os asilos para "enjeitados" constituíam, como é possível observar, um meio de preservação da família e de salvação da sociedade. A deteriorização dos costumes produziria, segundo as teses, o afrouxamento dos laços familiares, arrastando a sociedade para a corrupção e a miséria.
11
100
Ibidem, p. 3. José Alexandre Teixeira de Mello, Histórias dos hospícios, Rio de Janeiro, Typ. Universal, 1859, p. 24. 12
13
11
"A roda não só salva a vida temporal e espiritual dos condenados à morte, pela miséria, pelo êrro innocente ou pelo crime, mas evita o escândalo dos amores peccaminosos; com ela aberta o vício esconde-se, é certo, mas assim se mantém a dignidade dos costumes e ficam sem desculpa os crimes commetidos contra uma fraca criaturinha". 14
"A roda então virá, em proveito pelo menos da sociedade, que adquire um membro mais, salvar a misera criança condemnada ao aniquilamento pela mão criminosa ou indigente de sua própria mãe, que teme as exprobrações do mundo ou recua diante do espectro da miséria a dous; a roda salvará, a criança da morte ou da perversidade, a mãe de mais um crime que ajuntar ao primeiro, e a sociedade do escândalo e todo o seu cotejo de males". 16
A Roda era vista, pelas teses, como um "mal menor" face aos efeitos resultantes da exposição da mulher, como mãe de um filho natural, perante a sociedade. O filho representava o fruto de seu pecado, prova de sua "fascinação" e "delírio". A reprodução estaria, para os médicos, restrita aos limites de uma união legítima: fora do casamento, a maternidade condenava a mulher a uma vida "não digna". Para ambos — mãe e filho — a Roda significava uma "solução menos dura". Mnima in malis. A Roda preservava a mulher da opinião pública, sempre "hostil", "intolerante" e "inflexível". "Em última analyse, a casa da roda tem, pelo menos, uma grande utilidade, uma enorme vantagem, a de dar as mulheres que a desgraça tornou mães um meio de se desembaraçarem d'um filho, cujo apparecimento as faria córar, sem recorrerem aos meios violentos e extremos do aborto provocado e do infanticídio". 15
Os higienistas, defensores da Roda, consideravam o nascimento de filhos naturais uma degeneração das leis sociais. Essa idéia servia como mais uma das justificativas na defesa da Roda. Para eles, a criação de asilos para enjeitados contribuía para a manutenção do equilíbrio social.
"Salvar" a mãe, "salvar" o filho, "salvar" a sociedade. Defendia-se a preservação da ordem social. Nessa perspectiva, elegia-se um perfil de mulher particular: a mulher "frágil". No mundo das sensações vivia a mulher. Para os higienistas, a mulher conhecia e empregava uriicamente a linguagem dos sentidos e a prática da sedução. Esse tipo de mulher, eles reiteravam, demandava "amparo" e "cuidado". E é num movimento de proteção à mulher que se encaminhavam, grosso modo, as dissertações médicas. Para tanto, apelava-se, muitas vezes, para um discurso empolado: "Virgens, cheias de inocência e mocidade, vos lançais no tremedal das paixões e manto de vossa vida, e abris a flor de vosso seio à ave de arribação, que pousou um dia, passando, ao vosso tecto; e abrindo um pensamento de morte, banqueteais o mancebo, estendendo o fructo dos prazeres na toalha do leito?.. Os higienistas concebiam uma natureza de mulher frágil e passiva. Ao longo das teses, desponta a representação de mulhervítima do homem. Ao homem cabia a autoria do crime; ele seIbidem, p. 33. Luis Delphino dos Santos, Que regimen será mais conveniente à criação dos expostos da Santa Casa de Misericórdia, attentas as nossas circunstancias especiaes, a criação em commum dentro do hospício, ou a privada em casas particulares? Rio de Janeiro, Typ. Universal de Laemmert, 1857, p. 24. 16 17
14 15
100
Ibidem, p. 24. Ibidem, p. 33.
11
dúzia a mulher e a abandonava com um filho em seu ventre. É esse o desenho traçado pelo médico do sedutor. " ( . . . ) é pois bem triste que essa que não pode resistir à linguagem dos sentidos, e da sedução, seja a única vítima da censura, e do desprezo da opinião pública, ao passo que o seu próprio sedutor passa impune por seus crimes, zombando muitas vezes da miséria a que levou a infeliz". 18
Assim, nesse trecho e em outras partes do discurso médico, a imagem do sedutor aparece com clareza: ele é um "zombador" e, com facilidade, expõe seus filhos para poder "gozar" da mulher. C sedutor utilizava sempre a astúcia e a esperteza. Nessa configuração de homem encaixava-se o celibatário, alvo, então, das críticas médicas — os celibatários contribuiriam para a desordem dos costumes. Com efeito, ao indicar o homem como responsável pelo "infortúnio" que acometia a mulher, os higienistas viam na Roda o único meio possível de "reerguimento" da mulher. " ( . . . ) a facilidade de melhor se conduzir dahi em diante, pois que uma moça cuja falta é conhecida, fica sem abrigo, e mais facilmente é acometida pela libertinagem. ( . . . ) Abri pois ao filho da deshonra um hospício, e a mãe, que por cinco ou seis meses se ocultou, ocultará nessa casa o seu crime, e poderá então honestamente ganhar a sua vida". 19
Conservava-se a Roda na medida em que ela resguardava as "moças que por um erro, por um momento de alucinação, cedem a um astucioso sedutor". Ademais, a Roda permitia a perpetuação da "honra" das famílias. 18 19
F. P. L. Gonçalves, op. cit., p. 3. Ibidem, p. 5.
104
"Destruir a Roda e o "segredo que a envolvia" seria lançar o ferrete da ignomínia sobre elas (famílias); seria patentear e entregar ao juízo inexorável do público, um ato muitas vezes filho de um momento de alucinação, um ato filho de um momento de fraqueza, a que uma inocente e cândida donzela é muitas vezes arrastada. Pelas palavras e promessas fementidas, encobertas de aparente mel, mas repletas de negro fel, que partem dos lábios de um sedutor, sem moral e sem consciência". 20
Transformações operadas na sociedade brasileira nos anos que seguiram à vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro favoreceram o surgimento de condições para o crescimento e dinamização sócio-político-econômica da cidade. Essas alterações permitiam que setores específicos da sociedade tivessem acesso a idéias e práticas ligadas ao avanço do capitalismo. Entre esses setores teve destaque o dos médicos higienistas. Da Faculdade de Medicina partia um movimento de reforma da vida das populações urbanas. Para tanto, imprimia-se uma direção de "modernização" da sociedade, submetendo os sujeitos a "novos" comportamentos. Quebrava-se com o monopólio colonial, naquilo que ele representava de "arcaísmo". Buscava-se o direito de passagem para o mundo "civilizado". A cidade, no que dizia respeito aos segmentos médios e altos, ia adquirindo ares mais cosmopolitas. Mas, no entanto, as mudanças que ganhavam terreno se adequavam a uma estrutura social ainda enredada no tradicionalismo. Assim, o liberalismo se chocava com a escravidão, as posturas universalistas com o particularismo local. Nesse amálgama de idéias e formas a produção médico-higienista ganhava corpo: ora abraçava os novos tempos, ora defendia um compromisso com o passado. O pensamento médico sobre a Casa dos Expostos, aqui apresentado, indicou que, com relação ao abandono infantil, ele reproduzia a velha ordem colonial. Nesse retorno, a mulher Manuel Veloso Paranhos Pederneiras, Expostos da Santa Casa de Misericórdia, Rio de laneiro, Emp. Typ. Dous de Dezembro, 1855, p. 21. 20
51
e a família estavam preservados. Provavelmente, não se tratava de defender a estrutura familiar da colônia. Mas sim, através de uma atualização de papéis, eleger um perfil particular de mulher "passiva" e "ingênua", direcionada ao casamento e à maternidade. Para tanto, a higiene concentrava suas forças no ataque às figuras masculinas, consideradas deletérias para a sociedade: o celibatário, o libertino. De fato, a produção médica sobre a Roda esteve caracterizada pela ambigüidade, pela descontinuidade do discurso (por um lado abrangente, balizado pela ciência e, por outro, restrito à religião), produzindo os dilemas e impasses que davam sentido à formação social brasileira de então.
NOTAS SOBRE A FAMÍLIA NO BRASIL
Angela Mendes de Almeida
21
1. Situando o ponto de partida As presentes notas têm por objetivo dar conta de conclusões preliminares, elas próprias encerrando novas problemáticas a pesquisar, de uma etapa inicial de nosso trabalho, marcada pela pesquisa bibliográfica não apenas de questões substantivas relativas à história da família no Brasil e em geral, mas também de questões metodológicas relativas ao objeto "história da família". A realização do Seminário Pensando a Família no Brasil vem demonstrar que a família pode ser abordada sob diversos prismas disciplinares, mas que, além disso, mesmo no interior da história ela pode ser abordada de pontos de vista diversos. Um desses pontos de vista tem sido expresso na linha de abordagem de recentes pesquisas sobre história da família, das mulheres e do quotidiano no Brasil, exemplarmente defendida em trabalhos como os de Eni de Mesquita Samara e Mariza Corrêa. Nessa linha de abordagem, dados obtidos em fontes primárias estariam contrariando a figura-modelo, erigida por Gilberto Freyre e integrada ao patrimônio da nossa produção histórica e sociológica, da família patriarcal. Tais dados estariam a demonstrar, ao contrário, a existência generalizada de elementos "não patriarcais", mais "modernos" e próximos da atual família conjugal, e de uma variedade de modelos familia1
Eni de Mesquita Samara, A família brasileira, São Paulo, Brasiliense, 1983; e Mariza Corrêa, "Repensando a família patriarcal brasileira", in Colcha de retalhos — Estudos sobre a família no Brasil, São Paulo, Brasiliense, 1982. 1
21
112
Ver Jurandir Freire Costa, op. cit.
113
res para além do da família do senhor de engenho. Embora concordando que as pesquisas dos adeptos dessa abordagem aportam riqueza e complexidade ao estudo da família no Brasil, o ponto de vista do nosso trabalho é outro: ao invés de recusar a figura-modelo de Freyre, nós a elegemos nosso ponto de partida. Para situar metodologicamente essas duas diferentes perspectivas, é interessante fazer referência a dois tipos de bibliografia na área de história da família em geral: de um lado a linha de Peter Laslett e do Grupo de Cambridge; de outro, autores que, embora com pontos de vista bastante diferentes, situamse na área de história das mentalidades como: Ariès, Flandrin, Badinter, Shorter, Stone e outros. A primeira, lidando muito mais com a história da estrutura e da organização familiares, portanto muito preocupada com o tamanho extenso ou reduzido da família; a segunda, com a história dos valores éticos, dos padrões morais dominantes e suas formas desviantes, e das mentalidades. Para retomar uma referência de Ariès, uma mais preocupada com a "realidade da família", outra com a "família enquanto idéia". Ou para situar-se na definição de LéviStrauss, uma dando mais peso às relações de filiação e consangüinidade, isto é, à natureza, outra dando mais peso às relações de afinidade, àqueles que a família define como fazendo parte dela, isto é, à cultura. Numa história das mentalidades, o recurso ao pensamento da classe dominante é inevitável por uma série de ordens de 2
3
4
P. Laslett (ed.), Household and family in past time, Cambridge, 1972; Philippe Ariès, História social da criança e da família, Rio de Janeiro, Zahar, 1978; Jean-Louis Flandrin, Les amours paysannes (XVI XIX siècles), Paris, Gallimard-Julliard, 1981; Elizabeth Badinter, O amor conquistado — O mito do amor materno, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985; Edward Shorter, Naissance de la famille moderne, Paris, Ed. du Seuil, 1981; Lawrence Stone, The family, sex and marriage in England (1500-1800), London, Peregrine, 1984. Introdução à edição em inglês: Centuries of childhood (1972), citado por Michael Anderson, Elementos para a história da família ocidental (1500-1914), Lisboa, Editorial Querco, 1984. As estruturas elementares do parentesco, Petrópolis, Vozes — Ed. da USP, 1976. 2
e
e
3
4
104
razão. Em primeiro lugar porque é sobre ela que versam as fontes conservadas. Além disso, os textos normativos, veio central dessas análises, têm como parâmetro ideal as famílias da classe dominante. Em segundo lugar porque, mesmo no caso de classes dominadas que gestam longamente passo a passo com a preparação de sua ascensão, formas de viver explicitamente alternativas e contrárias à da classe dominante — como é o caso da burguesia industrial ascendente na Europa face à aristocracia —, o produto desta gestação, esta nova mentalidade, não é elaborado isoladamente. Ao contrário, em cada sociedade, num momento dado, as diversas mentalidades constituem uma rede de vasos comunicantes onde a da classe dominante tem um papel determinante. Por isso, a família patriarcal é o nosso ponto de partida. Uma família patriarcal rural, ou seja, assentada no tipo de produção que dominou a vida do Brasil-Colônia, caracterizado pela produção para a exportação, a devastação da terra e o trabalho escravo. Portanto, além de rural, uma família patriarcal escravista, na qual a escravidão avilta o trabalho manual e relativiza a vida humana. E além disso, uma família poligâmica, em cuja ética está inscrito que para o homem branco todas as relações sexuais ativas são possíveis e desejáveis, enquanto que às mulheres brancas estão reservadas a castidade, e depois a fidelidade. Tomando a família patriarcal, rural, escravista e poligâmica como ponto de partida, nosso trabalho endossa ainda uma visão já clássica na história política e na antropologia mais moderna, de que essa família é uma espécie de célula básica da nossa sociedade, e não apenas nos termos de Gilberto Freyre, mas mais ainda nos termos de um texto clássico, hoje meio esquecido, o Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Isso significa dizer que a família patriarcal de que estamos falando é uma espécie de matriz que permeia todas as esferas do social: a da política, através do clientelismo e do populismo; a das relações de trabalho e de poder, onde o favor e a alternativa da violência preponderam nos contratos de trabalho e na formação dos feudos políticos, muito mais que a idéia de direitos universais do cidadão; e por fim nas próprias relações interpessoais em que a personalidade "cordial" do brasileiro impõe 55
pela intimidade e desrespeita a privacidade e a independência do indivíduo. Além disso a matriz da família patriarcal, com sua ética implícita dominante, espraiou-se por todas as outras formas concretas de organização familiar, seja a família dos escravos e dos homens livres no passado, seja a família conjugal mais recente.® Entretanto, a família patriarcal é apenas o ponto de partida. Para perceber a extensão e a profundidade dela enquanto matriz de uma ética que permeia todas as esferas do social, é necessário ir além das versões consagradas, seja a da geração de Freyre, seja a dos viajantes. Estes viram a família colonial com a ótica dos novos padrões da família nuclear burguesa tornados dominantes no século XIX na Europa, enquanto Freyre, que analisou por dentro a família do senhor de engenho, mas guiado pela problemática então viva de busca da identidade nacional, estava obcecado em demonstrar que éramos uma "democracia racial". Ao apontar subversivamente a poligamia desenfreada do homem branco da classe dominante, ele escandalizou sua época, enquanto plantava sólidos alicerces para o mito da inexistência de preconceito racial no Brasil, que só vieram a ser estremecidos recentemente pela ação do movimento negro. Dessa forma, o "ir além" significa tentar recuperar como a família patriarcal era pensada antes de ser analisada por esses observadores. Daí por que seria necessário retomar a visão de mundo dos colonizadores portugueses no que se refere à família. Tanto mais que essa visão de mundo é anterior à chegada ao Brasil de um modelo de família nuclear burguesa. Há um momento situado no século XIX, e já detectado em certos trabalhos, em que essa idéia de família chega ao Brasil, tal como chegaram outras idéias, como o liberalismo, ou os progressos tecnológicos da revolução industrial, todos eles fenômenos gestados em outra realidade sócio-econômica. E quando falamos de 6
Perspectiva semelhante é sustentada por Maria Célia Paoli, "Mulheres: Lugar, imagem, movimento", Perspectivas Antropológicas da Mulher, Rio de Janeiro, Zahar, 1984. Jurandir Freire Costa, Ordem médica e norma familiar, Rio de Janeiro, Graal, 1983, é um exemplo. 5
família nuclear burguesa estamos nos referindo àquela família intimista, agindo e circulando no espaço delimitado do privado, ao qual se opõe o espaço do público; à família que não se confunde com a área da produção, caracterizando-se por ser somente uma unidade de consumo, e que é justamente a base de toda a elaboração psicanalítica, a base do triângulo edipiano. Essa família é reduzida, e não extensa, não por causa do número de filhos, mas porque ela se pensa como um ou vários triângulos edipianos. Um elemento, decisivo ao nosso ver, dessa idéia de família é a mística da natureza feminina, que só agora começa a ser contestada. Formulada entre o século XVIII e o XIX, no limiar da revolução burguesa, ela se deu por tarefa demonstrar que embora "todos os homens sejam iguais perante a lei", as mulheres eram, por sua natureza, diferentes. A desigualdade aqui não era mais determinada por Deus ou pelo Rei, mas derivava da natureza, um fator imponderável e incontornável. Toda uma literatura inspirada em Rousseau e posteriormente sancionada pela teoria psicanalítica freudiana, irá, portanto, se debruçar sobre a natureza feminina, e em especial sobre o instinto materno, fator que irá condicionar as atividades da mulher, limitando as oportunidades que ela terá na democracia formal nascente. No entanto, essa idéia da família nuclear burguesa chega e encontra uma realidade completamente distinta daquela em que ela havia sido gestada. Uma realidade em que não havia uma classe burguesa citadina, industrial ou comercial, em ascensão, mas ao contrário, a mesma sociedade colonial, formalmente independente, baseada no latifúndio exportador cuja mola essencial era ainda o trabalho escravo. A família rural transplantada para as cidades do século XIX havia sofrido modificações superficiais. Mas a mentalidade estruturada sobre o patriarcalismo continuava a ser dominante. Esta idéia importada não encontra, portanto, uma tábula rasa. Tentam aclimatá-la ao Brasil — a obra dos higienistas e médicos será um dos canais —, mas a realidade local resiste e tenta apoderar-se da idéia 7
6
104
7
Ver E. Badinter, op. cit.
100
esotérica, domá-la e colocá-la a seu serviço, moldando-a ao cerne da mentalidade anterior. Daí porque parece-nos de fundamental importância perceber os contornos dessa mentalidade antes de ter sido ela vista por seus críticos do século XIX e, sob certa forma, exegetas do século XX, para entender sob que forma deu-se a aclimatação. Daí porque, também, o recurso ao estudo comparativo e a referência à trajetória da família na civilização ocidental cristã, cujo ponto de chegada aparece como sendo a família nuclear burguesa, e de cuja desagregação ou superação se discute hoje na "sociedade tardo-burguesa", ou seja, nos países capitalistas desenvolvidos. 8
2. A família patriarcal da antigüidade ao capitalismo Vista do ponto de vista retrospectivo da civilização ocidental cristã, a partir da emergência, entre o século XVIII e o século XIX, da família nuclear burguesa, intimista e separada rigidamente do processo produtivo, a trajetória dessa instituição normativa só à primeira vista pode parecer linear. Na passagem da organização gentílica para a nação dirigida pelo Estado, reside também a chave da formação da família patriarcal na Antigüidade Clássica, família em que esposa e filhos compunham, juntamente com escravos, agregados, gado e todos os outros bens móveis e imóveis, o patrimônio do pater famílias. Propriedade privada e patriarcalismo são, portanto, senão termos sinônimos, fenômenos análogos, entrelaçados ambos pela instituição da escravidão, a propriedade de seres humanos. A sexualidade passava sobretudo por fora dessa família, realizando-se com as diversas categorias de amantes e prostitutas — algumas com um status social elevado —, ou com outros rapazes, na Grécia principalmente.
A partir do cristianismo, generaliza-se uma moral diferente que transforma a família patriarcal, impondo o casal com uma instituição chave do casamento. Pesquisas e trabalhos recentes vêm mostrando que essa nova moral já existia no fim do Império Romano, por influência da filosofia estóica e de outras contemporâneas, mas o cristianismo colou-a ao projeto de salvação da alma. Nessa nova moral, o exercício do sexo torna-se um mal absoluto, apenas tolerável pela necessidade de continuidade da espécie, e a castidade e a continência sexual são erigidas em valores. A nova moral dirige-se naturalmente ao homem, o sexo feminino sendo implicitamente considerado mero veículo (ou não-veículo) da satisfação masculina. Assim, na literatura cristã, de São Paulo a Santo Agostinho, os homens serão convencidos a abandonar o pecado, e se for impossível a continência, "descarregarem-se" com a esposa legítima, ao mesmo tempo cumprindo a função natural e indispensável da procriação. Em São Paulo são lançados os eixos de comportamento feminino: obediência, passividade e silêncio. A era cristã inaugura, assim, e reforça ao longo de muitos séculos pela Idade Média adentro, um parâmetro de vida: a recusa do prazer. Não beber, não comer, não dar conforto ao corpo seriam os requisitos preparatórios da continência sexual. Nesse movimento, a Igreja Católica termina por separar rigidamente, por volta do século XI, os celibatários e continentes — o clero — dos que se casam — os laicos. Nesse mesmo processo o pecado original de Adão e Eva — antes um pecado de desobediência e curiosidade — se sexualiza e se transforma num pecado da carne, ao mesmo tempo que, graças sobretudo a Santo Agostinho, toda criança, fruto de um ato concupiscente e portadora do pecado original, se transforma no símbolo do mal. Manifestação do pecado e do erro, essa criança é aquela que Ariès vai analisar, 10
11
9
Massimo Canevacci, Dialética da família ("Introdução"), São Paulo, Brasiliense, 1982. Ver Michel Foucault, História da sexualidade; II. O uso dos prazeres; III. O cuidado de si, Rio de Janeiro, Graal, 1984 e 1985. 8
9
104
Ver, além de Foucault, Paul Veyne, "Les noces du couple romain", in L'amour et la sexualité, Paris, L'Histoire-Seuil, 1984; e outros escritos seus. Jacques Le Goff, "Le refus du plaisir", in L'amour et la sexualité, op. cit. 10
11
100
revelando o processo histórico pelo qual ela começa a ser vista apenas como criança. O Renascimento, a Reforma, e mais tarde o Iluminismo vão constituir, cada um num terreno diferente, brechas a essa moral cristã de abstinência, pois atacando os dogmas da Igreja e o modo de pensar global que ela havia imposto, abriam espaço para novas formas de viver as relações homens-mulheres e adultos-crianças. Com a Reforma Protestante, o sexo torna-se menos pecaminoso, assim como comer, produzir e outras atividades tidas como naturais, desde que feitas a serviço de Deus. Mas é na linha aberta pelo Renascimento, culminando no movimento de idéias do Iluminismo, que fermenta outro fenômeno que abrirá uma brecha mais profunda na ética cristã — o mundanismo — cujo interesse maior está em que ecos dele chegam ao Brasil a partir da vinda da família real (1808). Esse fenômeno, cuja amplitude o torna visível no século XVIII, havia na verdade seguido a linha de desenvolvimento da vida nas cortes palacianas, transplantadas para as grandes cidades governadas por Estados absolutistas: é o ponto culminante de um movimento de secularização que desde o Renascimento corroía a visão de mundo imposta pela Igreja. No século XVIII, irradiando-se a partir da França, ele constituía ao mesmo tempo uma moda e um modo de vida que representava uma "popularização" dos hábitos "decadentes" da aristocracia, assumidos por setores da burguesia que se aristocratizavam, e tornados modelo de "modernidade" para as populações urbanas. Mas, ao contrário do protestantismo, o mundanismo iria atacar a visão da Igreja por um lado hoje mais atual: o lado do prazer imediato e do conhecer por prazer, em contraposição à salvação eterna e ao saber revelado pelos dogmas. No mundanismo a mulher aristocrata assume o prazer sexual quase em igualdade de condições com o homem, aspira ascender aos lugares ocupados pelo homem no mundo da política, das ciências e das artes, "reina" nos salões, nos bailes e em outros lazeres, mas em contrapartida rejeita a maternidade, a amamentação em primeiro lugar, mas também a criação e a atenção afetiva aos filhos. 12
13
Op. cit. ° E. Badinter, op. cit. 12
104
A família nuclear burguesa, esse modelo ideal, surge no marco da ascensão da burguesia industrial, em parte como desenvolvimento e aprimoramento ideológico da família protestante, em parte como reação à "decadência de costumes" da aristocracia, mas perfeitamente sintonizada ao espírito burguês da revolução, à idéia básica da democracia formal. Todos os homens são iguais perante a lei, os ricos enriquecem e os pobres empobrecem por causa das leis "naturais" do mercado, mas a família estando excluída da produção, teria constituído uma célula perigosamente igualitária se não houvesse também leis "naturais" que colocassem a mulher no seu lugar, que não é igual ao do homem. A família intimista, fechada para si, reduzida ao pai, mãe e alguns filhos que vivem sós, sem criados, agregados e parentes na casa, eis o modelo de modernidade no limiar do século XIX. A mulher, "rainha do lar", mãe por instinto, abnegada e vivendo em osmose com os bebês, sendo ela o canal da relação entre eles e o pai, que só se fará presente para exercer a autoridade. Essa família, é bom que se diga, continua patriarcal: a mulher "reina" no lar dentro do privado da casa, delibera sobre as questões imediatas dos filhos, mas é o pai quem comanda em última instância. Ou seja, no padrão ideal, ele deve comandar. A psicanálise fará, mais tarde, da internalização por cada filho da autoridade paterna, a condição sine qua non de sua adaptação à sociedade, de sua assimilação cultural, e de sua saúde mental. 14
3. Vazios e interrogações nas imagens da família patriarcal no Brasil Üma história da família no Brasil, que quisesse percorrer o mesmo caminho retrospectivo a partir da família conjugal atual, sobre cuja crise hoje se discute, teria ainda maiores dificuldades pois sequer há uma aparente linearidade. Como todos O papel de Rousseau nessa ideologia, e o contraste entre ele e o "aristocrata decadente" Voltaire, está magistralmente explicitado em E. Badinter, op. cit.; e em Émilie, Êmilie ou l'ambition féminine au XVIII siècle, Paris, Flammarion, 1983, da mesma autora. 14
e
61
os fenômenos de "modernização" na nossa história, a passagem do "tradicional" ao "moderno" leva da definição do "moderno" à redefinição do "tradicional". O estudo do século XIX apresenta uma simplicidade superficial. O modo de vida na Colônia, perpassado em seu conjunto pela proeminência da família patriarcal rural, escravista e poligâmica, foi posto à prova a partir de 1808, com a chegada da corte portuguesa. Um processo que Freyre chamou "re-europeização", de crítica a essa família "oriental" marcada pela influência árabe sobre os portugueses, e cuja marca mais destacada era o lugar da mulher fechada dentro de casa, tão ressaltado pelos viajantes, levará a um movimento para trazer a família e a mulher para fora da casa, que tem muito a ver com a mundanização, e ao hábito social dos saraus, que então se instala. A literatura romântica do século XIX mostra abundantemente o papel "europeizante" da corte portuguesa, ela mesma "recém-europeizada" pelas mãos do "estrangeirado" Pombal, nos fins do século XVIII, depois de mais de 200 anos de isolamento e de convivência com a Inquisição. Mas bem antes que o fenômeno da mundanização assumisse qualquer consistência para além da superficialidade de uma nova moda, chega uma outra influência, com a marca da burguesia industrial européia, e cujo peso, reforçado pela ação dos higienistas, foi magistralmente analisado por J. F. Costa. O movimento a que esse autor deu o nome de "aburguesamento" atuou no sentido inverso: levar a mulher de volta para a casa, mas agora para ser a "rainha do lar", a mãe ativa, competente, dedicada e diligente, misto de ama, enfermeira e professora. Mas tanto a "re-europeização" como o "aburguesamento" eram movimentos impulsionados por idéias que haviam tido origem numa realidade social radicalmente diversa. Aqui estas idéias confrontavam-se com uma realidade em que não havia nem uma aristocracia mundana, nem uma urbanização densa, e muito menos um setor social qualquer de peso que pudesse ser denominado de burguesia. Daí porque tanto um como outro 15
processo vacilam perplexos diante da sociedade incipientemente urbanizada e profundamente marcada pelo regime escravo. A chegada do "moderno" através da importação de idéias gera então um processo de assimilação dele pelo "tradicional", até que o "moderno" se transforme em algo de sentido bastante diferente da idéia original. Assim sucedeu com o romantismo, analisado por Roberto Schwarz, que vai importar o enredo romântico, implantando-o numa realidade em que "o favor" é "a mediação universal", alternada com a brutalidade simples. Sucedeu também com a noção de cidadania da revolução democráticoburguesa, analisada por Sérgio Adorno, que se torna restrita à sociedade civil possível, formada pelos latifundiários, o "senhor-cidadão" Da mesma forma, o padrão de mentalidade da família nuclear burguesa será reapropriado e adaptado pela mentalidade da família patriarcal. É desse "casamento" entre estas duas idéias, realizado na peculiaridade da nossa sociedade, que é preciso falar. Alguns críticos recentes de Gilberto Freyre chegam a avançar a idéia de que a família patriarcal corresponde muito mais à década de 1930 que ao Brasil Colônia. Não deixando de ser em parte correta esta afirmação, restar-nos-ia desvendar por que o conceito de Freyre penetrou tão bem no nosso quotidiano, enquanto noções como democracia, cidadania e outras, trazidas com o ideário revolucionário-burguês, permanecem estranhas ao nosso modo de ser mais íntimo. São essas passagens do "tradicional" ao "moderno" (que na análise da agricultura brasileira recente geraram a feliz expressão de "modernização conservadora"), passagens em que o "moderno" brasileiro assume formas de modernidade, conservando a essência do tradicional, que levaram os ideólogos e ensaístas das décadas de 1920 e 1930 à perplexidade, à busca de nossa verdadeira identidade, voltando-se para o regionalismo, o índio, e a Colônia. O "aburguesamento" das famílias constituiu, inicialmente, mais um verniz superficial atingindo parte dos hábitos das elites urbanas, mas sempre coexistindo com o substrato da 16
R. Schwarz, Ao vencedor, as batatas, São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1977; e S. Adorno de Abreu, O liberalismo na formação da ordem social competitiva, Relatório de Pesquisa n.° 1, 1981. 16
15
Op. cit.
104 62
nossa formação engendrado antes do século XIX. E é desse "casamento" que nasceu a nossa família conjugal atual. A família patriarcal é, portanto, o ponto de partida. Como já mostrou S.B. de Holanda, essa família tem seu modelo muito mais na família da Antigüidade, aquela cujo nome se originou de famulus, ou seja, escravo. Por essa mesma razão, um dos traços fundamentais do padrão ideal da família patriarcal é o pátrio-poder ilimitado do pater famílias, um poder de proprietário. Enquanto família católica, ela adotava a monogamia formal. Coube a Freyre, no entanto, desvendar e enfatizar o caráter poligâmico da família patriarcal, a expectativa ideal de que o macho branco tivesse todas as relações heterossexuais e ativas possíveis, com tudo que lhe passasse pela frente, das frutas às árvores, dos animais aos moleques, das escravas à esposa. A dupla moral no casamento não é especificamente brasileira, ao contrário, é fenômeno generalizado e correspondente à opressão da mulher, mas assumiu entre nós um caráter específico. Essa especificidade, que Freyre descreveu com detalhes, para escândalo da literatura bem-posta de então, mas que justamente se tornou o elemento de sedução nacional de sua obra, é que ela se combina com um outro elemento mítico extremamente sedutor: a ausência de preconceito racial entre nós, herdada dos portugueses. Descrevendo longamente a sociedade portuguesa, a presença árabe e judia e a "permeabilidade" racial portuguesa, Freyre irá dar por assentada uma afirmação que é muito popular no Brasil, mas que a história da colonização portuguesa na Africa viria infirmar, de que os homens portugueses preferem as mulheres negras. Com a exaltação dessa verdade ele fixaria a poligamia como um traço do caráter nacional (masculino) e expressão da "doçura" das relações entre senhor e escravo, da falta de preconceito racial, da "democracia racial", a única possível entre nós. Entretanto, a moral dominante entre os colonizadores, a moral da Contra-Reforma fixada no Concílio de Trento (15451563), estava longe de admitir tais liberalidades. De meados 17
17
104
Raízes do Brasil, Rio de Janeiro, Livraria José Olympio, 1982.
do século XVI até o século XVIII, a vida intelectual em Portugal caracterizou-se pela pobreza determinada pela presença atuante da Inquisição e reforçada pelo domínio espanhol (15801640). A Igreja era a fonte de referência única, e face ao Tribunal do Santo Ofício, apenas a Companhia de Jesus persistia. Ê de se imaginar que a idéia medieval de sexo como pecado ou mal absoluto havia sido acentuada e ganhava ainda dimensões mais importantes com a transformação da delação num ato social positivo e meritório. Há um outro elemento da moral dominante entre os colonizadores, que embora não explícito, poderá abrir maior luz sobre o caminho que levou à aceitação e exaltação da poligamia: a ética da desvalorização do trabalho manual e a integração harmônica da escravidão. À desvalorização do trabalho correspondia um ideal de vida ociosa, própria da aristocracia, e uma valorização das profissões não "mecânicas", das que exigiam uma "inteligência" verborrágica, o bem falar, as formas. Desde o século XVI, os negros eram utilizados em Portugal para todos os serviços e o humanista flamengo Nicolau Clenardo espantava-se de ver a cidade de Évora coalhada de negros que faziam tudo, ao mesmo tempo que os portugueses consideravam uma desonra aprender uma profissão mecânica. Dessa forma, a escravidão pôde ter desde o primeiro momento, uma presença total na sociedade colonial, permeando todos os aspectos da vida, e ultrapassando a bipolaridade senhores-escravos, para se incrustar na existência dos próprios homens livres. A "doçura" do senhor para com o escravo significava a estruturação de toda a vida social sobre o favor, recaindo sobre os subalternos favorecidos e privilegiados, enquanto para os outros sobrava a violência. Os subalternos — escravos e homens livres — habituaram-se a apostar no favor e a desacreditar da luta organizada, aprenderam a utilidade de ser "um homem do co18
M. Gonçalves Cerejeira, Clenardo e a sociedade portuguesa de seu tempo, Coimbra, Coimbra Edit. Lda., 1949; e H. C. de C. M. Saunders, A social history of black slaves and freedmen in Portugal (14411555), Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1982. Ver também S. B. de Holanda, op. cit.
18
65
ronel X", como membro de uma grande família, elemento que está na origem da "sociedade relacional" de que fala Roberto Da Matta. Essa "doçura" ramificou-se também pela sexualidade, como forma de estruturação do poder. O homem branco pater famílias era dono prepotente da mulher, dos filhos e dos escravos, mas também pai generoso e carinhoso amante. Distribuindo a uns privilégios, favores e doçura, e a outros, castigos e brutalidade, ele estabelecia esta forma sui generis de "democracia" pela qual os de baixo sabem que podem suplantar os do meio. A "virilidade colonizadora" do português, para retomar a expressão de Freyre, criava uma grande intimidade entre o branco, suas escravas, e os moleques, muitos deles seus filhos. As crianças escravas funcionavam tanto como bichos de estimação, ou como afilhados ("quase parentes"), ou ainda como objeto sexual. As mulheres negras, por sua vez, eram todas potencialmente objeto sexual, mas algumas atingiam aquele status de relativo respeito da "mãe-negra", não apenas amamentando os filhos legítimos da família, mas criando-os e formando-os. A mulher branca, no entanto, aquela que na genealogia da família brasileira seria a ancestral da esposa da família conjugal (enquanto a escrava o seria da "mulher da rua", da puta), aparece na mentalidade da família patriarcal como uma figura esvaziada. Seguindo os padrões do catolicismo português, ela era, por sua castidade e fidelidade, guardiã da honra do pai e do marido. Os viajantes do século XIX viram-na em geral ociosa, feia, gorda, precocemente envelhecida, só preocupada em castigar os escravos. Para a geração de 30, Freyre em especial, ela pertencia ao pai e ao marido e podia ser morta a qualquer suspeita de adultério, mas não era por excelência nem objeto sexual e nem mãe, cumprindo a função de reprodutora da descendência legítima. Foi essa a imagem elaborada: qual foi o caráter da trajetória que levou a esvair-se a figura da esposa pura e honesta, legada pelo catolicismo do Concílio de Trento, até chegar a esse vazio? 19
Carnavais, malandros e heróis — Para uma sociologia do dilema brasileiro, Rio de Janeiro, Zahar, 1983; e A casa e a rua, São Paulo, Brasiliense, 1985. 19
100
FAMÍLIA E CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE
O INDIVÍDUO E A SOCIEDADE EM MACHADO DE ASSIS Kátia Muricy O texto que aqui apresento parte da tese que estou fazendo, uma tese de doutorado, que tem relação com aquele projeto anunciado pelo Michel Foucault: a realização do que seria uma genealogia da alma moderna. Essa tese tem, portanto, como tema mais geral, a questão do advento do que poderia ser chamado — e isso mereceria maiores esclarecimentos — de "modernidade". A construção de uma subjetividade é uma questão de fundo no meu trabalho e está ligada àquilo que seria caracterizado como o aparecimento do sentimento de privacidade, de interioridade, no curso do século XIX. Algumas hipóteses são fundamentais nesse trabalho. A primeira liga a série de transformações sociais que o século XIX assiste a um projeto chamado de "normalização", aquele projeto normativo que é caracterizado pelo Foucault como uma reunião de práticas discursivas e nãodiscursivas, dentro de uma articulação muito específica. Esse projeto normativo caracterizaria, de uma maneira geral, o que poderia ser entendido como o limiar da nossa modernidade. Uma outra hipótese fundamental, que organiza o tema da tese, é a de considerar o romance de Machado de Assis, em sua singularidade, como um contradiscurso que, em seu tom "conservador', numa espécie de antiprogressismo que a crítica literária tantas vezes atribui ao próprio Machado de Assis, revelaria as ambigüidades do discurso médico e a inconsistência desse projeto que produziria, entre outros fatos, a família nuclear. Em Machado de Assis há a revelação, que eu chamo de contradiscursiva, da inconsistência do projeto médico. Eu retomo, na tese, hipóteses já trabalhadas principalmente em um livro, A 100
danação da norma, sobre a constituição da psiquiatria e sua relação com a medicina social, e o livro de Jurandir Freire Costa, A ordem médica e a norma familiar. Parto dessas hipóteses, mas trabalho mais demoradamente essa função que atribuo ao texto de Machado de Assis, esse aspecto singular de um contradiscurso face ao projeto que eu chamo de normativo e que se liga à medicina. Desenvolverei o encadeamento da argumentação da tese e posteriormente procurarei esclarecer o que necessariamente vai ficar aqui um pouco condensado demais. A proposta mais geral é a de analisar o que eu chamo de radical singularidade do romance de Machado de Assis, em face da literatura de sua época, e do discurso cientificista do século XIX, identificado aos ideais liberais burgueses. Para isso eu considero, na ficção de Machado de Assis, as transformações por que passou a família e a sociedade brasileira nas últimas décadas do século XIX. Essas transformações consistiriam na progressiva conversão do modelo patriarcal ao modelo da família moderna, conjugal, vivendo uma nova sociabilidade, integrada à ordem urbana e ao Estado. Consideramos que no século XIX, no Brasil, o poder passa a se organizar a partir de um novo modelo. A combinação de novas práticas discursivas e de práticas não-discursivas, como instrumentos técnicos de controle disciplinar, determinaria o aparecimento de uma organização caracterizada não mais como coercitiva e punitiva do social, mas do que chamamos de ordem normalizadora. A medicina social seria o agente privilegiado desse processo. A conversão do universo familiar à ordem urbana foi um dos objetivos fundamentais da medicina social através da higiene, em seu projeto de normalização da vida social brasileira. Através da higiene — eu trabalho aqui as hipóteses do Jurandir Freire Costa —, a medicina social teria ministrado à sociedade, em especial à família urbana, as normas que permitiram essa conversão. Incorporando funções anteriormente exercidas por outros agentes sociais, em particular os representantes da legalidade real, os representantes da política religiosa e os executores 1
2
1 2
Roberto Machado e outros, Rio de Janeiro, Graal, 1978. Rio de Janeiro, Graal, 1979.
104 70
da política religiosa, a medicina teria estendido o seu domínio a todo o social. Esse movimento de transformações radicais que ocorreu na família brasileira no século XIX, movimento no qual o papel da medicina, como saber disciplinar, teria sido fundamental, vem expresso no romance. O romance do século XIX representa novas formas de relação familiar e novos padrões de comportamento social. Essas representações são quase sempre mediadas pelo discurso médico que produziu modelos normalizadores para a família: os exemplos do pai e da mãe higiênicos, por oposição à mundana, ao libertino e ao celibatário, como vêm caracterizados em A ordem médica e a norma familiar. Aparecem na cena familiar oitocentista novas figuras: a mulher histérica, o temperamento doentio, a criança mimada. Mais do que produzir essas novas figuras, frutos da transformação dos fenômenos emotivos da família em fatos médicos, como escreve Jurandir Freire Costa, o discurso médico teria elaborado categorias explicativas das ações pessoais que determinariam uma literatura da interioridade, fascinada pela enumeração de características físicas e psicológicas dos personagens. O romance naturalista ilustra exemplarmente a cientificização do discurso pela medicina. Esta obteve, em seu projeto de transformação da família urbana, um ganho extra e inesperado na literatura. Com os romances naturalistas, voltados para o estudo dos temperamentos, a medicina entra no campo literário, estendendo à linguagem a medicalização que efetuava em todo o espaço social. Na ânsia de intervir no processo social, nossos romancistas irão dar sua adesão à ciência e comungar com os objetivos da medicina. O livro — Tal Brasil, tal romance — de Flora Sussekind, dá conta dessa medicalização da linguagem no romance naturalista. A ficção de Machado de Assis é tradicionalmente classificada pela história literária como pertencendo à vertente psicológica desse naturalismo. O romance de Machado de Assis, que insiste ironicamente em se endereçar à "amiga leitora", a quem o naturalismo dera as costas, na sua ânsia em ser "experimental, científico, viril", não apresenta ao nosso ver a característica psicologizante sempre apontada, so3
3
Rio de Janeiro, Achiamé, 1984.
bretudo porque é bastante cético em relação ao que se poderia chamar de psicologia, uma psicologia da consciência e do comportamento, que era o que se poderia entender por esse termo na época de Machado de Assis. O casamento é o assunto preferido na obra de Machado de Assis, isso que ele chamou em uma de suas crônicas, de "complicação do natural com o social". O casamento determina a ação, define os personagens, preocupa o narrador. São as incursões do amor, o natural, na placidez da família, o social, que permitem desnudar, pela análise dos conflitos suscitados, tanto as conveniências do patriarcalismo, quanto os interesses da nova moral médico-burguesa, relativa ao amor e ao casamento. Nossa hipótese é que, no romance de Machado de Assis, tomado aqui não na sua especificidade de fato estético, mas como um enunciado político, encontram-se os elementos críticos capazes de desnudar os objetivos da estratégia reguladora do social da medicina, e não apenas a sua representação, como é o caso dos romances naturalistas: revelam também o fracasso do projeto normativo. Mais do que isso, o romance machadiano produz um outro tipo de discurso, capaz de se opor àquela estratégia. Com essa hipótese, o que se pretende revelar é o aspecto político essencial do romance machadiano, o que explicaria alguma coisa que nunca é muito explicada e que quase sempre é atribuída à genialidade do autor. Machado de Assis é um certo "malestar" na história literária, na medida em que a sua singularidade quase sempre é explicada por uma psicologização, que vai desde a explicação pela genialidade do autor até à consideração do componente de vingança, dada a sua origem social, em relação às elites da sociedade brasileira. A ironia de Machado de Assis, o seu ceticismo com respeito aos direitos da razão universal, do progresso e da verdade da ciência, indicam uma dimensão radical da crítica do autor àquilo que aparece no projeto de transformação da sociedade oitocentista, veiculado aí pelo discurso médico. O que eu vejo principalmente é que o texto de Machado de Assis se dirige ao fundamento dessas transformações, a racionalidade burguesa. Uma nova ótica poderia assim explicar o ceticismo do autor e a sempre assinalada singularidade que 104 72
ocupa no panorama literário do século, sem recorrer às empobrecedoras formulações psicologizantes a que me referi. Essa genialidade do autor tem sido na maior parte das vezes a resposta enigmática à sua peculiaridade. Consideramos que a hipótese da existência de um projeto de normalização na sociedade oitocentista nos permite pensar a diferença do texto de Machado de Assis, em referência à discursividade de sua época, que o engendrou. A compreensão do texto machadiano como contradiscurso, portanto indissociável da época que o produziu, permite-nos também lançar uma nova luz sobre a tradicional polêmica em torno do compromisso político do seu texto. A crítica literária oscilou sempre entre considerar Machado de Assis um escritor conservador ou progressista. Cortou-lhe muitas vezes a cidadania, considerando-o pelo parentesco com Sterne e Dickens, muito pouco ligado ao Brasil, pouco nacional, como é o caso da crítica do Sylvio Romero; constatou nele uma falta de compromisso com a nossa realidade política e social que chegava, segundo Antonio Callado, às raias da alienação mental. Mesmo um crítico que se confessa marxista, o que surpreende mais pelo conteúdo da recriminação, acusa-o de pouco patriota e niilista, de achincalhar a própria instituição da família, como faz o Otávio Brandão no O niilista Machado de Assis. Por outro lado, preocupado em recuperar Machado de Assis para uma tradição crítica da literatura brasileira, outras leituras têm, com inevitáveis embaraços, procurado negar esse individualismo cético, expresso no tom conservador de Machado de Assis, sem se dar conta de que nele, e não em um entusiasmado progressismo, reside a força demolidora da crítica à sociedade oitocentista e aos ideais liberais do discurso médico na ficção machadiana. Consideramos, ao contrário, que o sempre indicado ceticismo do autor resulta de sua postura crítica, que chamo de "resistência", aos valores e ao discurso que essa nova ordem burguesa enuncia. Tal postura se esclarece na medida em que situamos justamente a postura conservadora explícita nos romances chamados de primeira fase. Nossa hipótese é de que 4
4
Rio de Janeiro, Simões Editora, 1957.
nessa fase, caracterizada como conservadora, Machado de Assis se aproxima das normas médicas sobre o comportamento familiar, e é aí que, mais claramente, ele adota valores próximos da tradição colonial. Tal fato permitiria situar, por um lado, as ambigüidades da posição do autor nesse período, e o radicalismo de sua postura crítica nos romances chamados de segunda fase. Por outro lado, revelaria as ambivalências do discurso médico, ligado a uma ideologia cientificista e liberal européia, propondo-se como um discurso liberal e progressista, mas comprometendo-se politicamente com os valores e com a realidade patriarcal. O ponto de vista da narrativa nos romances de primeira fase é o da ótica moral da família, isso que Roberto Schwarz indica no seu livro Ao vencedor, as batatas. Essa moral delimita o espaço dos conflitos e fornece os preceitos que servirão de norma para a consideração dos personagens e de suas ações. Não há, no entanto, uma coincidência plena com os valores tradicionais da sociedade patriarcal. O tom, se é conservador, não é autoritário nem tradicional. Há nesse romance o que Roberto Schwarz chama de "paternalismo esclarecido", que não está longe, pelo contrário, do que defendem os higienistas na ambigüidade de um discurso que procura conciliar modernização, que assegurava o poder à medicina, com os valores básicos da família e da sociedade patriarcal. Elemento decisivo, no discurso médico, para a saúde social, a família será evocada nos romances da primeira fase, da mesma forma como o é no discurso médico, como agente ordenador social. Vingativos, corruptos e corruptores, sensuais e inescrupulosos, os personagens libertinos ou celibatários são francamente negativos para a ótica dos quatro primeiro romances de Machado, tanto quanto eram para as teses dos higienistas. Da mesma forma, em um ou em outro discurso, é negativa a visão da mundana, desviante em relação ao modelo da mãe de família das teses médicas, e desviante em relação à "boa senhora", que é como chama Machado de Assis a mulher de família ideal nesses romances. Nos romances de segunda fase, Machado de Assis se libera desse discurso progressista-liberal de sua época, ao mesmo 5
5
São Paulo, Livr. Duas Cidades, 1977.
104 74
tempo que se desprega da ótica dos sentimentos familiares, tal qual esses são descritos nos romances de primeira fase. Ao denunciar a decomposição moral da família patriarcal, Machado não se compromete, no entanto, com a concepção nobre e burguesa da família de que tais instâncias médicas ditavam as normas. Ao contrário, o que parece é que Machado de Assis, ao mesmo tempo em que registra as modificações por que passa a família patriarcal, mostra também como perdura essa estrutura patriarcal, inteiramente desagregada. Não há indicações sobre o advento de uma família nuclear. Pelo contrário, se há o registro de alguma modificação, é o da diluição do modelo defendido pela higiene, pelos médicos higienistas. Então, se alguma coisa de novo se anuncia em Machado de Assis, na revelação desse novo aparece já a sua decomposição. E essa singularidade é muito marcante nele, na medida em que, se há aí o advento de uma nova família, da família burguesa, há também o registro da decomposição de seus valores. É como se o ideário liberal, no texto de Machado de Assis, se revelasse inconsistente, para retomar aqui um tema de Schwarz. O tratamento dado às figuras criadas pela norma saudável do casamento no discurso médico, é de uma forma bem diversa nesses romances de segunda fase. Por exemplo, o celibatário, os libertinos e as mundanas, não são mais o anormal do santo pai, da santa mãe de família, mas são antes os pedagogos, que ensinam a essência das relações humanas nessa ordem que, se não é nova, é ao menos uma ordem conturbada, na qual a ordem antiga vem se decompondo. Se um novo modelo está sendo adotado, há aí alguma coisa muito peculiar que não se identifica com o modelo liberal europeu e que já está distante da estrutura da Colônia, em termos da sociedade brasileira. Nesse sentido, um personagem como o Conselheiro Aires, aquele "celibatário por vocação", tem, enquanto é justamente celibatário, a sua ótica privilegiada no romance. Esse personagem aparece aí como veículo do que eu estou chamando um contradiscurso à nova ordem burguesa. Não articulando a dicotomia sociedade colonial versus sociedade burguesa, liberal e moderna, Machado de Assis erige um discurso de resistência ao ideário dessa nova ordem burguesa, da qual o discurso médico, articulado às práticas higienistas, seria o dispositivo exem-
piar. Um contradiscurso capaz de ironizar as conquistas sociais do discurso liberal da política brasileira, como, por exemplo, a legislação abolicionista (é conhecido o episódio do Memorial de Aires, onde a carta da Abolição tem menos valor, na avaliação do memorialista, do que uma carta pessoal) e mais radicalmente capaz de ser cético face às noções de progresso e à ciência, como se pode ver numa novela como O alienista. Cético também face à questão da verdade, como se pode ver em afirmações bastante argutas sobre a relação da verdade com o poder, como aparece em Quincas Borba, quando Machado de Assis escreve que "a verdade está do lado de quem tem o cabo do chicote". Isso numa época em que o trinômio verdade-ciência-progresso era o fundamento do discurso liberal, do discurso médico, do discurso progressista. A racionalidade burguesa é principalmente visada também no tema tão claro, tão constante em Machado de Assis, que é o da partilha entre a sandice e a razão, tema constante e significativamente ironizado ao longo de sua obra ficcional. Além de sua consistência própria, esse tema de partilha da loucura e da razão serve como metáfora de uma sociedade que procura sua identidade nos traços modernos das sociedades industriais desenvolvidas da Europa, esse espelho onde não cessa de se mirar. A ciência de Simão Bacamarte, o alienista, o humanismo de Quincas Borba, vizinham com a loucura, conduzem os seus porta-vozes a ela. A luz tropical, o progresso, a ciência e a filosofia européia sofrem metamorfoses. No espelho tropical a razão moderna projeta uma outra face. Assim, as teses médicas brasileiras sobre alienação mental do século XIX, que copiavam servilmente os autores franceses — Pinel e Esquirol —, defendiam, como estes, a observação como procedimento científico por excelência, mas não dispunham de qualquer prática asilar. Trabalhavam as teorias importadas, sem rigor e simploriamente, não cuidando de suas distinções, confundindo-lhes as questões e os conflitos teóricos. Esta a realidade das teses médicas do século XIX. No entanto, não nos parece suficiente considerar essas produções apenas sob a ótica de uma transposição dos modelos europeus. Interessa-nos a compreensão desse espaço que no século XIX as acolhe e as inscreve em um movimento de idéias 104
mais amplo, em procedimentos específicos, que nos permitem caracterizar um processo que responde a demandas reais da nossa sociedade. São desajeitadas essas teses, como desajeitadas são as elites de Machado, as elites de Itaguaí ou do Rio de Janeiro, construindo suas casas ao gosto europeu, para contemplá-las embevecidas do lado de fora, como o albardeiro Mateus, de O alienista, o banqueiro Santos, de Esaú e Jacó, ou o Rubião, de Quincas Borba. São casas novas, adornadas de objetos e móveis importados, povoadas de criados europeus, falando línguas incompreensíveis para os moradores, deslocados em seus próprios lares, preferindo olhá-los como objetos testemunhas do seu prestígio social. Em O alienista, escreve Machado de Assis, "era costume do Mateus estatelar-se no meio do jardim, com os olhos na casa, namorado, durante uma longa hora, até que vinham chamá-lo". Uma elite que se atropela na corrida atrás do progresso, tão pouco à vontade em suas recentes carruagens, que, como diz um personagem de Esaú e Jacó "não fosse a posição na boléia, tomar-se-ia o cocheiro pelo patrão". Pouco à vontade, mal ajustada em suas roupas de sóbrio luxo europeu, compradas nas lojas elegantes da rua do Ouvidor, essa elite freqüenta as temporadas líricas e os salões mundanos, falando um francês cujo vocabulário era como o de Sofia em Quincas Borba — apenas estritamente adequado às coisas do vestido, da sala e do galanteio. Aprendizes da nova ordem, correm estouvados atrás de um tempo que lhes escapa, ofuscados pelo brilho dos brasões e dos títulos nobiliárquicos demasiado recentes. Nessa corrida, tropeçam incessantemente, atrapalhados com as inovações, como aquela senhora que Bentinho e José Dias, em Dom Casmurro, vêem cair na rua, suscitando a reflexão do agregado de que "este gosto de imitar as francesas da rua do Ouvidor é evidentemente um erro: as nossas moças devem andar como sempre andaram, com seu vagar e paciência, e não esse 'tic-tic' afrancesado". Outra questão discutível, que talvez faça uma relação mais direta com o tema em debate, é afirmação habitual da crítica literária, de ser o romance de Machado de Assis um romance de interioridade. Quer dizer, a vertente naturalista teria se dirigido para a consideração do aspecto fisiológico — aquilo que eu chamei da exaustiva enumeração dos tipos, dos tempera100
mentos — e Machado de Assis seria a vertente psicológica oposta a esse naturalismo. Então Machado de Assis faria uma literatura da interioridade. Não concordo com esse aspecto, a não ser que se caracterize muito bem o que é essa interioridade em Machado de Assis. Quer dizer, retomando a tese de Jurandir Freire Costa, que caracteriza a nova sociabilidade do século XIX a partir de dois aspectos correlatos — um, que seria a exteriorização da família numa nova sociabilidade e outro, que seria uma espécie de interiorização —, a criação do que ele chama a privacidade, o sentimento de interioridade. Haveria então uma coincidência entre a ficção de Machado de Assis e o projeto normativo da medicina, no que diz respeito à criação de indivíduos? Penso que não. Ao menos três dos grandes romances de Machado de Assis têm como narradores personagens que escrevem suas memórias: Dom Casmurro, Memórias póstumas de Brás Cubas e Memorial de Aires. O advogado Bento e o Conselheiro Aires têm em comum a aposentadoria; Brás Cubas está morto. Os três apresentam uma mesma característica: a exclusão do jogo social ou, ao menos, a ausência de uma participação ativa. Solitários ou mortos, isto é, afastados do convívio social produtivo, eles se dedicam a escrever suas memórias, exacerbação do cultivo de uma interioridade, ocasião privilegiada para o exame da compreensão desta em Machado de Assis. Ora, o que aí se encontra não é a unidade de um sujeito, de um eu, que seria o mesmo no decorrer da experiência, mas é antes a fragmentação inexorável desse sujeito que não se encontra nunca, que está diluído num tempo e numa experiência que escapa a essa subjetividade. Esta seria a experiência, que eu chamo de moderna e que é um fenômeno da elite burguesa das grandes cidades; no caso, especificamente, da sociedade carioca da segunda metade do século XIX. Essa subjetividade que aparece em Machado de Assis é, portanto, uma subjetividade que encontra não a unidade de um eu, mas a dilaceração desse eu. E aí não há uma identificação, como na tese dos higienistas, entre subjetividade-indivíduo e indivíduo-cidadão do Estado mas, ao contrário, a interioridade e a subjetividade como experiência de fragmentação. São essas as linhas gerais da tese. 104
FAMÍLIA E
SUBJETIVIDADE
Gilberto Velho
A construção da subjetividade e a sua relação com a família remetem à existência de um problema inicial muito importante, que não pode ser simplesmente descartado. Ou seja, há toda uma vertente que divide as ciências sociais e parte da premissa de que a subjetividade é algo natural, é algo dado. Define-se isso de muitas maneiras, que variam infinitamente de acordo com cada escola, linha de trabalho ou posição: seja o self, o indivíduo, o sujeito, uma essência ou uma potência, existe algo anterior e que é natural, cuja ênfase pode ser biológica, biopsicológica, alma. Trata-se de uma discussão que perdura pelo menos desde os filósofos gregos: a idéia de algo anterior à vida social, à inserção na sociedade, alguma coisa que identifica e dá particularidade a cada indivíduo, aí tomado como unidade natural. Esta é uma vertente poderosa na constituição do pensamento ocidental. Bem, entre Simmel e Mauss mon coeur balance. Por outro lado, existe outra vertente, que a Dra. Ribeiro Coutinho, em seu trabalho, chama de "construtivista", cuja idéia básica é a de que a subjetividade, o self e o indivíduo — e aí temos Dumont, na tradição da escola sociológica francesa — é algo construído, logo não-natural; é produto, elaborado pela sociedade e pela cultura. 1
2
1 Sobre o assunto, ver de Gilberto Velho, Individualismo e cultura — Notas para uma antropologia da sociedade contemporânea, Rio de Janeiro, Zahar, 1981; e Subjetividade e sociabilidade — Uma experiência de geração, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1986. A. Ribeiro Coutinho, "Pressupostos da noção de subjetividade", in S. Figueira (org.), Cultura da psicanálise, São Paulo, Brasiliense, 1985. 2
100
Então, esquematizando, há duas vertentes fundamentais a respeito da questão da subjetividade. Uma afirma que é algo dado, natural, e sua explicação pode ser teológica, filosófica, psicológica, psicanalítica etc., e a outra diz que é algo construído, produzido e arbitrário; que em certas sociedades, através do desenvolvimento da ideologia individualista, ela tem um espaço, uma importância, uma ênfase diferente daquela que tem em outras sociedades. A noção de subjetividade não é igual à de indivíduo, embora obviamente estejam inter-relacionadas. Correndo sério risco de ser acusado de um perigoso ecletismo, tento combinar, até onde posso, algumas coisas das duas vertentes, ou seja, concordo com a linha "maussiana", "dumontiana" da elaboração através de uma ideologia individualista da noção de indivíduo; no entanto, não descarto, em princípio, a questão da subjetividade como um fenômeno recorrente em diferentes sociedades, mesmo que não haja uma ideologia individualista, e sim uma ideologia holista. Esse problema também é complexo. O fato de se reconhecer a existência em toda sociedade da questão da subjetividade não implica aceitar que em toda sociedade exista a noção de indivíduo: são duas coisas distintas. Além disso, há um outro ponto: de modo geral, todos os autores estão de acordo — quer os que acreditam ser algo natural, quer os que afirmam ser algo mais elaborado, a partir da sociedade — que a família é uma instituição fundamental no processo de socialização da subjetividade. Ela será de algum modo construída, elaborada ou desenvolvida, dependendo do ponto de partida, em função de certas agências, mediante determinadas instituições, e a família é uma instituição privilegiada. Contudo, qual família? Devemos tratar esse problema com certo cuidado. Não há uma família. A antropologia mostra, através de seus estudos, a existência de vários tipos de família e de diversos sistemas de parentesco. Família e parentesco têm de ser entendidos, de alguma maneira, como coisas que se relacionam, mas que não são iguais. Em princípio, são agências ou instituições privilegiadas para lidar com a questão da subjetividade. Até mesmo a corrente que a considera como algo de início já dado, reconhece que tal subjetividade irá ganhar es104
paço, desenvolver-se como potência, atualizar-se por meio de uma estrutura social, onde a família desempenha um papel primordial. No entanto, sabe-se, através de diversos estudos, que há "n" tipos de família, embora de repertório limitado. Não há possibilidades infinitas, mas modelos básicos de organização de parentesco, que se expressam, inclusive, em tipos de famílias. Então, não é uma família, porém as probabilidades de combinar e de existir tipos de famílias específicas não são ilimitadas. Devo ressaltar, entretanto, que não defendo a tese da existência de uma nova família. Já tive oportunidade de dizer isso e fomos "vítimas" de um título de um Caderno Especial® que causou certa confusão. Certamente não só no meu texto desse Caderno, como em outros textos, tornou-se evidente que não queremos advogar a idéia de que existe uma nova família, nesses termos. Além disso, temos de tomar cuidado para que, com esse fascínio pelo novo, pelo revolucionário, pela ruptura, pela mudança, não corramos o risco de perder a continuidade, a estabilidade e o que caracteriza a própria essência da sociedade. Pois se as coisas mudassem sempre, da noite para o dia, e se cada geração inventasse um tipo de família, não haveria sociedade. É importante lembrar, ainda, uma das questões que mais desperta interesse em cientistas sociais e tem sido um ponto de encontro com psicólogos e psicanalistas, que é a levantada pela antipsiquiatria (Cooper, Laing e Esterson, entre outros), a qual focaliza a família nuclear como um fato histórico e problemático. A família nuclear é o locus do "sufoco": pais, filhos, uma unidade auto-referida, isolada, com pouca capacidade de estabelecer relações de sociabilidade com outras unidades. Essa, de maneira extremamente simplificada, é a posição mais radical da antipsiquiatria, que considera a família nuclear como um mal, algo negativo na estrutura social. No entanto, existem outros trabalhos sobre as próprias sociedades estudadas pelos 3 "A nova família", Caderno Especial do Jornal do Brasil, 14.7.1985.
81
psiquiatras ligados à antipsiquiatria: há Raymond Firth, antropólogo, pioneiro da antropologia, um dos primeiros a estudar a sociedade urbana, embora com uma tradição de pesquisas em sociedades exóticas; há também o trabalho de Elizabeth Bott. Mesmo nas sociedades privilegiadas por esses e outros pesquisadores, pode-se perceber que a família não é tão nuclear assim, pois, por mais precária que for a consideração, se compararmos com outras situações históricas ou com outras sociedades, existe uma articulação entre as várias famílias nucleares. Tal articulação é significativa para a construção social da identidade e, portanto, fundamental à compreensão da subjetividade dos indivíduos que compõem essa sociedade. Mesmo na sociedade onde a ideologia individualista é levada às suas últimas conseqüências, verifica-se que a família nuclear não é tão isolada quanto, num determinado momento, certos autores propuseram, talvez reagindo a algumas idéias estabelecidas. Na realidade, existem tipos de famílias, e o trabalho de Elizabeth Bott o mostra muito bem: há famílias mais articuladas a redes de parentesco e famílias menos articuladas a elas. Raymond Firth também demonstra isso de uma maneira extensa, inclusive afirmando que de qualquer forma, para entender a sociedade moderna — e ele fala da Inglaterra, de Londres —, é preciso recuperar a noção de kinship, não apenas de family; a construção social da identidade dos indivíduos dessa sociedade passa pela existência não só da family, mas do kinship. Então, mesmo nas sociedades portadoras das ideologias individualistas mais radicais, há matizes e combinações um pouco mais complexas. Isso não significa que não se encontrem famílias nucleares mais isoladas, porém é perigoso tomar esse tipo de referência como padrão. Creio serem mais confiáveis os trabalhos de Bott e de Firth, que demonstram existirem várias alternativas, e que o kinship, o universo de parentesco, seja 4
5
R. Firth e outros, Families and their relatives — Kinship in a middle class sector of London, Nova York, Humanities Press, 1970. Elizabeth Bott, Família e rede social, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976. 4
5
104
como referência simbólica ou como memória, se encontra muitas vezes presente, embora nem sempre de forma cotidiana ou concreta, nos termos em que nos habituamos a pensar. Mas a questão não é só essa. Já se demonstrou haver uma série de situações sociais em que os parentes — sejam os avós, os tios, os primos — têm importância e significado na Inglaterra, que seria o local onde a ideologia individualista historicamente teria se manifestado com particular vigor. Quanto à sociedade brasileira, também creio não existir uma família brasileira. Sem dúvida, há diferenças relacionadas à classe social, a grupo de status, a grupo de ethos, tradições regionais etc. A família patriarcal de Gilberto Freyre, construída como modelo, não é encontrada, contemporaneamente, andando na rua, não é localizada; contudo, existe uma memória, algo semelhante à família patriarcal. Eu lido com um universo específico. Tenho trabalhado, nesses anos, com o que, talvez, na sociedade brasileira, constituiria um segmento particularmente individualista, no sentido de ser um portador ferrenho da ideologia individualista. São camadas médias altas, geralmente da Zona Sul do Rio de Janeiro, de um modo geral psicologizadas, ligadas à cultura da psicanálise. Esse é um universo que reafirma constantemente sua crença no indivíduo e na felicidade, no prazer e no sucesso individuais, em oposição à relação com a família de origem. Se acompanharmos as trajetórias, verificaremos que há pelo menos um momento em que a afirmação dessa individualidade se dá através da rejeição da família de origem, da negação dos laços de parentesco. No entanto, esses mesmos indivíduos que num determinado momento romperam, muitas vezes de forma dramática, com seus pais ou parentes, em outra etapa de sua vida recuperaram os laços, não só com seus pais, mas com o universo de parentesco, em geral. Não defendo a idéia de uma fatalidade sociológica, em que sempre haverá o mesmo tipo de trajetória, na qual toda mudança é aparente e onde sempre existe uma estrutura imutável. Mas é curioso como, com certa facilidade, se vê mudança em fenômenos que às vezes são superficiais e muito mais aparentes do que reais. É inegável que a sociedade mudou e que a família patriarcal estudada por Gilberto Freyre em Casa-grande & sen100
zala, e mesmo em Sobrados e mocambos, não aparece hoje em dia, nos termos em que foi colocada, especialmente no universo de camadas médias, vanguardistas, de Zona Sul. No entanto, esse individualismo, que retoricamente pode ser agonístico, não é concretamente desligado de uma rede de relações sociais onde o universo de parentesco torna-se fundamental. Acontece, na realidade, como num ciclo de desenvolvimento doméstico: quando essas pessoas que antes rejeitavam suas famílias de origem já não são mais tão jovens, surge um outro momento, muitas vezes ligado ao próprio casamento, de reaproximação com elas. Talvez o casamento em si não signifique de imediato uma reaproximação, mas sim o nascimento dos filhos. E há uma série de ritos claros e nítidos, em que se dá tal reaproximação. Como isso se relaciona com a subjetividade, especificamente? Da seguinte maneira: a subjetividade e o problema da subjetividade não estão restritos à tragédia metafórica da família nuclear. Sou um pouco mais otimista, se é que se pode ser otimista nesse campo intelectual. Creio que, para a construção da subjetividade dos indivíduos, existem paradigmas diferentes e mais ricos do que a análise feita pelos psiquiatras em determinado momento poderia levar a crer. Ou seja, embora exista esse esmagamento, esse "sufoco", há um campo maior de alternativas do que eles imaginaram ou puderam constatar. No caso brasileiro, creio ser mais ou menos evidente que o universo de parentesco — e estou falando, volto a repetir, de um grupo que assujne radicalmente a ideologia individualista — é fundamental para a elaboração da identidade dos indivíduos inseridos nesse universo. No Museu Nacional, a Prof. Lins de Barros está realizando um trabalho fascinante sobre os avós. Ela demonstra que os 0
a
7
Discuto um pouco esse assunto num outro artigo, onde chamo a atenção para a coexistência de códigos contraditórios. Ver "A busca de coerência: coexistência e contradições entre códigos em camadas médias urbanas", in Cultura da psicanálise, op. cit. Myriam Moraes Lins de Barros, "Avós: autoridade e afeto — Um estudo de família em camadas médias", Tese de doutoramento apresentada ao Programa de Pós Graduação em Antropologia Social, do Museu Nacional, UFRJ, em 16.6.1986.
6
7
104
avós articulam cinco gerações: referem-se aos seus próprios pais e avós, e têm os seus filhos e netos como referência. Isso, em termos de construção de identidade, de avaliação da memória social e de reelaboração de papéis, é fundamental. A relação desses avós com seus netos é essencial para o desenvolvimento da subjetividade desses netos, que não têm como única referência os pais. Não se trata daquela prisão metafórica, onde os filhos ficam trancados num apartamento, encarando os pais, todos se odiando secretamente. Há oportunidade de convívio com outras pessoas, e os avós são particularmente importantes — com todas as tensões, os conflitos de geração, as diferenças de opinião. Nota-se também a presença de primos, de irmãos e, principalmente, de uma outra coisa que, creio, é característica do universo com o qual lido (e aí talvez exista uma mudança): a extrema importância dos amigos. Nesse ponto há uma certa diferença. Isto é, como de fato se valoriza muito o livre-arbítrio, a liberdade, a opção, existe a possibilidade, acionada permanentemente, de pessoas com as quais não existam laços de sangue desempenharem um papel fundamental, tanto em termos de amizade entre os adultos, quanto de construção de modelos e paradigmas alternativos para as crianças, no seu processo de socialização. Estas conhecem e têm relações relativamente freqüentes e íntimas não só com seus pais e com alguns parentes, mas também com pessoas que não são parentes, e sim amigos — amigos de seus pais. Então surge um campo de manobra, que possibilita e cria referências diversificadas; não é um quadro tão pobre assim. Isso, porém, não significa afirmar que as pessoas dispõem de todas as oportunidades de desenvolver suas melhores potencialidades, mas sim a noção de que a família é uma instituição com um grau de estabilidade muito maior do que muitas vezes se supõe, ou seja, a família, por definição, é uma instituição que organiza a sociedade. Nela há uma certa estabilidade; a família e sua inserção no universo de parentesco não mudam tanto e tão velozmente. Há algo, porém, extremamente importante, que já analisei em outros textos: a questão da amizade. No universo com o qual lido, os amigos são valorizados como constituindo o reino da liberdade. Ou seja, a amizade é uma coisa que o indivíduo 85
conquista, não é algo que recebe pronto. Não se nasce amigo de uma pessoa, torna-se amigo, embora, se fizermos um estudo sociológico e antropológico da rede de relações, perceberemos que, obviamente, não nos tornamos amigos de qualquer pessoa. Existe uma coerção, todo um campo, que leva a ser amigo de certas pessoas e não de outras. Nesse universo que estudo, certas pessoas não podem ser amigas de indivíduos que pertençam a segmentos muito diversos dos seus — há um mapa, mesmo nesse reino da liberdade, da amizade, da opção, da individualidade, e as pessoas têm consciência disso. Quando se pergunta a alguém por que está botando seu filho em tal colégio, a resposta será que ali estão filhos de famílias conhecidas, de boas famílias. Sem dúvida, é uma referência fundamental. Diante dessa pergunta, as pessoas às vezes se envergonham de responder. Temem ser tachadas de elitistas. Mas se insistirmos, pensam: "Não, boas famílias não equivalem necessariamente a famílias ricas, mas a famílias respeitáveis, decentes, a famílias com as quais se pode lidar, que não vão poluir a minha" — poluir no sentido simbólico, evidentemente. Assim, há uma grande continuidade na instituição familiar e no universo de parentesco, sem que isso signifique a inexistência de mudanças. A questão da amizade e a atualização da ideologia da amizade é muito importante, pois constitui outro tipo de aliança, de pacto, não necessariamente ligado a casamento. Isso é fundamental em termos da construção social da identidade de todos os indivíduos que vivem nesse universo. Seria extremamente sugestivo realizar estudos comparativos sobre a importância da amizade em diferentes grupos sociais no Brasil; por exemplo, como ela é representada na classe trabalhadora. No segmento social com o qual tenho trabalhado, há uma ideologia muito densamente marcada, que fala sempre de liberdade, de opção e de desenvolvimento das suas potencialidades, livre de coerções. Apesar dos mapeamentos e de todas as restrições, essa ideologia é muito poderosa. Para concluir, é de grande importância a tentativa de se encaminhar avaliações, inclusive sobre a bibliografia já existente no Brasil, que é bastante significativa. A obra de Gilberto Freyre, por exemplo, ainda não foi recuperada, pois, por mais 104 86
que se fale, há uma resistência enorme em lê-la. Acho que, de fato, para se entender família e parentesco no Brasil, é preciso saber que muitas coisas consideradas novidades sensacionais, às vezes não são necessariamente novas. Existem autores que discutiram seriamente a questão da família e do parentesco há cerca de cinqüenta anos: deve-se lê-los e recuperá-los. É importante, ainda conhecer a bibliografia da antipsiquiatria e da antropologia social, mas é preciso ver como, na sociedade brasileira, esses problemas de ordem mais geral se atualizam e assumem um tom próprio.
O PAPEL DA PSICANÁLISE NO ENTENDIMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE Sérvulo Augusto Figueira Em relação a esse tema, há uma série de questões que me preocupam e com as quais estou envolvido já há bastante tempo. De início, gostaria de comentar o sentido das palavras "família" e "subjetividade". O termo "família" refere-se a alguma coisa que se tende a "experienciar" ou a perceber, pensar, como algo "visível". Ou seja, é possível dizer: "Lá vai uma família ao cinema." Já com a subjetividade é diferente. Não se pode dizer: "Lá vai a subjetividade fazer isso ou aquilo." Logo, há uma relação distinta entre esses termos e seus referentes na realidade — na realidade "experienciada", percebida, pensada, a qual, certamente, é construída; não se trata de uma realidade pré-discursiva ou pré-cultural. Além disso, marca outra diferença entre as duas palavras o fato de a família ser um objeto muito mais comum, em termos de estudo, nas ciências sociais, do que a subjetividade, a qual, por sua vez, é ainda menos estudada que a construção da subjetividade. De modo ingênuo, pensamos que a família constitui uma peça fundamental da construção da subjetividade, qualquer que seja o significado desses termos. Mas a contribuição a ser dada aqui é, em primeiro lugar, de caráter epistemológico, vale dizer, deve-se discutir algumas das condições por trás da produção desse conhecimento em torno de subjetividade e família, mas basicamente acerca da questão da subjetividade. O segundo aspecto a ser ressaltado é o ponto de vista que irei utilizar: o psicanalítico — não no sentido clássico de psicanalisar a subjetividade e a família, mas no de pensar a questão da subjetividade a partir dos vários planos, modalidades e possibilidades de diálogo entre a psica100
nálise e as ciências sociais. Estes, bem como o confronto, a interação e a complementação, são extremamente complexos e dão origem a uma série de questões, relacionadas adiante. A primeira questão diz respeito à emergência histórica de um tipo de estruturação da subjetividade que permite a percepção, a visibilidade, a experiência e o próprio estudo desse construto-realidade chamado subjetividade. Como apontou muito bem Gilberto Velho, a situação da subjetividade não se Jimita ao estudo da família. Para entendê-la não é necessário circunscrever debates ao âmbito da família, mas é possível fazê-lo de vários modos. Na verdade, a emergência da subjetividade, ou de um certo tipo de estruturação da subjetividade que permite o conhecimento dela, é uma história que pode ser contada de diversas maneiras. Kátia Muricy, por exemplo, utilizando um paradigma muito particular e poderoso — o de Foucault — contaria essa história de um modo, assim como analistas, antropólogos e cientistas sociais o fariam de outros, pois há várias linhas, ângulos, modos de pensar, com limitações, peculiariedades e forças próprias. Utilizarei, então, um desses modos, que me atrai bastante e é baseado num texto clássico escrito na década de 1830: o livro de Aléxis de Tocqueville, intitulado A democracia na América. Gostaria de pinçar nesse texto algumas idéias, sem maior rigor (já que isso pode ser feito quase em qualquer trecho), mas com a preocupação de tentar entender o que se pode chamar de "imaginário do individualismo". Será discutida, assim, a questão da emergência ou de uma certa estruturação da subjetividade segundo a compreensão de Tocqueville, sem qualquer referência imediata à questão da família, o que já indica como isto pode ser feito com uma razoável independência em relação a essa problemática. Entre outras coisas, Tocqueville fala da existência em sociedades aristocráticas de uma "cadeia de homens". Comenta sua interdependência, o fato de as diferenças entre esses ho1
2
1 2
Ver "Família e subjetividade", neste volume. Rio de Janeiro, Ed. Itatiaia, 1977.
104
mens serem posicionais, e faz uma afirmação bastante curiosa: "Aí todo homem depende de um homem ou de alguma coisa fora dele." Ou seja, há uma situação em que os sujeitos ou as pessoas dependem efetivamente de relações reais com coisas ou outras pessoas "fora deles". Outros comentários — relacionados, por exemplo, à relativa estabilidade das chamadas sociedades aristocráticas — também nos levam a perceber o que é possível denominar o "imaginário" dessas sociedades, isto é, a existência de uma espécie de coincidência do plano real com o do ideal. As pessoas nascem em certas posições, estão condenadas a elas, não há como realizar sistematicamente projetos para sair delas. Sem dúvida, existem indivíduos que conseguem ter esses projetos, mas, em termos genéricos, a sociedade se reproduz criando ou passando ideais que tendem a reproduzir a realidade posicionai dos sujeitos, das famílias, dos grupos etc. Ademais, nesse tipo de sociedade articulada em torno de uma cadeia que liga pessoas a um sistema de interdependência, o poder ou a autoridade tende a ser exercido "de fora para dentro" e a ser encarnado em alguma figura, em alguma coisa palpável, concreta. Tal sociedade fornece, ou tende a fornecer, o modelo do poder soberano que Foucault tão bem discute, ou seja, o poder concentrado, visível etc. Quando Tocqueville discute as sociedades igualitárias ou democráticas, segundo os pontos apresentados anteriormente, ele observa, entre várias coisas, que a cadeia se quebrou, que os homens se tornaram "iguais", mas individualmente fracos; as diferenças são agora individuais e o homem se pensa "autônomo", se sente como se dependesse basicamente dele mesmo. Assim, pode-se perceber que nessa sociedade, como Tocqueville a pensa e a descreve, há um deslizamento da "realidade" em relação à "idealidade" ou aos ideais. Ele diz que nas sociedades aristocráticas, os ricos, que detêm poder, riquezas e bem-estar, curiosamente podem desprezar esses bens e esse bem-estar; as pessoas então acostumadas ao supérfluo — é uma afirmação dele —, podem passar sem o necessário. Ou seja, os aristocratas, ao perderem sua riqueza, conseguem sobreviver sem ela, enquanto os cidadãos, nas sociedades igualitárias, têm 46
uma relação diferente, basicamente angustiada, com essas riquezas. Com mais de cem anos de antecipação, Tocqueville levanta uma série de discussões que surgiram nos Estados Unidos na década de 60 e que, por exemplo, são objeto de debate nó último livro de um autor como Christopher Lasch, publicado no ano passado: a questão de saber se a sociedade de massas é hedonista ou não. Tocqueville afirma claramente que essa sociedade de consumo e produção de massas não é hedonista: é uma sociedade angustiada. E também diz que as mercadorias ou prazeres consumidos não são objetos físicos, mas quase fantasmáticos; que existem para resolver um problema de insatisfação crônica, gerada pela própria sociedade igualitária, da separação do ideal e da realidade, e isso, em última análise, constitui a estrutura organizadora das sociedades igualitárias, que está por trás de questões que se manifestam no plano do sujeito, como certas modalidades de angústia, relações com as mercadorias etc. Então, voltando àquele ponto dos ricos e dos pobres, do povo e da aristocracia, ocorre que, basicamente, na medida em que a sociedade se torna móvel, as pessoas têm uma experiência concreta de mudança, passam a poder sentir a angústia de perder algo que era dado a elas quase como um a priori da sua posição, inquestionável, tacitamente aceito. Uma das conseqüências disso é que na sociedade plural, aberta e extremamente móvel, instaura-se a disjunção entre o ideal e a realidade. Do mesmo modo, tal sociedade é também disciplinada. Ou seja, como Foucault mostra com clareza em Vigiar e punir, é uma sociedade na qual, paralelamente à questão do individualismo, há uma série de mecanismos disciplinares gerando, administrando e controlando os indivíduos. Trata-se de uma sociedade de poder difuso, isto é, em que o poder deixa de ser encarnado por indivíduos ou coisas concretas, próximas de indivíduos, ou associadas a estes através de relações concretas, e passa a se apresentar a eles de maneira um tanto paradoxal, 3
4
The minimal self, Nova York e Londres, W. W. Norton & Company, 1985. Petrópolis, Ed. Vozes, 1983.
3
4
104
pois utiliza cada vez mais a própria idéia de "opção individual"; é um poder que, de alguma forma, lida com a questão do indivíduo, deixando este pensar ou sentir que opta e, portanto, é autônomo, ao mesmo tempo em que sua autonomia e as condições nas quais é levado a optar são, em geral, organizadas por várias modalidades de poder e de disciplina. Embora apresentando essa questão de maneira bastante simplificada, é certo que nas sociedades igualitárias dá-se a invisibilização de certas formas ostensivas do poder, o deslocamento dos focos de poder de instâncias visíveis, palpáveis, para instâncias relativamente invisíveis. Nessas sociedades, ao ocorrer a disjunção do plaoo do ideal e do plano do real, tornou-se possível, no final do século XIX, a emergência de um saber como a psicanálise, a qual fundamentalmente constitui uma possibilidade de estudar algo que se poderia chamar de "arquitetura da subjetividade", dotada de suas próprias leis e princípios. Contudo, quando a psicanálise estuda, por exemplo, o ideal do ego — o que só é possível numa sociedade em que o plano da idealidade, ou plano do ideal, se separou suficientemente do plano do real para que ambos se tornem visíveis —, postula seu entendimento como universal e afirma que em qualquer sociedade o ideal do ego é uma instância que opera. Mas, a psicanálise surgiu num determinado momento do desenvolvimento da sociedade ocidental em que todo esse sistema de idealidade ou de ideal do ego se tornou visível. Do mesmo modo poderíamos falar sobre o superego. É quando o poder ou certas formas de coerção deixam de existir de modo visível que se torna possível entender e ver através dessa retração do social, como as próprias pessoas exercem o poder sobre si mesmas. Assim, de certa maneira, a noção de superego nada mais é do que a idéia de que há uma instância nessa arquitetura invisível do sujeito, que exerce sobre ele um determinado poder de vigilância em regimes bastante diferentes, às vezes mais ou menos autoritário, às vezes mais ou menos dialogai. Contudo, minha hipótese é de que tal arquitetura do sujeito se torna visível em um momento específico do processo de emergência de certas formas de individualismo, nas novas modalidades de agenciamento do indivíduo etc. 100
A segunda questão, sob o meu ponto de vista, e certamente sob o de várias pessoas, é de que o indivíduo existe. Mas em que sentido? Trata-se de uma questão bastante complexa, pois é no universo das sociedades igualitárias que surge a figura do indivíduo. Neste ponto surge um problema. Muitas vezes, as discussões sobre o individualismo relativizam o indivíduo ao tomálo apenas como uma categoria, um valor e uma representação. E acabam, de alguma maneira, instaurando uma separação entre a representação e a realidade, o que é uma espécie de separação entre o plano do ideal e o da realidade. De certa forma, esse tipo de debate não leva em conta a questão do indivíduo como realidade histórica; não o indivíduo-categoria como realidade histórica, não o indivíduo tal como pensado na ideologia do individualismo, mas sim como um tipo específico de estruturação da subjetividade. Nesse sentido, é possível tomar alguns indicadores da existência do indivíduo como modalidade específica, aí real, de estruturação da subjetividade — e não apenas uma representação — e mostrar a eficácia ou a presença disso de alguns modos. Na primeira questão, a psicanálise foi indicada como um saber que surgiu em determinada conjuntura do individualismo no Ocidente, em certas modalidades de agenciamento e de emergência da subjetividade. No entanto, essa questão podese ligar à psicanálise de maneira bastante diversa, ou seja, como indicador da existência concreta de uma modalidade de estruturação da subjetividade que se chama "indivíduo". Sabe-se que a situação analítica, tal como foi desenvolvida pelos analistas, simplesmente não consegue conter dentro dela, de maneira significativa, uma pessoa das chamadas classes trabalhadoras. Há várias publicações sobre isso, mas é sabido que não funciona. O resultado, se forem mantidos os parâmetros da situação analítica invariáveis, é desastroso, pois tende a gerar mais equívocos, e não apenas porque as pessoas se pensam ou não se pensam como "indivíduos". Concretamente, essa situação, ao lidar com sujeitos de classe média, desarticula uma série de mecanismos sociais de estruturação da subjetividade e identidade. A situação de não olhar, não se mover, falar e não ser respondido diretamente constitui alterações de códigos rituais 104
cotidianos muito básicos. Alterados do modo como o são na situação analítica, levam à emergência de uma série de dimensões fantasmáticas, que se apresentam através do discurso. Entretanto, isso não ocorre quando se lida com pessoas das chamadas classes trabalhadoras. Com elas, a autonomização da transferência, tal como é entendida — a idéia de "transferir" outros abstratos, imagos de dentro do sujeito para um outro que ao mesmo tempo é extremamente real —, não se dá do mesmo modo. Isso não se deve apenas ao fato de as pessoas não se pensarem como indivíduos, mas porque, efetivamente, a estruturação da subjetividade dessas pessoas encontra-se mais próxima daquele primeiro modelo de Tocqueville, o das relações reais dentro de uma cadeia. Em contraste, no individualismo que caracteriza os setores médios, há relações reais e fracas, especializadas e pluralizadas, e existe uma concentração no indivíduo de um espaço relativamente homogêneo e imaginário, onde então se desenvolvem todas essas imagos. Outro exemplo da existência eficaz, quase concreta e palpável, de uma estruturação da subjetividade chamada indivíduo, pode ser tomado de um caso citado durante a discussão de um trabalho de Luiz Fernando Duarte sobre doenças de nervos, Centro de Estudos do Hospital Psiquiátrico Pedro II. Um psiquiatra contou-nos que uma mãe levou uma criança pequena ao ambulatório e, perguntada qual era o problema do filho, ela respondeu: "O garoto tem bastante mediunidade e um pouco de nervoso" — esse era o seu diagnóstico. O modelo de sujeito atrás dessa formulação é o de um sujeito segmentado e que resulta da aglutinação de algo chamado de "nervoso" e de algo chamado de "mediunidade". Não há nesse discurso, de modo facilmente perceptível, a presença de um domínio interno, invisível, autônomo, que seja homogêneo. Ao contrário, isso é altamente perceptível em relatos nos consultórios da Zona Sul, onde ninguém diz ter um tanto de "nervoso" e um tanto de "mediunidade". Equivaleria a juntar 5
Fórum de Teses do Centro Psiquiátrico Pedro II, Rio de Janeiro, 17 e 18 de maio de 1985.
5
48
duas coisas em geral sentidas como totalmente separadas, o mundo "interno" e o mundo "externo". É importante relembrar que não se trata apenas de uma representação, mas da articulação a percepções, que leva a conseqüências bastante palpáveis. A divisão da problemática entre "mediunidade" e "nervoso", noções diferentes, funcionando segundo regimes diferentes, leva à procura de profissionais também diferentes, já que a mediunidade é tratada com o profissional A (esta palavra é proposital, a fim de mostrar que há diversas opções de se tratar a questão), e o nervoso com o profissional B. Por conseguinte, esses tratamentos vinculam a pessoa a sistemas simbólicos diferentes. Ou seja, percebe-se um tipo de estruturação da subjetividade que efetivamente não é soldada, centrípeta, que caracteriza o "indivíduo" e tende a traduzir tudo o que acontece em torno do sujeito em termos de sua interioridade: inexistem o eixo de decodificação constante e a percepção de si mesmo. Portanto, há conseqüências práticas bastante diversas. A terceira questão refere-se a como relativizar a subjetividade e o indivíduo. A primeira resposta, e a mais freqüente, é a relativização do individualismo, como já sugeri. Acredito, no entanto, que esta relativização fundamental, bem como a própria relativização do modelo individualista de subjetividade, da representação indivíduo, só serão alcançadas quando se discutir sociologicamente o indivíduo. Esse é o grande desafio. Relativizar as categorias e as representações é essencial, mas há uma questão importante a ser formulada: a relativização mesma, a tentativa de entender os limites e os perfis da realidade "indivíduo" . Assim, instaura-se uma outra relação, de caráter competitivo, entre as ciências sociais e a psicanálise já que esta última talvez constitua, historicamente, a captação mais completa do funcionamento do sujeito nas sociedades ocidentais e, portanto, em princípio, seja uma das teorias mais abrangentes do funcionamento do indivíduo. Ela é totalmente diferente das teorias das ciências sociais e se ancora numa situação que não guarda qualquer relação com as de experimentação, pesquisa e observação das ciências sociais. Apresenta-se como uma teoria do 104
funcionamento do sujeito, o qual, na nossa sociedade, constitui a figura do indivíduo. É nesse sentido que, de algum modo, se instala a relação de contraste; as ciências sociais deveriam, então, poder cobrir em termos conceituais as áreas, os domínios, as dimensões e os quadrantes que a psicanálise explora conceitualmente. Isso, por exemplo, é visível na obra de Peter Berger. Sem utilizar a idéia de inconsciente ou qualquer noção psicanalítica, Berger propõe uma linguagem alternativa, isto é, discute sociologicamente todos esses construtos e dimensões do sujeito, tentando traduzi-los de acordo com o seu esquema sociológico (da "transferência" à "identidade", à crise pessoal). Sem dúvida, seu trabalho apresenta uma série de limitações e dificuldades; é insuficiente na tentativa de encampar, através da sociologia, o espaço ocupado pela psicanálise, além de, em certo sentido, ser explicitamente antipsicanalítico. A idéia, portanto, é a de que a psicanálise criou e explorou um domínio — o sujeito —, o qual, de certa maneira, é maior que o da subjetividade. A quarta questão: será possível discutir, em termos sociológicos, essa realidade do indivíduo? Aí devo colocar a questão a partir de um ponto de vista externo, de um curioso em ciências sociais e interessado na leitura de seus textos, de suas pesquisas. Apoiando-se em alguns textos, pode-se observar o quanto é impossível afirmar-se que a subjetividade não existe para as ciências sociais (pois se trata de uma coisa bastante palpável e faz parte da experiência de qualquer pessoa); contudo, ao mesmo tempo, não há, nas diversas versões ou vertentes das chamadas ciências sociais, uma teoria clara ou reflexão sobre o sujeito ou o indivíduo. Como lembra Gilberto Velho, há vários modos de pensar essa questão, ou várias noções que apontam para ela, mas às vezes a dimensão da subjetividade é deixada entre parênteses, 6
Ver, por exemplo, P. Berger & T. Luckman, The social construction of reality, Harmondsworth, Penguin Books, 1967; e também P. Berger, "Para uma compreensão sociológica da psicanálise", in S. Figueira (org.), Psicanálise e Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1980. 6
100
às vezes é relativizada, dissolvida ou abandonada, e poucas vezes é estudada. Berger e Simmel, por exemplo, são cientistas sociais que a estudam. O próprio Durkheim, de certa maneira, faz referências a ela, através de uma psicologia puramente formal, mencionada em Regras do método sociológico, ou do problema das "representações inconscientes", em outro texto sobre representações individuais e coletivas, e que apontam para a sua percepção de um regime ou de um domínio de funcionamento, no qual não se opera nessa clivagem do social com o individual ou do psicológico com o sociológico, mas se trata de outra articulação possível entre as duas dimensões. Na antropologia inglesa, pelo que sei, há uma ausência de teorização em torno do sujeito. Tive uma experiência bastante curiosa em relação a isso: fui supervisor clínico de E. Bott durante minha formação analítica, na Sociedade Britânica de Psicanálise, em Londres. Nessa época, devido ao fato de ela ter escrito um livro sobre família e rede social, eu imaginava que fôssemos partir para ilações de uma complexidade fenomenal em torno do material detalhado que eu levava a ela semanalmente (o material clínico de um paciente extremamente difícil, atendido por mim). Contudo, para a minha frustração, esse salto não se fazia, pois não havia conexão possível entre a Bott que escreveu aquele primeiro trabalho e a Bott que trabalhava com situações clínicas. Por mais que eu tentasse, ela não me permitia enveredar por esse caminho. Havia como que uma imoralidade ou quase que um perigo presente. À parte a estima e o respeito por Bott, o fato é que isso constitui um indicador não apenas da sua limitação, mas certamente de uma limitação das próprias ciências sociais inglesas, em particular da antropologia social britânica, limitação essa percebida na Inglaterra por vários de seus cientistas sociais. Essa questão serve para destacar a dúvida sobre o quanto as ciências sociais estariam aparatadas para discutir a subjetividade em regime de competição com a psicanálise. Ou seja, 7
7
104
E. Bott, Família e rede social, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976.
é uma espécie de desafio, no sentido de as ciências sociais terem de cobrir com uma linguagem alternativa o que a psicanálise diz em termos psicanalíticos. A última questão refere-se ao fato de a psicanálise surgir sob o individualismo, sendo, ao mesmo tempo, uma teoria que dá conta dessa estruturação particular da subjetividade que é o indivíduo. Mas a psicanálise não é individualista. Em termos conceituais, ela só pôde existir porque questionou a ilusão básica do individualismo: a de o indivíduo constituir um ser indiviso e autônomo. O aspecto básico do discurso da prática psicanalítica é o de que o sujeito não é autônomo; tal autonomia é uma ilusão da consciência, a qual, porém, sofre uma série de determinações vindas de uma dimensão que lhe é totalmente desconhecida. Essas formulações da psicanálise foram questionadas (ou enfrentadas) por meio de três relativizações, tentativas ou debates que continuam existindo no seio da própria psicanálise e entre esta e as ciências sociais. A primeira é a relativização cultural, iniciada com a colocação do Malinowski ou instaurada em torno dos debates entre Malinowski e Ernest Jones, e que até hoje tenta encontrar soluções. A segunda é de caráter histórico, quando se questionou não a validade universal transcultural do complexo de Édipo, mas a sua validade transistórica. E a última, mais recente, é a relativização interclasses. Esta sim, bem mais interessante porque no seio da própria sociedade complexa, permitindo o acesso a essas populações, em seu próprio universo lingüístico e, portanto, podendo levar a uma avaliação bastante concreta do funcionamento e do rendimento das hipóteses psicanalíticas. Assim, poderia a psicanálise ser uma teoria do sujeito ou seria, para sempre, uma teoria do indivíduo? Essa é uma questão crucial para ela própria. A discussão sobre a relativização envolve, no fundo, testes do poder explicativo da parafernália conceituai psicanalítica, principalmente do complexo de Édipo. Para ser uma teoria do sujeito, a psicanálise precisaria dar conta 8
Ver, por exemplo, P. Hirst, "Psychoanalysis and social relations" M/F, 1981:5-6:91-114.
8
100
dessas diferentes estruturações da subjetividade, ou seja, mostrar sua eficácia explicativa (e não necessariamente terapêutica), inclusive das estruturações das sociedades aristocráticas ou das chamadas camadas trabalhadoras. A psicanálise, então, esbarra numa questão muito séria, apontada com clareza por Luiz Fernando Duarte em sua tese: a questão espacial do dentro e do fora. Faz parte do imaginário das sociedades individualistas a distinção, fundamental, entre o "dentro do sujeito" e o "fora do sujeito". Essa perspectiva de uma espacialidade euclidiana separa planos, linhas e penetrabiiidades de objetos, e separa dentro e fora. Sabe-se que as imagens relativas às doenças dos nervos, nas classes trabalhadoras, como Luiz Fernando Duarte e Jurandir Freire Costa vêm estudando, subvertem o imaginário espacial. Isso é um exemplo de um teste feito à psicanálise. Como ela poderia dar conta disso? Por fim, é importante ressaltar, mais uma vez, que a discussão em torno de família e subjetividade, ou de estruturação da subjetividade, depende de um alargamento das ciências sociais, via uma teoria do sujeito, que possivelmente derive de uma psicanálise conceitualmente alterada ou de qualquer outro tipo de discurso que estude a dimensão da subjetividade. A psicanálise deveria ser testada nesse papel, como já o foi por Parsons e tantos outros. De certa maneira, o diálogo entre as ciências sociais e a psicanálise foi marcado, até hoje, pela relativização, fundamental e da maior importância, dos valores do discurso psicológico ou das ciências psicológicas pelas ciências sociais. Paralelamente, como que caminhando no subsolo, há o fato de que a própria existência das ciências psicológicas, em particular da psicanálise, aponta potencialmente para uma lacuna no campo das ciências sociais. Isso constitui, portanto, outro plano de diálogo, outro plano de interação. 9
9
L. F. Duarte, Da vida nervosa, Rio de Janeiro, Zahar, 1986.
100
CRISE DA FAMÍLIA: UMA QUESTÃO DA ATUALIDADE?
PERMANÊNCIA OU MUDANÇA? O DISCURSO LEGAL SOBRE A FAMÍLIA Leila Linhares Barsted
*
O objeto de nossa reflexão é o discurso legal sobre a família no Brasil, procurando compreendê-lo dentro de uma problemática mais ampla que, comumente, tem sido denominada "crise da família". Na realidade, ao tentarmos articular o discurso legal com a idéia de uma crise da instituição familiar, o que sobressai é a existência de uma outra crise — o distanciamento entre o que diz a lei e as variadas formas de organização familiar. No Brasil, o discurso legal sobre a família é extremamente reducionista; nele só está presente o modelo da família patriarcal, monogâmica e nuclear, atravessando as épocas e as mudanças sociais. Essa característica do direito que "fala" sobre a família tem persistido tanto nos momentos de autoritarismo político quanto nas fases intermediárias de democracia. Analisar essa permanência torna-se um exercício interessante, em particular para se ressaltar o modo como o discurso legal convive com a diversidade concreta das famílias brasileiras. A possibilidade de compreensão da articulação entre a permanência de um modelo legal e a diversidade das famílias talvez dê subsídios para trazer à tona o que diz a lei e o que se faz por fora da lei, em um país onde, muitas vezes, as idéias estão "fora do lugar". 1
I )
* Este texto foi apresentado em versão mais ampliada no Seminário promovido pelo Centro João XXIII de Investigação Social, produzido no Projeto "Sociedade Brasileira Contemporânea: Família e Valores", em maio de 1985. Em sua versão original teve como co-autora a cientista política Branca Moreira Alves. Cf. Roberto Schwarz, Ao vencedor, as batatas, São Paulo, Livraria Duas Cidades, 1977. 1
100
Neste texto, tratamos a ordem legal não apenas como discurso, mas também como práticas e instituições que buscam uma coerência interna. Faz parte de nossa preocupação, dessa forma, entender em que sentido caminha o direito sobre a família — até que ponto será levado para seu interior a diversidade concreta das famílias ou até que ponto as situações classificadas como "de fato" continuarão a ser tratadas como exceções, sem espaço de mutação para situações chamadas "de direito". A família estruturada pela legislação brasileira não é o simples reflexo do modo de relacionamento do grupo familiar, conforme vivenciado nas diferentes classes sociais. É, antes, a codificação de uma visão de mundo das elites dominantes, preocupadas com a legitimação, em termos legais, dos laços familiares, com a definição do poder marital e paterno, com a legitimação da prole e a regulamentação do patrimônio. O campo do direito regulador da família constitui um foco privilegiado para a análise das relações entre os sexos e dos valores que as impregnam. O legislador, interpretando em termos legais a ideologia dominante em sua época, ao regular as relações entre pais e filhos, marido e mulher e dependentes de vários matizes, ao organizar a estrutura do casamento e do regime de bens, cumpre função não só normativa, mas principalmente valorativa. Ele codifica ao nível das regras do direito as relações de poder e a delimitação dos papéis sociais. O direito sobre a família atualiza as relações de poder em termos das instâncias microssociais, do cotidiano, das práticas e dos sentimentos. Sendo a família a instância produtora e reprodutora da força de trabalho e mecanismo primeiro de socialização, atua tanto na esfera do econômico quanto na do cultural. O direito sobre a família realiza uma mediação entre essas esferas, organizando as relações interpessoais, dando-lhes, através do casamento e da filiação, seu elemento de legitimação social. 2
Ver Michel Foucault, Microfisica do poder, Rio de Janeiro, Graal, 1979.
2
104
O ponto de partida, no direito brasileiro, para o entendimento do discurso legal sobre a família é o Código Civil de 1916, ainda em vigor. Considerado na época de sua edição um exemplo de legislação moderna, sobretudo na parte relativa aos contratos, o Código representava uma resposta às necessidades de uma sociedade pautada em relações capitalistas. Porém, convivendo com um aspecto de modernidade, o Código mostrou-se bastante conservador quanto às relações familiares. O legislador de então só reconheceu como família o grupo constituído através do casamento civil, não prevendo qualquer proteção legal para formas distintas de organização familiar. Face ao Código Civil de 1916, seria preciso questionar qual o desenho de família que ele oferece como modelo. É uma concepção de família como núcleo fundamental da sociedade, composto por pai, mãe e filhos. Nesse sentido, aponta para o que poderia ser um modelo de família nuclear urbana, mas, no entanto, amplia a definição dessa família ao envolver outros membros ligados por laços consangüíneos ou de dependência, abrangendo, assim, um modelo familiar ainda calcado nos laços de compadrio e favor, típico dos padrões rurais, que pode ser caracterizado como "família extensa". Outro elemento desse desenho familiar é a hierarquia. A família legal tem um chefe homem, ao qual estão subordinados a mulher e os filhos. É esse chefe que medeia as relações do grupo familiar com a sociedade mais abrangente. Mais um elemento desse modelo é a monogamia: a família legal é monogâmica, sendo o adultério considerado crime pelo Código Criminal em vigor na data da edição do Código Civil, bem como posteriormente, no Código Penal de 1940. Há um dado interessante a se destacar na análise de como o Estado percebe a família e dela fala através do direito. Em 1916 a família era tratada de forma isolada das outras relações civis. Era o campo do privado. Só a partir da década de 30 a mensagem do Estado sobre a família articulou-se a outras esferas, abrangendo o trabalho, a previdência social, a criminalidade e até mesmo a Constituição. Como exemplo: a interpretação da norma constitucional de 1891 sobre o sufrágio universal que marginalizava as mulhe105
res do direito de voto. A Constituição falava genericamente em "brasileiros" como portadores do direito de cidadania. Mas a forma masculina foi tomada como exclusiva aos homens e não como vocábulo indicador genérico. O entendimento de que o voto não era extensivo às mulheres provinha do tratamento discriminatório das legislações do Império, no tocante à cidadania feminina, e foi reforçado pelo Código de 1916 que estabelecia a não-capacidade jurídica para a mulher casada, necessitada, por lei, da autorização do marido para a prática de qualquer ato legal. Concedido explicitamente em 1932 e incorporado à Constituição de 1934, o voto feminino instituiu uma situação peculiar — a mulher passou a ser cidadã plena na sua relação com o Estado, mas continuou sem capacidade civil legal, que só poderia ser exercida pela mediação do marido, sendo ela casada. Formando através do casamento uma nova família, a mulher perdia, sendo maior de idade, uma parte de sua cidadania. É importante assinalar, ainda, que o Código Civil e legislação posterior tinham por eixo o que poderíamos chamar de "linhagem familiar". O "apelido" do pai era transmitido aos filhos através do casamento e nunca fora dele. Até à década de 30, a legislação civil não reconhecia para efeitos de legitimação os filhos nascidos fora do casamento. A importância do "apelido" masculino reforçava-se quando a mulher, considerada "culpada" em ação de separação, perdia o direito de conservar o apelido do marido. Essa preocupação com a legitimidade da prole foi uma questão extremamente preocupante para os legisladores que elaboraram o Código de 1916. Marcada pelo positivismo, a nova legislação buscava os padrões de normalidade que afastassem a família dos "estados patológicos". Apesar da ideologia positivista refutar a influência da Igreja nas questões do Estado, separando o profano do sagrado, o modelo de família positivista expresso no Código pouco diferia da família cristã, católica, organizada pelos padrões religiosos. Nesse sentido, não houve 104
choque entre a Igreja e o Estado na organização legal da família. Sua regulamentação legal, contudo, não se esgotou na legislação civil. O projeto familiar, articulado na década de 1930, implicou na elaboração de uma legislação complementar, só terminada na década seguinte, tratando de matéria penal e trabalhista. Essas novas leis, além de normalizarem os padrões de moralidade, também deram à família um papel emergente na racionalidade econômica, política e demográfica. Assim, o Código Penal de 1940 apresentava vários capítulos destinados a regulamentar padrões considerados não aceitáveis na moralidade que informava as relações sociais e familiares. Em capítulo especial, denominado "Dos crimes contra a família", o Código Penal, ainda em vigor, pune a bigamia, o induzimento a erro essencial e o adultério. A punição da bigamia e do adultério deixam clara a intenção do fortalecimento de um modelo familiar monogâmico. No caso da punição ao induzimento de erro essencial, destaca-se a articulação deste artigo com o Código Civil, que prevê a nulidade do casamento quando constatada pelo marido a não virgindade da noiva. Tal artigo, no que se refere à mulher, imprime como padrão sexual a castidade feminina, requisito essencial à formação da família legal. No intuito de "proteger" a família, o Código Penal dispõe, ainda, de normas punitivas de crimes contra o estado de filiação, contra a assistência familiar, contra o pátrio-poder, a tutela e a curatela, reforçando a autoridade paterna e os deveres do pai com a prole. No capítulo "Dos crimes contra a pessoa", o Código Penal pune a prática do aborto. O tema do aborto e da contracepção está presente, também, na Lei de Contravenções Penais, de 1941, que prevê punição para anúncio de meio abortivo ou anti3
4
Sobre o tema ver a pesquisa "Sociedade brasileira contemporânea: família e valores", desenvolvida pelo Centro João XXIIl, Rio de Janeiro, 1985. Cf. Valéria Pena, "A revolução de 30, a família e o trabalho feminino", in A família em questão, São Paulo, Fundação Carlos Chagas, 1981. 3
4
54
concepcional. A questão demográfica entrelaça-se com o discurso moralizante, numa postura pró-natalista. No que se refere aos crimes contra os costumes, o Código Penal reafirma o valor da mulher "honesta", ao punir a "posse sexual mediante fraude", o rapto e a "sedução". Todos esses crimes têm como vítima a mulher "honesta", definida, evidentemente, de acordo com os padrões da moralidade sexual que informam a sociedade brasileira, que implicam na valoração da virgindade e da monogamia. Segundo uma orientação moral, o Código Penal classifica como "crimes contra a liberdade sexual" o estupro, em vez de colocá-lo no rol dos crimes contra a pessoa, como agressão física. Ainda sob uma visão de higienização da família, o Código Penal prevê punição para os crimes de "periclitação da vida e da saúde", particularmente no que se refere ao "perigo de contágio ou doença venérea", crime comumente imputado às mulheres que exercem a prática da prostituição. Na área das relações de trabalho, a partir de 1930, desenvolveu-se na legislação uma particular atenção para com a família, no tocante à regulamentação dos trabalhos da mulher e do menor. Tal regulamentação era presidida pela lógica de que ao pai ou ao marido cabia a direção familiar. A este dava-se o direito de rescindir o contrato de trabalho do menor ou da mulher casada "quando a sua continuação for suscetível de acarretar ameaças aos vínculos da família". Tendo como ideologia a fragilidade da mulher igualada ao menor, a legislação trabalhista previa uma série de restrições ao trabalho de ambos. Ao mesmo tempo que se incentivava a entrada de novos contingentes de trabalhadores no mercado de trabalho face às necessidades econômicas, colocavam-se limites para esses novos contingentes. Na justificativa do legislador, tais limites calcavam-se na fragilidade da mulher e do menor, bem como na necessidade de não desvirtuar a mulher de sua "função primordial": o lar. Na realidade, a lei criada com o intuito de compatibilizar a "função primordial da mulher" — o cuidado com a família (físico e moral) — com uma função produtiva na esfera do capital mostrou-se inoperante. As regras do direito do trabalho perderam sua operacionalidade no que diz respeito à família, 108
sem contudo perder sua eficácia ideológica quanto à visão da fragilidade feminina e sua função primordial. O trabalho externo da mulher era visto como um "desvirtuamento" das "habilidades domésticas naturais femininas" e sua renda tratada como "suplementar", apesar de sua necessidade crescente para o orçamento doméstico. Por outro lado, a legislação protetora do trabalho feminino, não se ampliando em direção aos trabalhadores masculinos, atuava como elemento intensificador das dificuldades da mulher frente ao mercado de trabalho, reforçando, como faca de dois gumes, a desvalorização dessa mão-de-obra. Na esfera do trabalho, a legislação não amparava, na década de 30, a empregada doméstica, fato que só ocorreu na década de 70, mesmo assim nlo se estendendo a essas trabalhadoras todos os direitos trabalhistas. É provável que, por trás dessa sonegação de direitos a um grupo numeroso de trabalhadoras, esteja a concepção de família extensa, integrada por agregados em relação aos quais a família não mantém laços contratuais, e sim laços de favor. Realizado dentro da unidade familiar, o trabalho da empregada doméstica destaca essa semelhança com o agregado da "casa-grande". A análise da legislação sobre a família nos períodos de 1930 a 1964 indica a permanência do modelo jurídico familiar que se mostra funcional, seja nos momentos de autoritarismo, seja nos de redemocratização. Tal modelo funda-se na assimetria sexual e geracional, incentivando a procriação e centralizando todo o poder na figura do pater famílias. Trata-se de um modelo autoritário, que serviu de substrato às analogias entre Vargas e "o pai dos pobres", entre a necessidade de coesão da pátria e a necessária e "saudável" ordem familiar. As mudanças relativas a esse modelo começaram a ocorrer a partir de 1962, embora não atingissem o modelo como um todo. O Estatuto da Mulher Casada, de 1962, e algumas alterações na Lei de Registros Públicos não abalaram o modelo patriarcal e monogâmico, em que pesem práticas sociais que se afastam na sua concretude, com freqüência, do "tipo ideal" de família, segundo a ideologia jurídica. A partir de 1962, a posição jurídica da mulher perante a família era a de "colaboradora do marido". Prevalecia a idéia 104 108
de hierarquia, ratificada quando persistia a prevalência da vontade masculina sobre a feminina. A partir do Estatuto, no entanto, a mulher casada passou a ter capacidade jurídica plena, deixando de ser "relativamente incapaz", conforme texto do Código de 1916. Apesar de desde o início dos anos 60, haver farta jurisprudência dos tribunais a respeito dos direitos da "concubina", a alteração legislativa não ocorreu. Nos processos que envolviam relações não-matrimoniais, podia-se perceber a evolução da ideologia do poder judiciário sobre o assunto: falando antes de "amásia" e de "concubina", passou a usar a expressão "companheira", símbolo do reconhecimento das relações familiares não legalizadas. Mas o texto legal não acompanhou esse reconhecimento por parte do Poder Judiciário, e tanto o Código Civil quanto as Constituições continuaram a reconhecer apenas a família oriunda do casamento. O estudo da legislação sobre a família a partir de 1964, quando se instituiu um novo período autoritário, pode fornecer elementos comparativos que permitam afirmar a dominância da permanência do modelo legal ou das alterações que incorporaram a diversidade da família. Nesse período, é importante assimilar, além da produção jurisprudencial sobre as chamadas "sociedades de fato" (relações entre "concubinos"), houve a adoção da instituição do divórcio. A Lei n.° 6.515, de 1977, chamada de "Lei do Divórcio", embora tenha se constituído num avanço da legislação reguladora da família, limitou o pedido de divórcio a uma só vez, não seguindo a orientação das legislações civis modernas de outros países, que adotaram o instituto do divórcio. Na área do concubinato, a legislação previdenciária reconhece o direito dos "companheiros", desde que a relação perdure por mais de cinco anos ou dela advenham filhos. A decisão dos tribunais, legitimada através da produção jurisprudencial, só tem solucionado problemas legais oriundos das relações familiares não reguladas pelo direito mediante a adaptação da figura jurídica da "sociedade de fato". Poder-se-ia dizer que é nesse campo que se exige dos juízes maior "criatividade" e "flexibilidade" para superar a contradição entre a rigidez da lei e a 104
mobilidade da vida. Por isso mesmo, tal "criatividade" significa a adoção de modelos a serem investigados para a compreensão de uma nova tendência na área da legislação sobre a família. Na realidade, a grande alteração no direito sobre a família ocorreu, a partir de 1970, na área das normas relativas à questão da reprodução. De uma postura claramente pró-natalista, na década de 30, reforçada pela Lei de Contravenções Penais, de 1941, que pune a propaganda de métodos abortivos e contraceptivos, a legislação sobre a reprodução caminhou para uma postura antinatalista. Normas e portarias do Ministério da Saúde passaram a se preocupar com a controvertida questão do "controle da natalidade", com o "planejamento familiar" ou com as questões da "saúde e reprodução". Contrariamente ao tratamento dado à questão do aborto, que permanece como crime, exceto nas situações resultantes de estupro ou em casos de risco de vida para a gestante, a política de planejamento familiar vem sendo implantada, apesar das críticas de setores da Igreja. O conjunto de leis ou normas ministeriais que regulamentam a política de planejamento familiar no Brasil, se por um lado significam uma certa "modernização" do Estado em face de seus problemas e interesses demográficos, além de pressões de segmentos sociais, por outro, tal como a legislação sobre a família como um todo, não chegam a trazer novas concepções ou alterações à ideologia jurídica sobre a família. No direito brasileiro, ela é um espaço do indivíduo, de uma espécie de "direito" particular, onde predomina a idéia de que "roupa suja se lava em casa". A idéia de um campo especial, de normas internas, explica teses de juristas sobre a "legítima defesa da honra" nos casos de assassinatos de mulheres que teriam infringido a norma da fidelidade conjugal preconizada no Código Civil de 1916. A redemocratização do país trouxe à tona um conjunto de reivindicações que dizem respeito a profundas alterações legislativas. Na área da legislação sobre a família, destacada pelo movimento de mulheres, propõe-se a extinção do preceito que delega ao homem a chefia da família, e de todo um conjunto de normas conseqüentes a essa premissa. 56
Há propostas para que a nova Constituição alargue o conceito de família, sem restringir seu reconhecimento ao vínculo legal. Espera-se uma política mais eficaz quanto às creches e se reivindica a descriminalização do aborto, o acesso aos meios contraceptivos, a plena igualdade entre homens e mulheres na lei e nas práticas sociais. No tocante à família, no entanto, o império da lei é muito relativo, limitado por laços de afetividade e pela idéia vigente de que ela constitui um campo particular da moral. O desenho da família e a ideologia legal a seu respeito passam indiferentes às mudanças mais profundas da sociedade. A essa constatação colocam-se algumas questões: que forças sociais podem ensejar, ao nível da legislação, mudanças mais profundas nos padrões da família? Nos processos político e econômico é desejável tal mudança? A tais questões agregam-se algumas reflexões. O levantamento das reivindicações sociais nos últimos vinte anos aponta para o fato de que apenas o movimento de mulheres tem pressionado no sentido de se alterar a legislação civil sobre a família. Não há manifestações na mesma direção dos partidos políticos e dos sindicatos ou outros grupos organizados da sociedade. De certa forma, repete-se o que ocorreu na luta pelo voto feminino e na edição do Estatuto da Mulher Casada: apenas se mobilizaram os grupos femininos. Por outro lado, pode-se questionar até que ponto o efeito modernizante da legislação sobre a família é desejável em termos dos esquemas de poder na sociedade, utilizando-se como variáveis as categorias classe social e sexo. Ademais, convém questionar até que ponto o efeito conservador da legislação sobre a família não se tem mostrado, na realidade, extremamente "funcional" apesar das distintas conjunturas políticas e econômicas em que atua. Permanência ou mudança? O grande processo de debate que se anuncia com a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte pode, ao mesmo tempo, atuar como espaço para a agregação da problemática da família e também como parâmetro do quanto essa questão é ou não uma preocupação dos grupos identificados com mudanças na sociedade, segundo padrões democráticos. 112
Talvez o debate sobre a democracia pudesse ser ampliado. Na realidade, a democracia que está sendo reivindicada é a democracia na relação entre o Estado e o cidadão. A questão da mudança do modelo reducionista de família poderia ser revigorada se a questão democrática fosse o padrão no relacionamento entre os cidadãos, e não apenas destes com o Estado. "Que família queremos" talvez seja uma questão que se coloque no mesmo nível de inventividade da pergunta "que democracia queremos?"
113
A FAMÍLIA COMO VALOR; CONSIDERAÇÕES NÃO-FAMILIARES SOBRE A FAMÍLIA A BRASILEIRA
Roberto Da Matta É fundamental constatar-se que os estudos sobre "família", no Brasil, são familiarmente realizados por mulheres. Aos cientistas sociais masculinos caberia trabalhar não propriamente com a "família", mas com os grupos políticos formados a partir da casa, os quais teriam uma atuação muito mais profunda e bem mais "política". Tal como acontece nas sociedades tradicionais, as mulheres devem ser professoras, enfermeiras e estudiosas da "família", ao passo que os homens dedicam-se a assuntos mais "duros" e mais condizentes com a chamada "dura realidade da vida", com o que se passa no mundo da "rua". Esta tem sido, se não me engano e a memória social não me falha, a perspectiva "metonimizante" (onde, como se observa, o conteúdo e o continente se confundem ou detêm uma mesma natureza) e geral que vem dominando nossos estudos. Ou pelo menos assim pensa a nossa vã sociologia... Assim, é interessante iniciar estas notas sobre a família, as relações de parentesco e o nepotismo no Brasil indicando que, num suplemento do Caderno Especial do Jornal do Brasil, cuja ênfase era o "processo de modernização da família brasileira", de seis trabalhos apenas um foi escrito por um professor (Gilberto Velho) e sua coordenação entregue a um outro homem, o psicanalista Sérvulo Figueira, que nos brindou com uma longa entrevista, repleta de observações importantes sobre esse tema, na última página desse suplemento. Mas talvez esteja chegando o momento em que essas divisões tradicionais de especializações metonímicas se acabem. 1
1
"A nova família", 14.7.1985.
100
Confesso que uma tomada de posição sem exageros não é muito fácil. Falar de família e de parentesco pode ser tanto um exercício corriqueiro (e até mesmo anedótico) quanto uma atividade reveladora dos caminhos que gostaríamos de percorrer para melhorarmos nossa prática social autoritária e nossa visão de nós mesmos que, em geral, tende a ser ingênua e inteiramente acrítica. Mas a importância da família ultrapassa as considerações mais acadêmicas e normativas das nossas ciências sociais e chega aos jornais de circulação nacional, os quais, desde a posse do presidente José Sarney, têm falado quase que diariamente da nomeação dos parentes, afilhados e amigos para os cargos mais visíveis da chamada Nova República que, segundo dizem, renasce com o próprio presidente da República fazendo uma ingênua e perfeita defesa do nepotismo à brasileira em um dos seus primeiros e mais importantes pronunciamentos à nação. Esse velho e gasto nepotismo, que hoje já se julgava enterrado nas páginas não mais lidas, ou sequer consultadas, de um Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Sérgio Buarque de Holanda, Fernando de Azevedo, Emílio Willems, Charles Wagley ou Antônio Cândido. Mas diz o jornal, que não me deixa mentir: "Dos 24 ministros, dez têm a mulher, genros e cunhados no governo. Waldir Pires (ex-ministro da Previdência Social) nomeou um filho, uma irmã e dois sobrinhos; Carlos Sant'Anna (ex-ministro da Saúde), a mulher e três filhos; e Aureliano Chaves, o cunhado". De fato, a oportunidade de escrever sobre esse tema faz-me refletir sobre os ciclos periódicos em que — suspensa a censura mortal e nefasta imposta aos meios de comunicação de massa — surge a família à brasileira, com toda a sua força institucional. De ator que se julgava morto ou aposentado pelo regime militar, pela ditadura ou pelo mundo moderno e desencantado — esse mundo que já estaria modificado pelas lutas de classe e pelos conflitos urbanos, cujos personagens são os sindicatos, as associações de bairro e os partidos políticos —, a família volta à cena social com um extraordinário vigor: seja pelo ci2
2
Jornal do Brasil,
104 59
16.7.1985.
tado nepotismo que aparece na Presidência, no Congresso Nacional e em quase todos os ministérios, seja nos escândalos abusivos, mas do mesmo teor, que revelaram como o Ministério da Justiça foi deveras apropriado pela desonestidade de um ministro em família; seja, ainda, nas inocentes reportagens onde se mostra como o mesmo "nome de família" permite garantir um certo talento, uma boa oportunidade e, seguramente, o apoio simpático e generoso de uma excelente crítica. Assim, é notável o verdadeiro milagre de tudo isso acontecer às claras, sem se perceber (ou querer perceber) os elos que o tornam um jogo realizado com as mesmas cartas e sempre com as mesmas regras. No caso mais contundente de todos — o do ministro em família —, via-se um jogo não apenas moderno, corrupto e inevitavelmente individualista, ou seja, o da apropriação de um cargo por um homem com seus interesses pessoais englobando as prioridades e decências da vida pública, mas sobretudo o do uso "patriarcal" (no melhor estilo de Gilberto Freyre) de um órgão federal, quando se descobre que o filho e a mulher, bem como primos e outros agregados da casa do dito ministro, se utilizavam dos recursos do ministério público e das leis que o Ministério foi capaz de inventar de modo absolutamente "tutelar" ou "patrimonialístico". Esse caso, se fosse citado por Gilberto Freyre, causaria escândalo ou um certo ar de descrença sociológica. Contudo, há nele tanto os valores inevitáveis de um individualismo negativo, quanto as motivações de ajudar a família e os agregados, fato que nos faz retomar um lado freqüentemente "esquecido" pela sociologia do Brasil. Tudo isso, enfim, em geral nos faz apenas sorrir, quando seria nossa obrigação ao menos tentar descobrir suas implicações mais profundas. Entretanto, continuamos dividindo as coisas do mundo social de modo tradicionalíssimo, ainda falando em casa e rua e, em conseqüência, em nós e eles. Isso posto, quando falamos da "gente" e das "nossas nomeações", trata-se de algo válido e compreensível, pois quem fala mal disto não entende nossa posição e certamente enxerga 3
3
Trata-se do caso do ex-ministro Ibrahim Abi-Ackel.
o mundo social sob óptica de um "moralismo barato". Afinal, concluímos com toda a confiança analítica, "não é disso que um governo é feito; há problemas muito mais importantes, como o da pobreza urbana e do crescente analfabetismo rural..." Porém, quando a nomeação de mesmo teor é feita por "eles", tudo muda de figura. Há o escândalo, a má-fé, o autoritarismo e a figura maior da opressão e da criminalidade. Mas o caso de tal ministro da Justiça deve ser retomado, pois é muito rico em ensinamentos. Filho de imigrantes pobres e estrangeiros, constitui parte e parcela daquela periferia social a que se referia Antonio Cândido quando, em 1951, escreveu o seu clássico "The brazilian family" no qual afirmou, certamente fazendo eco de algumas idéias importantes de Gilberto Freyre, que a "família patriarcal" dominante estava cercada de formas não-patriarcais de organização doméstica. Ou, conforme explicitou Gilberto Freyre, já em 1933, em Casa-grande & senzala, essa família patriarcal (ou tutelar) engendrou formas "antipatriarcais ou mesmo semipatriarcais e parapatriarcais". Esses autores, embora se refiram a uma modalidade dominante de estrutura doméstica, reconhecem a diversidade dessas formas no nosso meio social. Ambos, porém, vão além da mera constatação da diversidade para tentar entender sua natureza e suas relações. Assim, parecem exprimir o entendimento sociológico dessa diversidade, que se encontra, conforme tentarei indicar mais adiante, definitivamente ancorada ou referida à forma dominante que se convencionou chamar de "família patriarcal": aquela capaz de manter agregados, realizando a ponte entre o mundo público e o universo privado, e agir como grupo corporado (como uma pessoa jurídica indivisível), apesar de todas as suas enormes diferenças internas. O importante, no caso do ex-ministro, é considerar que sua origem certamente se enraíza na periferia multifacetada de formas antipatriarcais de família e de casa. Vindo de outra terra, afirmou-se na política local aberta aos mais inteligentes e letrados, seguindo uma próspera carreira de advogado e político. Daí
para o ministério foi uma questão de oportunidade e de conhecimento das pessoas certas, no momento adequado. Ou seja: uma questão de tutela, de patrocinato, de rede de relações sociais e de "conhecimentos"; de um sistema, enfim, onde a relação é um valor social importante, e não apenas o resultado empírico da comunicação entre indivíduos, e onde as relações permitem sintetizar as contradições de uma prática social duplamente orientada. Esse caso é perfeito, pois nele se encontram tanto o ângulo individualista e igualitário de nossa vertente liberal (de ascensão social, que comprova os nossos valores democráticos), quanto o lado hierarquizador e tutelar. Assim, em vez de levar para o seu ministério todas as reivindicações relativas ao que certamente vivera como um filho de imigrantes, o ex-ministro percorreu um caminho patriarcal e patrocinador. Sua postura não foi a de romper com o lado patriarcal da pasta, mas, ao contrário, de acentuá-lo com toda a grandeza. Sua trajetória, então, deixou de ser a de um autêntico representante de seu grupo étnico original (o que seria um fator democratizante), para se tornar a de um ousado aproveitador das oportunidades sociais que um cargo público pode oferecer. A conseqüência foi sua atuação junto ao cargo ministerial de modo familístico, tomando sua família como ponto central para sua atuação social e política. E o mais curioso é que tal não parece ser uma contradição, mas uma prática social corrente. Conforme disse Gilberto Freyre, "a ordem brasileira não é monolítica ou única, mas uma variedade de ordens que tem se juntado para formar, às vezes contraditoriamente, o sistema nacional, a um tempo uno e plural, em seu modo de ser ordenação ou sistematização de vida ou cultura". Essa mesma ordem social que reduz à periferia (ou à marginalidade) famílias (e casas) cuja organização não é patriarcal (aqui definida como uma parentela de mais de duas gerações, com agregados, que age de modo corporado quando em crise e possui uma chefia indiscutível, bem como recursos de poder que o grupo cuida de manter e distribuir com cuidado e de-
In T. Lynn Smith e Alexander Marchant (eds.), Brazil — Portrait of half a continent, Nova York, Dryden, 1951.
5
4
4
104 60
8
Cf. Ordem e progresso, Rio de Janeiro, José Olympio, 1962
cisão) faz também com que esses grupos possam eventualmente chegar ao poder por meio do uso de relações pessoais. E mais: uma vez no poder, atuam como famílias patriarcais e seus membros como patriarcas ou líderes tutelares. Assim, um ministro chega ao topo do poder e comporta-se tal e qual um senhor de engenho pernambucano; só que ele distribui algo que o ministro controla apenas formal e burocraticamente, ao passo que o "senhor feudal", dono de engenho, estaria dando o que é seu... Note-se, porém, que o comportamento é o mesmo: ambos encontram-se ligados a uma poderosa rede de aliados e tomam a "família" (e a casa) como foco de suas ações políticas. Tal grupo tem atuação política e jurídica, mas sua ideologia é de substância, ou seja, funda-se na crença de existir uma substância comum (o "sangue" e a "carne") que faz o grupo agir como tal, exigindo e legitimando lealdade e devoção de seus membros. Aliás, poucos estudaram essa ideologia de substância em seus próprios termos, como o fez — é um prazer mencionar — Ovídio Abreu Filho, em "Parentesco e identidade social". Não obstante raras exceções, essa ideologia que distingue uma "natureza" no nosso sistema de relações sociais, atualizada na família e na casa, jaz singularmente ausente das reflexões clássicas e modernas sobre o assunto. Ninguém a expressou melhor nos últimos tempos do que o próprio presidente da República, José Sarney, quando disse, com grande ingenuidade e notável ausência de aconselhamento cultural, acerca de nomeações que implicavam membros de sua própria família: "Em primeiro lugar, eu acho que se a pessoa tem qualificação, tem valor, tem condição de exercer um cargo, ela deve ser aproveitada. Pelo fato de ser parente, não pode ser penalizada nem condenada a não trabalhar". Note-se o mesmo tom exagerado sempre utilizado no Brasil quando certas instituições sociais sagradas ou indiscutíveis são atacadas. A Câmara reagiu da mesma forma quando a sociedade civil apresentava como problema a questão moral importante do 6
7
6 7
Anuário Antropológico 80, 1982. Jornal do Brasil, op. cit.
104 61
jeton dos seus membros. Também se disse que essa instituição estava sob o fogo cerrado de uma campanha que visava a desmoralizar o próprio Legislativo como poder. De fato, o que se encontrava sob fogo era a imoralidade (ou não...) dos jetons. Tal como no caso do presidente, o que estava em jogo era a nomeação de parentes próximos para cargos públicos que o presidente não possui, mas obviamente controla. Aqui, conforme sabemos, não está em jogo a qualificação da pessoa, mas simplesmente o modo pelo qual ela foi aproveitada. Se o presidente criasse o cargo para sua filha, poder-se-ia até aceitar o movimento. Mas não é assim que tais cargos são preenchidos. Eles são utilizados e inventados para multidões de amigos e parentes, passando por cima das normas mais elementares da administração pública. O que está em questão, portanto, como algo imoral aos olhos do cidadão comum, não é a nomeação em si, mas o modo como a nomeação foi realizada. O que está em causa, igualmente, é o fato de uma pessoa comum (alguém que não tem relações com o presidente ou qualquer outra pessoa dos mais altos escalões do governo) estar sujeita a um concurso público, tendo que cumprir todas as normas burocráticas, as quais, por causa disso mesmo, parece-me, são no Brasil duras e quase impossíveis de serem rigorosamente atendidas pelos cidadãos. Estes, conforme digo em Carnavais, malandros e heróis, são apenas indivíduos, porque são obrigados a seguir a lei e, além disso, não têm relações com as pessoas que mandam no sistema. Daí, certamente, essa dialética curiosa e antimoderna da eterna recorrência aos amigos (quando se está diante das leis com sua impessoalidade e sua terrível universalidade) e da sempre renovada esperança nas leis que irão melhorar a vida política e social (quando se está em conversa franca e desarmada com os amigos). O resultado é uma interessante circularidade, que ninguém revelou ou percebeu, entre a vida burocrática (ou constitucional) do país e as relações de amizade, 8
4
Rio de Janeiro, Zahar, 1983.
compadrio e parentesco, que ordenam a sua vida diária dentro da casa, como busquei indicar em meus trabalhos. Com isso, as leis não podem ser o espelho das práticas sociais, mas são sempre concebidas como instrumentos de correção ou remodelamento dessas práticas. A lei, assim, é o ideal, ao passo que as regras da lealdade aos amigos e às pessoas da casa em geral fazem parte da chamada realidade. Lei e práticas sociais, então, conforme nos faz enxergar o caso Sarney, não se encontram em sintonia. Ao contrário das tradições anglo-puritanas (ou anglo-calvinistas), o sistema brasileiro desenvolveu-se com uma expectativa social que tem valorizado as leis como instrumentos de correção da prática social, sobretudo no que diz respeito à tão famosa "corrupção administrativa". Daí o velho ditado que fala das leis para os inimigos; aos amigos, ele afirma: "tudo!" E o seu irmão gêmeo diz: "existem leis suficientes, falta, porém, vergonha na cara para cumpri-las". "Segui-las", diríamos nós que compreendemos as razões sociológicas mais profundas do sistema. Aqui, as leis são sempre aplicadas contra quem ainda não se mostrou relacionado aos poderosos. Uma vez que isto venha a ocorrer, então tudo muda de figura e há uma passagem deveras importante, sob o ponto de vista social, de indivíduo a pessoa. Em outras palavras, as leis são duras demais para serem seguidas pelos amigos e, inversamente, as relações sociais com os amigos são boas demais para serem conduzidas pelo crivo duro e frio das leis. O impedimento da correlação básica entre as leis e as práticas sociais (que permite que todas as leis sejam teoricamente justas e profundamente ligadas aos cidadãos) é, sem dúvida, uma função dessa concepção jurídica, segundo a qual as leis só devem servir para os outros (para eles), jamais para nós. Max Weber dizia que o modo de dominação burocrático, sendo o mais formal e impessoal, era igualmente o mais racional, isto é, era aquele onde se poderia constatar não só uma perfeita relação entre meios e fins, mas, sobretudo, um divórcio 9
Ver Carnavais, malandros e heróis, op. cit.; A casa e a rua, São Paulo, Brasiliense, 1985.
9
104 104
entre as pessoas e as regras administrativas que governavam os membros da organização. Em função disso, dizia também que o princípio da ordem burocrática era aquele que afirmava a lógica do sine ira et studio, ou seja, sem favor ou raiva (ou preconceito), conforme queria o historiador latino Tácito ao escrever sua história. Mas no caso brasileiro tal princípio lógico, por tudo o que temos visto, é impossível, pois ele contraria frontalmente o uso das leis como formas corretivas e punitivas e, mais ainda, aquelas lealdades e considerações que devemos sempre a todos os nossos parentes, amigos e compadres — tudo aquilo que sabemos não estar escrito nos códigos legais (e constitucionais) que modernizam o nosso sistema. No sentido mais profundo, então, entende-se que a única saída será obviamente o nepotismo. Este, entre nós, não é apenas um abuso do poder, mas principalmente um modo de proteger alguém de leis que não podem prever as linhas-mestras de nossas necessidades sociais. Se a lei vem para corrigir, para explorar e para criar realidades ainda inexistentes, então não pode ser usada para simples e candidamente apoiar o amigo ou empregar o parente. Só o jeitinho ou o velho e antipático nepotismo (que é, realmente, o você sabe com quem está falando? elevado à escala máxima de poder) podem realizar o milagre de juntar práticas com realidades jurídicas e políticas que nossa tradição social decidiu manter como dois planos divididos e separados. As leis são elementos do mundo da rua; as regras não escritas ou mesmo discutidas das amizades e dos parentescos pertencem ao universo da casa. Entre um universo e outro há um enorme espaço vazio a ser preenchido pelo nepotismo, pelo jeitinho e pelo você sabe com quem está falando? Por saber de tudo isso, o presidente pôde afirmar publicamente: "No caso de minha filha, ela exerce uma função quase de terceiro escalão" (é curioso entender essa evidente desculpa pública que o "quase" implica). Mas, continuou Sarney, apoiando a nossa teoria do nepotismo: "Quando ela veio para cá, foi assim como quem está vendo seu pai em perigo. Disse: vou socorrê-lo! Ela, como filha única, estava ao meu lado." E completou, convicto: "Acho que não estou cometendo, de nenhuma maneira, nenhuma forma de nepotismo! No caso do Jorge
Murad (marido da filha), o problema é ainda mais grave porque ele foi punido e demitido porque era meu genro. E agora não pode trabalhar, porque também é meu genro!" Essa é uma notável cadeia de associações que faria Weber tremer, pois a suposta negação do nepotismo é precisamente a sua rigorosa e ardente afirmação. O dado crítico, repito, não está no fato humano de querer ter a seu lado a filha "única" e certamente querida pela sua lealdade a mais absoluta com o pai-presidente; tudo isso é normal e, conforme disse, mais do que razoável. Contudo, centra-se no uso dos poderes do cargo para não-publicamente nomear a filha e o genro, o qual, para provar toda a teoria, havia sido desnomeado do seu alto cargo quando Sarney resolveu apoiar Tancredo Neves. Caso leis e práticas sociais andassem juntas, o presidente simplesmente proporia ao Congresso Nacional a nomeação de seus parentes, mencionando todas essas razões. E os fatos seriam julgados com as referências normais citadas por ele em suas justificativas. A distância entre leis e práticas sociais perpetua o nepotismo autoritário e sem dúvida faz com que a vida social decorra movida por duas éticas altamente diferenciadas. Uma delas aplica-se às razões de família (ou às razões da casa) e outra é usada para se exercer uma razão pública (as razões da rua). O fato crítico é que tais razões só se encontram nos momentos de crise ou de conflito. Porém, tanto no caso do ex-ministro quanto no do presidente, os laços de filiação e de amizade são utilizados — não obstante o sistema legal — para permitir, ampliar ou até mesmo acentuar uma gestão pública. Isso é corriqueiro, apesar de a nossa mentalidade jurídica ficar ferida ou melindrada. E isso acontece em todos os partidos (até mesmo no PT e outras agremiações mais moralizantes) porque há um acordo tácito de tal prática ser culturalmente legítima, embora contradiga abertamente o código burocrático que permeia o conjunto das nossas instituições públicas. Mas isso não é tudo. Uma reflexão mais crítica sobre á "família" permite descobrir que, entre nós, ela não é apenas 10
10
104
Jornal do Brasil, op. cit.
uma instituição social capaz de ser individualizada, mas constitui também e principalmente um valor. Há uma "escolha" por parte da sociedade brasileira, que valoriza e institucionaliza a família como uma instituição fundamental à própria vida social. Assim, a família é um grupo social, bem como uma rede de relações. Funda-se na genealogia e nos elos jurídicos, mas também se faz na convivência social intensa e longa. £ um dado de fato da existência social (sem família, como dizem os velhos manuais de sociologia, não há sociedade) e também constitui um valor, um ponto do sistema para o qual tudo deve tender. Assim, o termo "família" refere-se não só à família nuclear (mulher/marido e filhos), mas também a toda a parentela. Além disso, utiliza-se "família" como um qualificativo poderoso para denotar situações corriqueiras ou rotinizadas ("essa comida é familiar") ou quando alguma coisa é importante e boa ("aquela moça é de família"). E é bem conhecida a importância, mesmo hoje em dia, em se possuir um "nome de família" ou em se ter nascido numa "família importante ou boa". Há pessoas que pertencem a uma "família de generais", tal como há as que nascem em "família de políticos" ou de "comerciantes", cretinos ou diplomatas. Pertencer bem ou mal a uma "família", nestes vários sentidos, é mais significativo do que ter um elo com pessoas e instituições: de fato, esse pertencer é tão crítico que vale por uma classificação social. Uma pessoa que "vem" de uma "família sem pai" permite definir uma linha dramática precisa; do mesmo modo, quem faz parte de uma família sem "eira nem beira" encontra dificuldades ao realizar certas coisas em determinados ambientes, no caso brasileiro. É curioso observar que tomamos o "legal" e a lei como um valor (daí o adjetivo legal para exprimir o certo, o positivo e o bom: aquilo que é realizado de acordo com as boas normas de sociabilidade e de moralidade) da mesma forma que tomamos a "família" para exprimir um dado empírico e um modo de ser, bem como um valor e até mesmo a condição da existência. Quem não tem família já desperta pena antes de começar o entrecho dramático; e quem renega sua família tem, de saída, a nossa mais franca antipatia. Assim, o legal (que remete ao mundo da rua e à impessoalidade das leis) é valorizado tanto quanto o familial que, 125
conforme sabemos, endereça ao mundo a casa, esse universo governado pelo primado das relações que também admiramos. Entre esses dois universos nós oscilamos, escolhendo freqüentemente, sem perceber, os dois. Mas sem discutir as variadas e dramáticas significações associadas à "família" como valor e categoria sociológica será certamente impossível entender alguns problemas importantes. Um deles (certamente um falso problema central em muitas análises clássicas e recentes da questão) relaciona-se a tal diversidade de tipos de família, no caso brasileiro. Existe uma intensa discussão entre os autores que aceitam a tese da família patriarcal, tal como a imaginam pela leitura de Gilberto Freyre, e aqueles que negam essa realidade, seja para acentuar a relação direta entre dominação e patriarcalismo familístico, seja para demonstrar que essa forma de família estava conspiCuamente ausente nas camadas subordinadas e entre os escravos. Em um certo sentido, muito preciso, todos têm razão. Há diversidade, mas há também o poder dos modelos dominantes que fornecem paradigmas sociais fundamentais para toda a população, que pode ou não atualizá-los de modo aberto e concreto. Afirmar que o modelo da sociedade é o da família patriarcal não impede que uma viúva ou uma mulher solteira possam viver patriarcalmente; até mesmo um grupo de mulheres pode atualizar um modo de existência de acordo com um paradigma patriarcal, do mesmo modo que um grupo de homens pode viver matriarcalmente. A antropologia social contemporânea e os estudos de parentesco estão repletos de bons exemplos, capazes de afastar o fantasma de uma visão cultural por demais empiricista, daquelas que exigem ver para crer, esquecendo a afirmação de Weber de que só no cinema se "vê" neste sentido realmente. Mas quem fala da diversidade tem razão quando deseja frisar que a família brasileira possui um acentuado marco de classe (ou de estado social), de modo que há não só uma variedade óbvia, mas também o impedimento da organização e até mesmo da fundação de uma família, no caso de largas percentagens de nossa população no período anterior à República. De fato, como os escravos poderiam viver em família, se tudo na escravidão conduzia a uma suprema individualização 104
da pessoa que quase morria socialmente? Entre os antropólogos sociais, tem sido comum a crítica segundo a qual essa forma de família só poderia existir nas camadas mais ricas ou elitizadas da sociedade. Creio que Charles Wagley e Conrad Kottak estão ligados a essa demonstração. Willems, etnólogo que mostrou cabalmente tais variedades de tipos familiares, chamou a atenção para o "androcentrismo" da família brasileira. A questão, evidentemente, não jaz apenas na aceitação das diversidades, mas na tentativa de estabelecer nexos entre elas. Neste sentido, é curioso contrastar a presença das famílias patriarcais nas classes dominantes com sua ausência nas camadas subordinadas. Serão duas sociedades diferentes? Será uma ou outra visão o resultado puro e simples de uma miopia sociológica? Ou será isso um tipo de diversidade complementar e hierárquico que a sociedade como sistema desenvolveu, de maneira a existir uma dialética entre essas formas, em que uma preenche a outra? Deste modo, tudo o que a casa-grande tem, não pode existir na senzala; mas virá da senzala a energia vital (não apenas no sentido crasso da mera exploração do trabalho escravo), bem como a alegria e a capacidade de viver com dignidade, no limite da própria condição humana. Trata-se de um mito moderno o ler a experiência da escravidão e do servilismo como sendo marcada pela conflituosa visão de mundo que caracteriza o individualismo do mundo ocidental. Sem dúvida, entre senhores e escravos havia tragédia e suprema exploração. Mas é óbvio, igualmente, que para uns e outros a visão de mundo como normal e fundamentalmente constituído de pessoas desiguais era também um fato indiscutível, demonstrado pelo próprio laço social crítico, que permitia fundar em termos econômicos esse mundo (a relação entre senhor e escravo). Assim, tudo o que inversamente faltava na casa-grande existia na senzala, conforme é possível ver ao se ler a nossa experiência histórica de forma mais aberta e com os olhos do sistema que a engendrava. 11
Cf. Orlando Patterson, Slavery and social death, Nova York, Harvard Univ. Press, 1982. 11
127
Do mesmo modo, hoje há uma relação cabal e crítica, um elo doloroso entre a casa de classe média, que vive intensamente o individualismo contemporâneo, igualitário e generoso, que faz com que marido e mulher tenham empregos e carreiras, e uma massa anônima, desprotegida, de mulheres que são as babás e empregadas nestas (e destas) casas, permitindo que o modelo individualista seja atualizado. Há uma relação entre a família nuclear altamente individualista (ou, ao menos, permeada pelo código individualista) e grupos familiares (ou casas) onde existem homens e crianças sem mulheres; famílias que existem pela metade porque um de seus membros adultos ou ativos deve sair para a rua a fim de "ganhar a vida". A cada tipo brasileiro de família pode-se descobrir seu lado invertido ou contrário. Para o famoso "androcentrismo" mencionado por Emílio Willems em seu clássico "The structure of the brazilian family", há um "ginocentrismo" ou uma "matrifocalidade", citados por vários outros autores como algo típico da família brasileira, de camada dominada. Tais observações só serão conciliadas percebendo-se que homem ou mulher podem ser utilizados como elementos englobadores do espaço social ocupado pela família, desde que se tenha em vista a faceta profundamente hierárquica e complementar da nossa sociedade. Assim, em alguns contextos, o mundo social será englobado pela mulher, ao passo que em outros será o homem o agente englobador. Sabe-se que tudo o que diz respeito ao mundo da casa é feminino e deve ser englobado pela mulher; mas tudo aquilo que pertence à rua ou é de fora, que fala da economia e da política, das formalidades, é masculino. A funcionalidade do sistema parece residir na enorme capacidade de existirem muitas categorias englobadoras, que podem ser utilizadas em situações e para propósitos diferentes. Nada, portanto, impede que o sistema seja a um só tempo matrifocal e patriarcal, desde que se faça a referência, respectivamente, à casa ou à n
12
Social Forces, Chapei Hill, N.C. 31(4), maio 1953.
104
rua e se queira descobrir os nexos entre esses dois espaços na nossa sociedade. A mesma lógica pode nos ajudar a entender o velho problema da diversidade familística brasileira. Há um dado que não pode ser descartado quanto aos estudos clássicos: a famosa "família patriarcal" era uma forma dominante de constituição social e política. Evidentemente, não era a única em termos de ordenamento social, pois com ela competiam as leis e uma burocracia centralizada que correspondia à ordem constitucional da sociedade. Mas não se pode negar que essa "família patriarcal" exercia sua dominância e possuía uma visibilidade social ineludível, dado o seu poder e a capacidade dos seus membros de exercerem o controle dos recursos de poder da sociedade. Note-se, ainda, que em seu espaço — na sua casa (que incluía a "casa-grande" e a "senzala") — cabiam todas as formas de organização doméstica, vistas hoje como opostas à do grupo dominante. De fato, no interior de um solar mineiro, de um engenho pernambucano, de uma fazenda fluminense ou paulista, podemse encontrar grupos domésticos que concretizam em maior ou menor escala os valores de tal "família patriarcal". Há, pois, grupos com marido, mulher, filhos e agregados aparentados e não aparentados (escravos, criados, padres, empregados, filhos e filhas-de-criação, afilhados etc.), mas não se deve esquecer que cada um desses "tipos sociais" estava destinado a ter, nas condições de existência estipuladas pelos "donos" da fazenda, da casa ou do solar, sua forma de família. Tal como ocorre atualmente nos nossos apartamentos e casas (pequenas), a criadagem pode ter sua família, com a condição explícita de que sua vida familiar não atrapalhe o emprego e sua eficiência no trabalho. Ê assim que fazemos os contratos de trabalho com empregadas domésticas e babás: se exige sempre ou a condição de "solteirice" (ou de uma extrema individualidade, o que relaciona essa forma de trabalho com a escravidão), ou que controlem seus 13
13
Neste sentido, veja R. da Matta, A casa e a rua, op. cit.
129
problemas familiares no momento em que começam a trabalhar para a "nossa família". Há, então, uma categoria dominante que atualiza formas de família incompletas, relativamente ao casal principal ou original e descendentes. As relações de inclusividade (e de exclusividade) permitem realizar todos os jogos lógicos, necessários à operação do grupo como tal. Pode-se ter um jardineiro vivendo apenas com os filhos; uma cozinheira que tem filhos, mas cujo marido está ausente por motivos de separação; uma babá (ou ama) que é mãe solteira; e empregados que possuem famílias nucleares, mas sem nenhum agregado, pois são pobres, sem condições de sustentar visitas de parentes e amigos ou manter qualquer criadagem. Pode-se também ter, nesta mesma casa, agregados celibatários por profissão (como os padres) ou por condição existencial (é o caso das "tias"). Tudo isso compõe a "família patriarcal". Entretanto, nenhum pesquisador examinou sua composição de maneira crítica, o que permite descobrir, na própria estrutura da chamada "família patriarcal", as formas anti, para ou sem/patriarcais mencionadas por Gilberto Freyre, em Casa-grande & senzala. Contudo, nem mesmo ele percebeu que essas formas referiam-se diretamente ao modo de existência social da família patriarcal, que ocupava uma casa-grande, sendo parte de sua própria constituição. Ou, em outras palavras, sem a possibilidade de ter a diversidade como base, seria certamente impossível constituir a família patriarcal como um valor e uma forma ideológica básica do sistema brasileiro. Para sua constituição e sua operação como sistema político e, sobretudo, econômico, a organização doméstica considerada patriarcal teria de contar, em seu bojo, com semifamílias ou antifamílias, tal como hoje é uma condição do trabalho doméstico (e de todo trabalho servil) limitar a contaminação do trabalhador pelos seus elos familiares. Possuir uma família completa, então, é um valor no sentido de que revela uma forma de sucesso ou de superioridade social. Apenas o patrão ou o mandão pode ter o direito estabelecido e tacitamente reconhecido de ter seu grupo doméstico inteiro, fazendo por meio dele os arranjos que desejar. Seus empregados, 104 130
porém, não podem realizar o mesmo e devem controlar sua vida doméstica, não deixando que ela seja um obstáculo ao seu papel como agregado ou empregado do patrão. A grande transformação dessa forma dominante e autoreferida de organização doméstica deu-se quando ela não pôde mais manter em seu espaço todas as outras modalidades de vida doméstica que lhe conferiam poder e legitimidade. Graças às transformações da vida rural e à maior urbanização do sistema econômico, a família patriarcal desmoronou como um grupo visível, tornando-se uma exceção na nossa prática social. Mas seu modelo permanece no sistema, como uma forma de revelar sucesso e domínio, conforme atestam as residências da classe média alta que reproduzem na íntegra o esquema mencionado acima, com a família moderna cercada por múltiplos agregados. Não há mais escravos, mas há empregados de todos os tipos, gozando — tal como ocorria no século passado — de diversas formas de intimidade e de lealdade com e para a família dominante. O que parece tipificar a organização doméstica brasileira não é apenas a sua diversidade empírica, mas a sua capacidade simbólica de tudo agregar e de ter vários modelos de vida doméstica em múltipla e franca relação, todos mais ou menos auto-referidos, como um jogo de espelhos. Nesse sistema, nenhuma forma de moralidade ganhou hegemonia — nem a aristocrática (que teria engendrado a "família patriarcal") nem as burguesas, que tomaram corpo logo depois. Até mesmo categorias oficialmente dominadas, como é o caso notório das mulheres, não foram afastadas ou marginalizadas da vida social como um todo. No sistema individualista (e burguês), cujo melhor modelo é o do universo social anglo-calvinista, a família foi reduzida em suas funções políticas e econômicas (a unidade política é a comunidade e o partido; a unidade econômica é o indivíduo num mercado) de tal modo que a família nuclear tornou-se uma forma dominante e abrangente de organização doméstica. As exceções acabaram numa franca marginalidade, seja quando são para cima, seja quando são para baixo. Famílias onde as relações e um "ethos" antiindividualista são dominantes (por exem-
pio, as parentelas milionárias e as que são muito pobres ou, como se diz, "étnicas") constituem unidades domésticas que realizam formas de sociabilidade marginais ou francamente condenadas pela sociedade em todos os níveis. Todos conhecem as enormes e ressentidas restrições feitas às famílias Kennedy ou Rockefeller, cujos membros — clama-se — se valem dos recursos sociais manipulados pela unidade doméstica em favor deles, numa atuação "clânica" ou unitária. Mas no Brasil (e, certamente, em outros países da chamada tradição mediterrânea), tudo se passa de modo diverso. Aqui, permanecem as relações entre os grupos e não se instituiu qualquer forma hegemônica. Se a família é um valor, não se sabe que tipo de família o detém. Tudo indica que para nós já é suficiente não estar na rua, isolado e só como um indivíduo, para que o grupo primário seja tomado como uma forma de família. Ter uma casa, ao que parece, permite sistematizar e classificar aquilo que uma concepção rígida de unidade doméstica pode impedir. Desse modo, não se deve esquecer que é possível haver muitas famílias (a que constitui o nosso emprego, a que é a nossa parentela como um todo, a que compõe a própria nação brasileira e a formada por nossa mulher (ou marido) e filhos, mas só temos uma casa. A idéia de casa (e de rua), portanto, permite "ajustar" relações sociais diferenciadas em grupos sociais com notável distância, mediatizando suas relações. Somos senhor e escravo; patrão e empregado; homem e mulher; pai e filho; mas todos vivemos (moramos) num espaço comum, que é o da nossa casa. É provavelmente essa situação de proximidade social que permite também agregar hierarquicamente as pessoas numa escala funcional de importância junto ao grupo central e dominante da casa. Nisso, o tempo das relações parece ser um fator fundamental. Também a vivência comum de crises e problemas (quando se pode testar a atitude de cada membro da casa) é outro dado crítico. Finalmente, existem as relações de consangüinidade e de afinidade, que acabam medindo o resto. Mas, devo notar mais uma vez, o grupo tem um perfil nitidamente hierárquico. Do mesmo modo que não instituímos uma forma exclusiva de grupo doméstico, também não fixamos como fundamental 104
uma categoria exclusiva de homem ou de mulher. Ao lado do senhor patriarcal, controlador e obediente das regras morais em casa, há um homem malandro que, na rua, desfruta dos favores do sexo e da boa mesa. Muitas vezes esses dois personagens são encarnados pelo mesmo homem, assim como as mulheres também se dividem em da casa e da rua, conforme tenho assinalado muitas vezes no meu trabalho. Mas à categoria social corresponde uma modalidade de grupo doméstico. E mais: essas categorias são plenamente complementares e hierarquizadas. Em determinado momento prevalece como englobador o homem caseiro e temente das regras; em outro, vale o comportamento malandro, que situa o personagem entre leis e atos imorais, entre a casa e a rua. Pela mesma lógica, essas mulheres dominadas, que devem ficar dentro de casa, submetendo a seus pais, irmãos e maridos os seus favores sexuais, poder reprodutivo e serviços domésticos, são complementadas, e às vezes englobadas, pelas mulheres da rua (e da vida) que com elas formam uma polaridade contrastiva e hierárquica da maior importância para o entendimento da dinâmica familiar e social brasileira. Mulher da vida e mulher da casa são plenamente simétricas, como as duas faces de uma mesma moeda. Temos, então, uma constelação simbólica e/ou ideológica que atribui a cada segmento, categoria ou grupo social uma função específica. Assim, se as famílias dominadas, por um lado, são incompletas ou representam um modelo incompleto (ou imperfeito) da "família patriarcal", por outro, possuem uma liberdade que o tipo dominante desconhece. E por meio dela que os movimentos de modificação social transitam mais abertamente. E são os seus membros as pessoas que detêm o outro lado da moeda nas sociedades hierarquizantes, aquilo que alguns antropólogos chamaram de "poder dos fracos". Pois se existe um poder secular ou legal no Brasil, há também um poder carismático que não 14
14 Cf. Victor Turner, O processo ritual, Petrópolis, Vozes, 1969; loan Lewis, "Dualism in Somali notions of power", The Journal of the Royal Anthropological Institutae, vol. 93; e Mary Douglas, Pureza e Perigo, São Paulo, Perspectiva, 1976.
133
depende do nome de família, do tipo de moradia, da cor da pele ou da educação da pessoa, mas reside na sua capacidade de entrar em contato com o "outro mundo" e, por meio desse contato, tornar-se capacitada(o) a vislumbrar o futuro, curar os aflitos, consolar os angustiados e enfrentar com segurança e esperança as crises próprias à condição humana. Um milionário paulista, "filhinho-de-papai" e membro do PT, não terá essa capacidade de "ler" o futuro e de entrar em contato com os mortos e os orixás. Quem faz isso é precisamente o seu reverso: o empregado analfabeto, que não possui o mesmo tipo de consciência social obtido na universidade e com a leitura dos livros, mas se forma na "vida", com seu sofrimento e sua enorme capacidade de provocar frustrações. Sabe-se, portanto, no caso brasileiro, que ninguém pode ter tudo. A cada "espaço" ou instituição social corresponde um modo específico e básico de ver o mundo. É por isso que nas religiões populares se democratiza o parentesco e a aristocracia que vêm com o modelo tradicional da família, criando-se laços de parentesco espirituais e formando famílias patriarcais espirituais, com seus líderes tutelares que, sem carisma, são pessoas sem "eira nem beira". Mas de posse desse "poder dos fracos", eles podem exercer nas suas "casas de culto" o mesmo papel dos patriarcas donos de engenho, controlando seus filhos e afilhados de santo e exercendo a mediação entre os homens e os deuses. Aqui, à diferença do mundo econômico, político e secular (ou oficial), as pessoas fazem-se superiores pelo seu desempenho e diante dos fatos críticos e duros da existência. Não é mais o nascimento que determina a posição social, mas é o modo como os deuses escolheram seus mediadores que engendra a posição de destaque social. Essa mesma lógica social determinada pela família como valor também permite entender algumas facetas individualistas (ou, como acho mais correto, individualizantes) que estudiosos das camadas médias têm sistemática e diligentemente apresentado em seus trabalhos. Tal individualismo está muito bem localizado e é deveras complementado por uma rede de relações que o sustenta de maneira integral. Em outras palavras, tais experiências individualizantes só podem ser levadas a efeito quando as pessoas possuem uma poderosa rede de relações que 15
104
as ampara e suporta. É curioso constatar como casais separados contam com a ajuda de parentes e de suas famílias, de modo que seu individualismo possa florescer sem os problemas que certamente seriam inúmeros caso não dispusessem de tão rica infra-estrutura familiar. Ficamos, então, com aquela velha e discutida circularidade: quanto mais aristocratismo e rede de pessoas me apoiam mais individualista posso ser. Finalmente, caberia indagar por que a família não se "desembebeu" da sociedade e ficou confinada ao reino do amor individual, da atividade sexual (e reprodutiva) e dos ciclos de sociabilidade e solidariedade mínimos, conforme parece ter acontecido na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, onde esse grupo se encontra definitivamente ligado ao espontâneo, ao psicológico e ao não-cultural. Acredito que a resposta seja encontrada nas relações circulares existentes entre o nosso mundo constitucional (e burocrático) — o da rua, com suas leis impessoais e sua individualização e modernidade — e o nosso lado familístico, tutelar, "patriarcal" e relacional de viver; o nosso universo da casa e dos amigos, onde as leis que valem para todos não devem penetrar. Somos uma sociedade onde foi mantido um notável equilíbrio entre a mão direita do mundo dos negócios e do Direito universalista e a mão esquerda das nossas tradições carnavalescas e católicas, que definem o mundo como um local contraditório, onde o Bem e o Mal travam um combate sem tréguas; um universo onde tudo está irremediavelmente relacionado e a natureza humana não é una, mas múltipla e internamente dividida. Pelo fato de termos "escolhido" permanecer no meio, até hoje não tornamos a família aquilo que ela é em muitas sociedades modernas: apenas mais um grupo dentre outros. Entre nós, a família é tudo e vale por tudo. Aqui, ela "embebe" a própria sociedade com suas regras, a tal ponto que todo político populista sabe que a melhor imagem de tranqüilidade para o país é o grande paradigma da nação como uma família, onde o povo é a prole e os pais são os governantes. 15
Cf. os estudos de Gilberto Velho e seus colaboradores.
135
Leila Linhares Barsted
Entre nós, portanto, a família não é apenas um modo de resolver a questão sexual ou um operador da reprodução física do sistema. Ela é também banco e escola, agência de serviço social e igreja, consultório médico e partido político, máquina de controlar o tempo e lugar onde temos cidadania perpétua, restaurante de luxo e local onde sabemos ser amados incondicionalmente. Tudo isso, que o mundo moderno separou e individualizou, ainda mantemos junto com a nossa família como valor e, last but not least, como uma bela agência de empregos, conforme nos indicam os escândalos que lemos nos jornais. Assim, enquanto existir uma contradição entre a casa e a rua, a lei e os elos de família, compadrio e amizade, haverá uma boa família para nos dar motivos, virtude e esperança.
Advogada, mestre em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro — IUPERJ, pesquisadora do Instituto de Ação Cultural — IDAC
Margareth de Almeida Gonçalves Mestre em História, pesquisadora do Centro de Estudos Sociais Aplicados da Sociedade Brasileira de Instrução — RJ
Maria José Carneiro Mestre em Antropologia pelo Museu Nacional, professora e pesquisadora do Curso de PósGraduação em Desenvolvimento Agrícola — CPDA/UFRRJ e do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense — UFF
Roberto da Matta PhD em Antropologia na Universidade de Harvard, faz parte do corpo docente do Programa de PósGraduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ
Sérvulo Augusto Figueira Psicanalista, PhD em Psicologia na Universidade de Londres, integra o Departamento de Psicologia Social da PUC/RJ Este livro foi composto na Linolivro S / C Composições Gráficas Ltda., Rua Dr. Odilon Benévolo, 189 — Benfica — Rio de Janeiro e impresso nas oficinas da Superintendência de Editoração e Produção Gráfica do IBGE, Avenida Brasil, 15.671 — Rio de Janeiro, com filmes fornecidos pela Fotolivro — Arte e Fotolito Ltda.
100
Silvana Gonçalves de Paula Socióloga, professora e pesquisadora do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agrícola — CPDA/UFRRJ
FAMÍLIA ATRAVÉS DA HISTÓRIA: REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS Tendências Atuais da História da Família no Brasil Expostos, Roda e Mulheres: a Lógica da Ambigüidade Médico-Higienista Notas sobre a Família no Brasil FAMÍLIA E CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE O Indivíduo e a Sociedade em Machado de Assis Família e Subjetividade O Papel da Psicanálise no Entendimento da Construção da Subjetividade CRISE DA FAMÍLIA: UMA QUESTÃO DA ATUALIDADE? Permanência ou Mudança? O Discurso Legal sobre a Família A Família como Valor
ISBN 85-85114-20-7
Â
J '