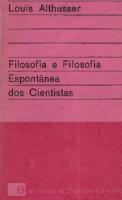Lacan e a Filosofia 8585061979
311 61 15MB
Portugues Pages 428
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_001_
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_002
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_003
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_004 (400)
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_005
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_006
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_007
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_008
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_009
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_010
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_011
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_012 (300)
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_013
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_014
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_015
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_016
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_017
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_018
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_019
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_020
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_021
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_022
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_023
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_024
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_025
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_026
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_027
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_028
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_029
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_030
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_031
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_032
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_033
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_034
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_035
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_036
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_037
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_038
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_039
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_040
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_041
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_042
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_043
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_044
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_045
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_046
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_047
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_048
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_049
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_050
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_051
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_052
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_053
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_054
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_055
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_056
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_057
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_058
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_059
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_060
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_061
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_062
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_063
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_064
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_065
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_066
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_067
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_068
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_069
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_070
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_071
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_072
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_073
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_074
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_075
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_076
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_077
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_078
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_079
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_080
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_081
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_082
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_083
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_084
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_085
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_086
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_087
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_088
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_089
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_090
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_091
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_092
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_093
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_094
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_095
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_096
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_097
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_098
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_099
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_100
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_101
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_102
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_103
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_104
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_105
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_106
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_107
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_108
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_109
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_110
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_111
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_112
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_113
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_114
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_115
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_116
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_117
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_118
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_119
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_120
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_121
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_122
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_123
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_124
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_125
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_126
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_127
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_128
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_129
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_130
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_131
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_132
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_133
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_134
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_135
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_136
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_137
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_138
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_139
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_140
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_141
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_142
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_143
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_144
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_145
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_146
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_147
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_148
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_149
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_150 (200)
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_151
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_152
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_153
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_154
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_155
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_156
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_157
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_158
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_159
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_160
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_161
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_162
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_163
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_164
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_165
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_166
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_167
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_168
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_169
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_170
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_171
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_172
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_173
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_174
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_175
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_176
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_177
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_178
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_179
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_180
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_181
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_182
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_183
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_184
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_185
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_186
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_187
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_188
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_189
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_190
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_191
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_192
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_193
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_194
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_195
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_196
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_197
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_198
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_199
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_200
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_201
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_202
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_203
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_204
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_205
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_206
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_207
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_208
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_209
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_210
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_211
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_212
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_213
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_214
Juranville, Alain - Lacan e a Filosofia_215
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Alain Juranville
File loading please wait...
Citation preview
LACAN E A FILOSOFIA
Esta obra propõe pela primeira vez uma apresentação clara e ordenada das teses de Lacan e uma elucidação de
psicanalíticas a tese do significante puro. Ela faz surgir o rigor de uma es trutura fundam�ntal quaternária em
seus escritos, no contexto de um pro jeto filosófico determinado.
que o homem está preso em seu dese jo. Trata-se de uma estrutura signifi
Oue acontece com a filosofia, com o
lismo. A partir da qual se estabelecem as quatro "estruturas existenciais" -
inconsciente e a psicanálise? Para essa pergunta, as análises de Lacan, e em particular sua interpretação do in consciente através do significante, re vestem-se
de
uma
importância
es
sencial. Por meio do significante, Lacan permi te conceber rigorosamente e estabele
cante em si, e que nada tem de forma
psicose, perversão, neurose e, p or fim, a sublimação, para a qual conduz todo o pensamento de Lacan ligado ao além do Edip o e à experiência do real no tratamento. É através da consideração das possibilidades da sublimação que se fornece uma resp osta para a pergun
ta inicial.
cer o inconsciente. Consuma o que fo ra inaugurado por Freud. O que então se evidencia é que sustentar a idéia do inconsciente leva à afirmação de uma conformidade entre a linguagem e o ser, de uma verdade ontológica. Essa tese do significante aquém do signifi cado, do "significado puro", é com preensível no movimento do pensa mento contemporâneo (a começar pelo de Heidegger). Ela prolonga, e até "ultrapassa" sua crítica à meta física. Mas haverá possibilidade. de existir, além da verdade "parcial" do desejo inconsciente,
uma verdade total do
significante puro? A filosofia requer isso, enquanto a psicanálise o exclui. Será possível retomar a teoria lacania na do desejo num pensamento filosó fico? A demonstração p ormenorizada das análises de Lacan mostra o que traz de decisivo para as grandes noções
[J·Z·E) Jorge Zahar Editor
Alain Juranville
Lacan e a Filosofia
Tradução: Vara Ribeiro Psicóloga clfnica
Revisão Técnica Luiz Alfredo Garcla-Roza Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Jorge Zahar Editor Rio de Janeiro
(
OCampoFreudiailo no Brasil Direção deJacques-Alain Miller
A meus pais
Titulo original:
Lacsn
et la
Philosophle
Traduçlo auliOrlzada da primeira ediçlo francesa publicada em
1984 por Pressas Universitaires da Franca,
de Paris, França, na coleção "Philosophie d'aujourd'hui", dirigida por Paui-Laurent Assoun
© 1984, Pressas Universltaires de France © 1987 da edição em lfngua portuguesa: Jorge Zahar Editor Lida. rua México 31 sobreloja 20031 Rio de Jan111ro, RJ Copyright Copyrlght
Todos os direitos resarvados. A reproduçlo nlo-au10rlzada desta publicaçlo, no IIOdo ou em parta, constitui vlolaçlo do copyrighl. (lei
5.988)
ProduçAo editorial Revisllo: Carlos Roberto de Carvalho,
Glória Silvia Nunes, Llllane Garz, Nair Dametto, Shirlei
Diagramação: Celso Blvar; Composiç•o: Arte-f/na/: AnliOnio Sampaio (capa); José Geraldo de Lacerda (texto); lmpr ewo: T11varea e Natalina (tlp.);
Terezinha LOaçh;
TristAo Gréllca e Edllora de Livros Lida.
ISBN:
85-85061-97-9
J
Sumário
Introdução 1. Apresentação 2. Informe sobre o desenvolvimento
9 9 12
primeira parte
A Teoria do Inconsciente e o Discurso Filosófico 3. Introdução I
A Teoria do Inconsciente e o Problema da Existência do Inconsciente
4. Introdução
5. 6. 7. 8.
O conceito do inconsciente em Freud O problema da demonstração do inconsciente em Freud Consciência e mundo. Antecipação e signo O inconsciente e o i-mundo. O inantecipável e o sintoma 9. A teoria saussuriana do signo e as conseqüências do questionamento do finalisrno 1O. A tese lacaniana de um nfvel lógico do significante puro e a demonstração da existência do inconsciente 11
O Campo Filosófico como Lugar onde a Teoria do Inconsciente Ganha Sentido 11. Introdução 12. A filosofia como questionamento
15 15
21
21 23 26 30 39 41
45 53 53 54
Lacon e afilosofia
6
13. 14. 15. 16.
o objeto da indagação filosófica O discurso como forma geral da resposta A estrutura quaternária do campo filosófico O desejo segundo Lacan: real, imaginário e simbólico 17. A crftica lacaniana do empirismo: necessidade, demanda, desejo 18. A oposição de Lacan ao discurso filosófico: Lacan e Kant
57 62 66
74 �n 88
segunda parte
O Desejo Inconsciente e a Lei da Castração
19. Introdução III
IV
O Desejo e seu Sujeito 20. Introdução 21. A fala 22. O significante puro e os três momentos da lógica do significante. Lacan e Hegel 23. A emergência do significado, do sujeito e do Outro. Lacan e Heidegger 24. O ato de fala e a certeza do sujeito. Lacan e Descartes 25. O seujeito do inconsciente e a metáfora paterna 26. O quaternârio da estrutura significante fundamental do inconsciente: em direção à Coisa O Desejo e o Objeto 27. Introdução 28. A pulsão 29. Sistema das pulsões 30. A fantasia 31. A castração e a lei 32. Complexo de Édipo e complexo de castração. A interpretação neurótica da castração 33 Lei do desejo e violência. A interpretaÇão perversa da castração 34. A Coisa
95 95
100 100 103 109 116 125 134 141 152 152 153 159 1"67 172 176 182 188
sumdrio
35. O gozo 36. A pulsão de morte
7
194 199
terceira parte
O Desejo Inconsciente e o Imaginário do Discurso v
37. Introdução
207.
As Estruturas Existenciais
211 211 215 221 228 236 243 251 255
38. Introdução 39. A neurose 40. A transferência 4 1. A perversão 42. A psicose 43. A sublimação 44. A escrita 45. -As formas de sublimação VI
207
Para um Discurso sobre o Inconsciente 46.
47. 48.
49. 50.
51. 52. 53.
Introdução A escrita e a ciência Da lógica formal ao materna da psicanálise O homem e a mulher O amor e a trasnferência O inconsciente e o outro gozo Os quatro discursos O discurso filosófico segundo Lacan
265 265 268 272 278 285 291 295 304
quarta parte
A Consistência do Imaginário e a Possibilidade de um Discurso Filosófico 54. VII
sobre o Inconsciente
315
Introdução
315
A Verdade Total e a Teoria dos Nós Borromeanos 55. Introdução 56. A verdade total do significante puro 57. A existência de Deus 58. Fecundidade e gozo fálico
321 321 328 337 343
Lacan e afilosofia
8
O corpo do simbólico e os modos da negatividade O espfrito e o dom O luto e as estruturas existenciais Sublimação e destino. A "boa neurose" e a melancolia
349 352 361
Discurso Filosófico, Discurso Analítico e História 63. Introdução 64. O pensamento 65. A leitura 66. O mundo tradicional 67. O mundo histórico 68. Discurso e pensamento absoluto 69. A história e suas épocas 70. Psicanâlise e filosofia
382 382 386 394 399 402 406 409 414
59. 60. 61. 62. VIII
368
Textos de Referência de J. Lacan
423
Bibliografia Geral
425
Introdução
1.
APRESENTAÇÃO
Porque falar de Lacan em filosofia? Não vamos aqui passar uma borracha na desavença irredutível que opõe a psicanálise à filosofia. É certo que La can concluiu, a propósito da teoria do nó borromeano por ele elaborada nos últimos anos em que lecionou: " ... Em suma - perdoem-me a presunção- o que tento fazer com meu nó-bô não é nada menos do que a primeira filosofia que me parece sustentar-se."1 Ao mesmo tempo, no entanto, ele nunca ces sou de mostrar a filosofia como o "erro irremediável"2 contra o qual a psica nálise teria afirmado sua tese do inconsciente. A importância de Lacan para a filosofia está em que sua interpretação do inconsciente pelo significante vai ao encontro do pensar contemporâneo e permite desenvolver a interrogação que está no aguilhão desse embate. O essencial da concepção lacaniana, o termo primordial - Lacan dirá mesmo no que se trata de sua resposta sin tomática à descoberta freudiana do inconsciente, sua "invenção" - é o con ceito de real. O real deve opor-se ao mundo. A filosofia clássica prende-se à idéia de que tudo o que existe pode vir a ter lugar num mundo. Ao real, ou seja, ao advento puro do que é, ela não confere seu sentido e sua verdade. Para ela, o sentido é essencialmente antecipável e a verdade consiste em ser sempre o mesmo, subtraído ao tempo. As coisas devem ter lugar numa ordem que é "a própria lógica". Para o pensar contemporâneo, em contrap'irtida, a ver dade das coisas não é determinada conforme o tempo do muncio, o tempo imaginário, mas é plenitude que se produz, que advém conforme o tempo. O logos não é mais concebido como significado que se exprime nos signos, e sim como ato significante, tempo real, que produz o significado e o mundo. Assim é para Heidegger e para pensadores atuais como Emmanuel Lévinas. É aí que Lacan situa seu "real". O real é o i-mundo, aquilo que jamais poderá ter lugar num mundo .. Mas não haveria sentido no real se a verdade não tives9
10
Lacan e afilosojiLJ
se começado a se produzir, uma verdade fora do mundo - o gozo, como preci sa Lacan. O real é a experiência do falimento da verdade (e do gozo), ali on de ela teria começado a produzir-se, a suspensão acima da falha e do abis mo. Sustentar a tese do real, conferir uma verdade ao real como tal só ganha sentido no espaço aberto ao pensar contemporâneo por Heidegger. E quanto a essa tese, porque deve um psicanalista sustentá-la? Porque o real está no cerne do inconsciente, o que decorre da concepção do in consciente através do significante. Afirmar o real é ir até o fim da descoberta freudiana. Lacan assim se dirigiu a seus ouvintes quando de seu último se minário: "Fica a seu critério serem lacanianos, se quiserem. Quanto a mim, eu sou freudiano."3 O que é ser lacaniano? É saber que, a despeito da irre dutível neurose que constitui o homem, existe um mais além do Édipo onde se entra na experiência do real; que o inconsciente não é idêntico ao recalca do e não se torna consciente no tratamento, mas que desde aí se goza um gozo que não o sexual; é ainda, diríamos, saber que a filosofia é requerida pela psicanálise, pois somente a filosofia pode teorizar esse mais além da neurose, que é sublimação e experiência do real, que dá sentido à prática analítica e sem o qual ela é rotina e impostura - a instauração do "passe" por Lacan decorre daí. Se Lacan se afirma freudiano, isso não impede que se fale de imediato em seu debate com Freud. Um debate que incide justa mente sobre a possibilidade de conceber um mais além do É dipo, graças ao nó borromeano. Freudiano ele é, porquanto recebeu de Freud a palavra e o objeto do inconsciente - onde introduziu o conceito do significante e, como coração do significante, o do real. Freud não forneceu um conceito satisfatório do inconsciente, e os filó sofos ficaram em boas condições de sublinhar as contradições da teoria freudiana. Falar a propósito daquilo que se pretende "radicalmente subtraído da consciência" de representação (de coisa) reconduz, necessariamente , ao mundo, a esse campo onde a consciência é o valor e a possibilidade supre mos. Mas ele mostrou, nos sintomas neuróticos, o único objeto pelo qual a idéia romântica do inconsciente poderia designar alguma coisa. Felizmen te, Freud deixou-se levar pela verdade dos sintomas neu róticos. Mas não pôde, partindo de um discurso empirista e do princípio do prazer, senão viver essa verdade sem enunciá-la como tal. Contudo, ela o conduziu em direção ao "além do princípio do prazer". Onde Lacan vai reencontrar o real. A des coberta de Freud é o inconsciente, sem dúvida. Mas o inconsciente no qua dro da neurose. O inconsciente como recalcado. Isso acarreta a ilusão de que seria idealmente possível nos desfazer mos do inconsciente. Lacan, através do significante, determina o conceito do inconsciente e o estabelece, ao mesmo tempo, como radicalmente positivo e como marcado pela experiência de um contra-senso irredutível- a saber, o real. Sem dúvida, tal como o significante da lingüística e do estruturalismo, o
11 significante para Lacan desdobra-se em estruturas rigorosas, o que permitirá dar uma articulação lógica precisa aos termos da teoria analftica de acordo com aquilo a que Lacan chama de "maternas". Entretanto, além do· signifi cante como estrutura onde os deslocamentos encontram os processos do pensamento inconsciente de Freud, o significante de Lacan é "o que é signi ficante", lugar de uma verdade e de um gozo - e do real. Dizer que o in consciente existe é dizer que existe uma verdade que só podemos experi mentar "fora do mundo", no gozo. O inconsciente nesse sentido tem uma positividade essencial em face da consciência, tal como o infinito em face do finito para Descartes. Nessa verdade se encontra - posto que ela existe em primeiro lugar com o significante parcial (um significante, assim, só é signifi cante em relação a outro significante, e não em si mesmo) -o real. Não é pelo fato de o inconsciente segundo Lacan reencontrar o pen samento contemporâneo e de a psicanálise requerer o rigor conceitual da fi losofia que as diferenças entre uma e outra devem ser dissimuladas. Ele ca racteriza a época atual, que determinaremos, em função do discurso analfti co, como final do ingresso na história. Nossa intenção aqui é tentar estabe lecer um discurso filosófico que siga a tese lacaniana do ser como signifi cante puro, mostrar que ele é também verdade total, e não simplesmente verdade parcial, como acabamos de dizer. Que existe um significante que é significante em si. A partir disso, o corpo, por exemplo, ou ainda a poesia, poderão ser apreendidos de outra maneira, segundo a verdade do tempo pu ro. E isso porque, se Heidegger introduz o tempo real, trata-se sempre de um ato significante que produz o significado, e não de um significante puro, de um significante sem significado, como propõe Lacan. Lacan vai além da concepÇão heideggeriana, e parece-nos que os temas do Outro e do gozo conduzem, em Lévinas, exatamente a essa ultrapassagem da apreensão heideggeriana do tempo (que, não obstante, continua a ser fundamental para Lévinas). A teoria do nó borromeano, sem que Lacan o tenha dito sempre, permite estabelecer um discurso filosófico que enuncia o significante puro, ao mesmo tempo que um discurso psicanalítico. Seu equfvoco é o de uma teo ria-fronteira. Gostarramos de fornecer sua leitura filosófica. O próprio desta época final que é a nossa é que aquilo que sempre trouxe problemas à filo sofia ar aparece em sua verdade: é o discurso analftico. Filosofia e psicanáli· se se afrontam e se entrelaçam uma na outra. Uma como sintoma da outra. Mas sem a psicanálise, hoje, a filosofia seria o que é sem aquilo que a pro blematiza- um discurso ilusório sem realidade-, e a psicanálise, sem a filo sofia, resvalaria para a impostura da "ação". Em vez de serem, graças lUTla à outra e em sua oposição à outra, "o melhor sintoma", elas seriam o negati vo uma da outra, segundo as fórmulas de Lacan e Freud para a perversão e a neurose: sedução e abuso de poder obscurantista de um lado, discurso derrisório do outro. Sócrates, no infcio da entrada do mundo social na histó-
Lacan e ajilosojio
12
ria, e Lacan, ao final desse ingresso na história, ocuparam esse lugàr do en tre-dois-discursos, esse cruzamento de caminhos entre o discurso que se faz ato, que tem a verdade do ato, e que não pode enunciar-se até o fim, e o discurso que tende ao mãximo rigor conceitual, mas que já perdeu a verdade de seu ato.
2.
INFORME SOBRE O DESENVOLVIMENTO
O plano deste trabalho decorre do que acabamos de propor. Urge de monstrarmos que um discurso filosófico que diga o inconsciente e a verdade do significante puro é possfvel, e de que maneira.
- Deveremos, em primeiro lugar, precisar os termos do problema, di zer como Lacan reconsiderou a questão do inconsciente, estabele ceu-o a partir do significante, e como a teoria do inconsciente vem ocupar um lugar muito particular no campo de discurso aberto pela indagação filosófica; ela se distingue do discurso que chamaremos de propriamente filosófico por afirmar uma verdade puramente par cial, enquanto o discurso filosófico afirma que existem quer a ver dade parcial, quer a verdade total. Oaf nossa questão de uma reto mada da verdade parcial do significante num discurso filosófico (primeira parte). - Ater-nos-emos em seguida a determinar pormenorizadamente a teo ria do desejo e da verdade parcial tal como resulta do significante, e a mostrar nela o lugar da pulsão de morte e da pulsão em geral, descoberta maior de Freud que Lacan veio completar. O desejo tem um sujeito que não é outro senão o sujeito cartesiano. E a lei a que ele fica assujeitado é a lei da castração (segunda parte). - Mas de que modo, então, Lacan concebe que intervenham o dis curso e a dimensão de plenitude "imaginária" que ele supõe? Serã preciso estabelecer como podem articular-se essa plenitude imagi nária e a verdade parcial do desejo, conforme as diversas estrutu ras existenciais - a psicose, a perversão, a neurose e a sublima ção. E como, finalmente, pode produzir-se um discurso que diga o inconsciente sem negã-lo. Trata-se unicamente, no campo dos discursos tal como Lacan o determina, do discurso analftico. O dis curso filosófico, não importa de que maneira o tomemos, parece in capaz de dizer o inconsciente (terceira parte). - Seremos levados, no entanto, seguindo sempre e de fato a ordem do pensamento e dos ensinamentos de Lacan, a retornar ao ques tionamento da plenitude como "imaginária" e "da verdade total". A fazer çom que apareça uma certa consistência do imaginário, cujo depósito, para Lacan, é a teoria dó nó borrorneano; e que só pode
introdução
13
ser concebida por um discurso que já não é mais o discurso do
analista. É então o discurso filosófico, mas que não consegue dizer o inconsciente sem a presença do outro discurso que se faz ato e que pode enunciar diretamente o inconsciente, porque faz gozar a partir dele (quarta parte).
Por motivos circunstanciais (dez meses separaram a redação dos três primeiros capítulos da retomada do quarto), mas sobretudo por causa do próprio objeto, fomos levados a começar pelos desenvolvimentos mais "di· dáticos" e onde a impregnação por Lacan é menos evidente. Citamos a se guir textos que são, regularmente, cada vez mais posteriores. Todo o pen samento de Lacan conduz à teoria última do nó borromeano. Cabe-nos observar, por fim, que os desenvolvimentos que se seguem, se não podem aspirar ao impacto e à concisão, ao esp(rito do estilo de La can, estão desculpados, além de nossa própria insuficiência, pelas exigên cias de um esforço especulativo e dedutivo que o discurso analítico, por mais rigoroso que seja, não pára de abandonar e retomar. É próprio do dis·
curso analftico, como ilustram os seminários de Lacan, dar lugar ao corte do significante, ao jogo de palavras e ao dito espirituoso. Que eles se reencon trem aqui através do texto de Lacan, freqüentemente citado e sempre pre sente.
NOTAS 1 . S, XXIII, 1 1 ·5·1 976. No que conceme às abreviaturas, ver bibliografia dedicada a Lacan e situada ao final do volume, na pág. 424. 2. Cf., por exemplo, S, XXII, 1 7 - 1 2·1 974. 3. "Seminário de Caracas", julho de 1 980, publicado em L J\ne, ne 1 , abril-maio 198 1 , p. 30. Prossegue Lacan: "Eis por que creio ser bem-vindo dizer-lhes algumas pala· vras sobre o debate que sustento com Freud, e que não é de hoje. Aqui está: meus três não são os dele. Meus tr{js são o real, o simbólico e o imaginário . . . Dei isso aos meus. Dei-lhes isso para que sejam reencontrados na prática. Mas serão eles ar reencontrados melhor do que a tópica legada por Freud aos dele?"
primeira parte Teoria do Inconsciente e o Discurso Filosófico
A
3.
INTRODUÇÃO
A teoria do inconsciente, tal como Lacan a propõe naquilo a que chama "dis curso analítico", desemboca numa teoria do "desejo inconsciente". 1 E o que iremos definir precisamente como o "discurso filosófico", no sentido estrito do termo, apresenta necessariamente uma concepção do ser como desejo. Daí a questão fundamental deste trabalho, que cabe à primeira parte justifi car: será que a teoria do "desejo inconsciente" segundo Lacan, a qual, como veremos, não faz senão extrair de seu pensamento as conseqüências mais r:gorosas da idéia do inconsciente, pode ser retomada num discurso filosófi co? Chamaremos aqui de discurso filosófico o modo de discurso que leva a sério a situação constitutiva da filosofia, a saber, o questionamento que lhe é próprio, e não qualquer discurso que possa vir em resposta à indagação essencialmente trazida por esse questionamento. O discurso filosófico deve rá ser distinguido do discurso que definiremos como metafs f ico, e também do discurso empirista. 2 Pois a dificuldade característica de tudo o que depende da filosofia é que se funda sobre um ato de questionamento tal que, dentre as respostas possíveis à questão por ele comportada, verifica-se que o apro priado é rejeitar como inútil essa -situação originária. Assim, para todas as teorias empiristas, se a filosofia pode servir para alguma coisa, é, antes de mais nada, para se desfazer das ilusões fomentadas pela própria filoso fia.3 Somente o discurso filosófico no sentido estrito assume plenamente essa situação, e só ele, portanto, merece o nome de discurso filosófico. Como determinar tal situação de questionamento? Trata-se de uma situação em que se busca alguma coisa - o saber, um saber perfeitamente demonstrativo e que não mais seria objeto de nenhuma dúvida. Mas, ao mesmo tempo, uma situação em que se coloca justamente em dúvida, a priori, a resposta que possa ser dada à pergunta. Situação eminentemente 15
Lacan e a filosofia
paradoxal: o ser daquele que questiona tende inteiramente para esse bem absoluto que seria o saber, mas supõe-se, logo à primeira tentativa e radi calmente, que nenhuma resposta será dada e que se manterá a falta do sa ber. O ser daquele que questiona, portanto, é desejo. Certamente não um de sejo que deva passar, por se efetuar a apropriação do objeto, mas um de sejo que permanece, sem que o objeto seja alcançado, a despeito da falta do objeto. Uma· situação dessa ordem inclui em si um contra-senso e, portanto, um mal que poderfamos chamar de radical, se não absoluto. Pois o mal ab soluto estaria em não tender de modo algum para o bem, ao passo que o de sejo se mantém apesar da falta da apropriação do objeto. E essa situação, com tudo o que ela implica, é essa situação de desejo que é negada, certa mente de modo diverso, pelo discurso metaffsico e pelo discurso empirista. Para o primeiro, a dúvida deve finalmente desaparecer, e enquanto dúvida a priori e radical, é vã; para o segundo, é o objeto que é ilusório, e o esforço cri tico deverá finalmente demonstrar sua futilidade. Para o primeiro, tudo de fa to tem sentido, se nos colocarmos no lugar do ponto de vista favorável que é o do Todo, e a idéia de um contra-senso radical, inscrito no questionamento filo sófico como situação ontologicamente consistente e que não se dá, deve ser 4 completamente rejeitada. O desejo não poderia ser o ser do nada. Mas também o discurso empirista rejeita o desejo como ilusório: para ele, não existe bem absoluto. Os desejos, de fato, nada mais são do que necessida des. Nada no ser depende de um "sentido". Somente o discurso filosófico, portanto, assume a situação de ques tionamento, ao situar o ser do homem como desejo, ou seja, como visando a apropriar para si um modo de ser colocado corno o bem absoluto, mas sem que essa apropriação chegue a se efetuar. Poder-se-ia levantar uma obje ção: como pretender que o objeto do desejo seja esse bem absoluto, ou se ja, o divino, quando se fala em desejo a propósito de uma roupa ou de um automóvel, não podendo tratar-se, nesse caso, de um objeto absoluto? Res ponde Lacan - e por certo teremos que voltar a isso longamente - que tal "objeto" não é o objeto, mas a causa do desejo (objeto que ele nomeia, em sua linguagem, de objeto "a", is�o é, objeto da fantasia). Se existe desejo (e essa é a tese primordial do discurso filosófico), então o objeto só pode ser o divino, o estado de plenitude absoluta. Mas ar surge uma segunda objeção: como poderia essa atividade filosófica não perecer na vaidade e no contr.a senso, pelo golpe absoluto, se esse almejado bem absoluto permanece fora do alcance daquele que questiona? Eis ar uma questão capital, e aparente mente uma objeção incontornável à teoria que propomos para o "discurso fi losófico". É preciso dizer aqui, e isso levará a numerosos desenvolvimentos, que compete também ao discurso filosófico afirmar que o ato do questiona mento filosófico, enquanto esforço total em direção ao saber e experiência efetiva de sua ausência, tem um sentido em si mesmo, de modo absoluto. Vemos assim as conseqüências dessa afirmação. De um lado, o dis-
17 curso filosófico assume a situação originária do questionamento em seu as pecto e coloca o ser do homem como desejo - ou �ja. falta radical do bem absoluto e, ao mesmo tempo, visada desse bem como o ideal. De outro lado, ele quer que essa situação de desejo tenha absolutamente um sentido, que seja o lugar de uma plenitude. Que a atividade filosófica traga positivamente algo de essencial. Vê-se de novo o paradoxo considerável dessa situação, posto que é preciso manter a contestação, a priori, da resposta a ser dada à pergunta. E o problema de todos os grandes pensadores da história da filo 5 sofia e, em geral, de todos aqueles que dependem do discurso filosófico é sempre o de articular essas duas afirmações- de um lado, a do ser do ho mem como desejo, e do outro, a da efetividade do bem absoluto. Contudo, poderfamos indagar-nos se uma quarta atitude não seria possível com relação ao questionamento filosófico, uma quarta resposta à pergunta que ele comporta - uma resposta segundo a qual haveria de fato o desejo tal como suposto pelo questionamento, mas sem que esse questio namento pudesse ser lugar de qualquer plenitude. A atividade filosófica per manecerá inútil, mas o questionamento em si mesmo mostraria bem o que é o homem em seu ser. Essa é justamente a posição da teoria do inconscien te, ou seja, o discurso analítico de Lacan. Com efeito, por um lado, levado pelo que exige a idéia do inconsciente, Lacan teve que determinar a realidade de um desejo no sentido preciso do termo, no nível do inconsciente. E por outro lado, manteve absolutamente a posição ao discurso filosófico, que foi a de Freud (para Freud, a filosofia é totalmente comparável ao delfrio paranóico). Não se trata aqui, com certeza, de pretender que Lacan não se tenha atido ao que Freud teria descoberto, ao objeto de Freud, ou seja, ao incons ciente. É essencial afirmar que Lacan assume plenamente a "descoberta" freudiana. Mas a concepção do próprio Freud, a maneira como ele pensa o inconsciente, continuou problemática. Para ele, a única prova posslvel da existência do inconsciente (bastante necessária a um objeto tão pouco evi dente) era uma prova, dirfamos, "experimental". Seria preciso verificar nos fatos a exatidão da hipótese. Freud se pretendia um cientista e, oomo tal, seu discurso era essencialmente empirista. Para ele, a psicanálise era um ramo da ciência experimental (e urna prática fundamentada nessa ciência). Mas como teria sido posslvel manter-se, nessas condições, a rejeição da · idéia do inconsciente, que não deixa de se manifestar por parte de tantos homens de ciência, sem falar nos filósofos? Pois toda nova ciência deve, sem dúvida, lutar por se impor como ciência. O que não impede que, desde que seja realmente uma ciência, ela se faça acompanhar de métodos ri ro sos que lhe permitam estabelecer seu objeto, de sorte que, ao cabo de al
Qo
gum tempo, o espírito cientifico não possa fazer outra coisa senão reconhe cê-la. Dever-se-ia então deixar a idéia do inconsciente no estado de hipóte se? Antes, como mostrará Lacan, teria sido preciso dizer que uma verifica-
li
LDaua e a filosofia
ção experimental, situada por Freud no tratamento analítico, era essencial
mente impossfvel, contraditória à idéia do inconsciente. A única possibilidade de demonstração consistiria, portanto, em deduzir o inconsciente da lingua gem. Sabemos que isso foi o que fez Lacan ao propor o tema do significante.
Só que com a conseqüência de determinar o ser do homem justa mente como desejo, porque - voltaremos a esse ponto com detalhes - o objeto do desejo no questionamento filosófico é o um, a unidade perfeita do pensamento no saber demonstrativo. Ora, o que estabelece uma unidade para aquilo que existe é a linguagem. A conformidade do ser e da linguagem, portanto, é o que se faz problemático para o questionamento filosófico. É aquilo a que tradicionalmente se chama verdade que está em pauta. Mas Lacan, através de sua teoria do significante, afirma uma conformidade par. cial entre a linguagem e o ser. E é por essa conformidade parcial que o dis curso filosófico tem sempre pensado o ser como desejo. Desejar é ter falta de, mas não absolutamente; é estar em relação com a plenitude do desejo, o que constitui a razão confessa do )ncessante diálogo de Lacan com os grandes filósofos. Evocando a recriminação que lhe é dirigida, no sentido de que se ocupa demais dos "grandes filósofos", ele responde que, se não apenas eles, ao menos eles, eminentemente, é que articulam uma busca patética que sempre volta, através de todos os seus desvios, ao nó radical 6 que ele próprio tenta desatar -a saber, o desejo. Isso não impede que Lacan sustente a oposição de Freud ao discurso filosófico. Para ele, se o desejo existe, a plenitude, por outro lado, é radical e definitivamente impossrvel. De modo que assim poderiarnos precisar, por suas teses fundamentais, os discursos que aparecem no campo filosófico: 1) Não existe verdade (discurso empirista); 2) Existe uma verdade total (discurso metaf(sico);
3) Existe uma verdade total e uma verdade parcial (discurso filosófico);
4) Existe uma verdade, mas somente parcial (discurso analftico, ou seja, a teoria do inconsciente). Uma vez que tenhamos estabelecidos esse concurso do discurso fikr sófico e da teoria do inconsciente numa concepção do desejo, a tarefa que teremos de levar a bom termo será a de ver em que medida a impossibilida de da verdade total é um dado inseparável da idéia do desejo inconsciente, ou se a afirmação de tal tese não se prenderia antes ao próprio ponto de vista da análise e do discurso analftico. Nosso objetivo é sempre o de mos trar que o discurso filosófico pode e deve assumir a idéia do inconsciente em seu rigor.
teoriD do inconsciente e discurso jilos6jico
19
NOTAS 1. E, "DC", pág. 632 (por exemplo). 2. Tudo isso será longamente desenvolvido no capftulo 11, notadamente no § 15. 3. Por exemplo, nas seguintes linhas q ue se opõem à concepção de Witlgenstein: "A filosofia deve servir para alguma coisa e devemos levá-la a sério. Ela deve esclarecer nossos pensamentos e também n ossas ações. Ou então é uma tend ência q ue devemos reprimir e uma investigação q ue nos leva a constatar isso: nesse caso, a tese principal da filosofia seria que a filosofia é um contra-senso. Mas a partir dal devemos levar a sério o fato de ela ser um contra-senso, e não fingir, corno faz Wittgenstein, q ue é um contra· senso importante." F.P. Ramsey, in Les fondements des mathématiques, citado em "Aux origines de la philosophie analyliq ue", de A.J. Ayer, Revue Critique, n2 399·400, agosto· setembro de 1980, pág. 675. 4. Talvez se possa criticar o fato de falarmos aqui em "rnetaflsica" e de separarmos rnetaflsica e teoria do desejo. Emmanuel Lévinas diz que o verdadeiro desejo , a verdade do desejo, é rnetaffsioo, justamente porque o objeto do desejo é o Outro, em relação a tudo aquilo que pode oferecer-se de relativo, pois ele é o objekl absoluto. Mas uma coisa é falar no "discur$o rnetaflsico" e outra é apresentar o desejo como metaflsico. O discurso rnetafl· sico é aquele que se sustenta desde o lugar do próprio Deus como manifestação da neces· sidade, analiticamente, a partir das "causas primeiras" e dos "princfpios primeiros". Lévi· nas marca bem a oposição entre a rnetaflsica tal como e le a entende (e q ue não é o discur· so rnetaflsico) e o discurso totali zante que ele refere à "ontologia" como submissão do Ou tro ao império do Mesmo (cf. E. Lévinas, Totalité et infini, Nijhoff, Haia, 1964, prefácio e págs. 3·23). É de manei ra análoga que um pensamento como o de C laude Bruaire, que confere um lugar essencial ao desejo, lembra incessantemente a exigência rnetaflsica, sem no entanto recorrer ao "discurso rnetaflsico" (cf. C. Bruaire, Pour la métaphysique, Paris, Fayard, 1980). 5. O livro de Pierre Aubenque intitulado Le prob/eme de l'être chez Artstole (Paris, PUF, 1962) tem corno tema explicito essa di ficuldade, tal corno Aristóteles a "exprimiu" plenamente. 6. S, IX.
I Teoria do Inconsciente e o Problema da Existência do Inconsciente A
4.
INTRODUÇÃO
A teoria do inconsciente esbarra no mesmo problema inicial que a teologia. Nela, em primeiro lugar, parece que nos deveriamos ater a determinar o que é o inconsciente, tal como a teologia diz o que é Deus. Mas surge muito de pressa, em primeiro plano, o problema da existência do inconsciente, tal co mo o da existência de Deus. Esse é o problema que nos irá conduzir desde os impasses da apresentação freudiana do inconsciente até a solução de Lacan. À primeira vista, a existência de uma coisa como "o inconsciente" não é evidente. Para começar, o inconsciente não existe como o sol ou como um gato e não pode ser objeto de uma certeza sensível. E tampouco poderia ser induzido, como os planetas, através dos efeitos por eles provocados na órbita de outros. O inconsciente não é uma coisa. Tal como a eletricidade, ele é uma certa determinação que incide sobre fenômenos particulares - no caso, comportamentos ou modos de pensar. Mas a eletricidade continua sendo uma determinação objetiva, que em nada afeta o próprio conhecedor em sua subjetividade. Não é esse o caso do inconsciente. Não se pode dizer que o inconsciente de um "sujeito" possa perfeitamente existir e ser conhecido de um outro sem sê-lo dele próprio. O in-consciente, no sentido pleno do termo, acha-se numa relação de distanciamento essencial com o fenômeno da consciência, e esse distanciamento deve ser marcado no nível da subje tividade (Freud fala em "recalque"). Mas a subjetividade daquele que procura conhecer é a consciência. E é ditrcil ver como o inconsciente poderia, nes sas condições, dar-se numa evidência. O inconsciente é, portanto, em primeiro lugar, a hipótese do incons ciente. E é preciso tentar estabelecer a existência do inconsciente tal como se verifica uma hipótese. Apenas dois métodos são possfveis: pode-se pro21
22
Lacan e a fi/osofol
ceder a uma verificação experimental, como se faz na qulmica ou na biolo gia. A hipótese, se verdadeira, deve permitir prever o que acontecerá numa dada situação precisamente definida. Tal justificação pode ser denominada de a posteriori. Também se pode tentar uma fundamentação ou dedução ló gica a partir de uma verdade evidente, procedendo então através do raciocl nio puro. Uma confirmação desse tipo seria a priori. Foi assim que certos fi lósofos tentaram estabelecer a existência de Deus, que evidentemente não poderia ser verificada na experiência. Sabemos que Freud pretendeu ser levado a confirmar a existência do inconsciente por meio do primeiro método. Mas ocorre que as provas de Freud jamais convenceram ninguém senão aqueles que já estavam conven cidos. Assim, é preciso indagar se não seria possível estabelecer dedutiva mente a existência do inconsciente. Mas o que pressupõe isso, exatamente? A dedução, que é filosófica antes de mais nada, mas é também matemática (se desprezarmos o fato de que os objetos dos matemáticos, para Kant, por exemplo, devem ter uma certa relação constitutiva com a experiência em ge ral), deve fundamentar-se num princípio que não poderia ser outro senão uma conformidade primordial entre o Iogas (a linguagem) e o ser, isto é, uma verdade. Isso é compreensível, já que se deve permanecer no plano da de dução e do discurso. Mas será que a própria idéia do inconsciente deixa al guma possibilidade a tal procedimento? É preciso, portanto, retomar a análise do conceito de inconsciente, para
verificar quais podem ser as vias de uma eventual demonstração de sua existência. E o que descobrimos? O Inconsciente ultrapassa radicalmente o "mundo" como correlato necessário da consciência (e também daquilo que Freud chama de "pré-consciente"). Ora, é no contexto do mundo que a an tecipação e a previsão são possíveis. Logo, a prova experimental é contra ditória à idéia do inconsciente, já que se assenta numa previsão. Mas a de dução lógica, ou seja, baseada na linguagem, é igualmente impossível, na medida em que a linguagem é tradicionalmente concebida como constituída de signos que exprimem significações, e portanto na medida em que a signi ficação e o signo estão intrinsecamente ligados ao mundo. Mas deveremos prender-nos à interpretação da linguagem como sig no? Os progressos da lingüística contemporânea, em particular a teoria do signo proposta por Ferdinand de Saussure em seu Cours de linguistique gé nérale (Curso de lingüística geral), ofereceram a Lacan os meios para ultra passar o plano lingülstico do signo. "Aquém do signo (onde Saussure dis tinguira a face do significante e a face do significado), Lacan determina um outro plano, o do significante puro, estranho como tal a Saussure e cujas ca racterísticas correspondem inteiramente às dos "fenômenos inconscientes" supostos por Freud. Assim, o significante permite enfim essa demonstração da existência do inconsciente, que é desde logo exigida pela teoria do in-
teoria dQ inconsciente e discurso filosófico
23
consciente. E a confrontação dessa teoria com o campo filosófico pode en tão adquirir todo o seu sentido.
5.
O CONCEITO DO INCONSCIENTE EM FREUD
Como caracterizar o inconsciente para Freud? De um lado, ele não é algo que pudesse ser da ordem do instinto ou do fisiológico, do corpo em g�ral en quanto oposto por nós à alma, identificada com a consciência: o incons ciente é psíquico. Por outro lado, ele não é uma "outra consciência" separa da da primeira, como se poderia concebê-lo a partir dos fenômenos de des dobramento da persomilidade, 1 mas sim um outro aspecto do psiquismo, funcionando de acordo com outros princípios. Vamos precisá-lo. O inconsciente é psíquico. Em outras palavras, para Freud, é consti tuk:lo de representações. Não é de modo algum certo que essa noção con venha ao inconsciente, e deveremos inclusive mostrar, na "representação", algo de contraditório à idéia do inconsciente. Mas o que importa para Freud é afirmar o caráter psíquico do inconsciente. E, com a representação, ele não faz mais do que retomar uma tradição bem estabelecida para determinar o que é psíquico. Mustapha Safouan diz assim: "Esse termo [Vorstellung representação] desempenhou na filosofia alemã um papel considerável, que lhe conferiu ressonâncias a que Freud não poderia permanecer alheio, que mais não fosse, por ter assistido ao curso ministrado exatamente por aquele a quem Vorstellung iria dever parte de sua sorte, a saber, Franz Brentano . . . Brentano buscava uma propriedade que distinguisse os fenômenos psíqui cos dos fenômenos fisiológicos e a havia encontrado naquilo que os esco lásticos chamavam de inexistentia: o que não quer dizer "inexistência", mas sim "existência em", existência do objeto no espírito ou tal como ele se apre senta ao espírito, tal como este último o conhece e de fato o experimenta."2 A representação é o ato de- um sujeito, produzindo nele aquilo a que a filosofia chama um "diverso sen�ível", uma espécie de imagem. Essa ima gem, contudo, não é desprovida de ordem ou princípio. Existe um princfpio ordenador da representação, que unifica o diverso sensível. É o sentido. A representação coloca algo dentro do sujeito, um diverso sensível, desde que tenha sentido para ele. E é isso que faz com que a representação possa ca racterizar o que é psíquico. Nela está presente um sentido. O psíquico é o sentido. E Freud, ao considerar os fenômenos como dependentes do in consciente, descobre neles um sentido, apesar da insignificância aparente (cf. os lapsos). Observemos aqui que a ciência não pode privilegiar nenhum sentido. Freud, ainda que isso lhe pese, entra em oposição radical, em sua própria idéia do inconsciente, com os pressupostos da ciência. Mas dissi mula para si mesmo essa oposição, usando termos como "tendências" e "moções" (quanto à pulsão, esta é específica e essencial à descoberta ana=
24
Lacan e a filosofia
lítica), de sorte que não se sabe mais se é preciso afinal situar-se num plano biológico ou efetivamente "psíquico". A representação, portanto, caracteriza se pelo sentido, mas também pela suposição de um objeto ao qual esse sentido deve ser imputado. É o que M. Safouan chama de "o objeto no espí rito", o objeto imanente, o objeto intencional. A representação, mesmo que deva relacionar-se com um objeto exterior ao espírito, "transcendente", traz em si seu objeto. 3 Mas não poderíamos contentar-nos com essa afirmação de que o in consciente é psíquico por compor-se de representações. Freud diz mais, e fala num pensamento inconsciente. Com efeito, ter-se-ia podido admitir que existem representações inconscientes, mas acrescentando a isso que, já que se estabelecem relações entre as representações, ou se trata de um verda deiro "pensamento", e nesse caso há consciência, ou se trata de um deva neio que associa livremente esta representação com aquela, conforme o rit mo da fantasia, e então se trataria de um processo passivo - nunca de um pensamento - e isso poderia continuar a depender do inconsciente. Porém Freud afirma ainda mais. Em que consiste o pensamento, entretanto? Pen sar é estabelecer equivalências. Sem fazermos, é claro, uma análise do conceito de pensamento, podemos observar que pensar algo, pensar, por exemplo, naquilo que se lê, é poder dizê-lo de outra maneira, deduzi-lo, ex plicá-lo. No inconsciente, portanto, existe verdadeiramente psiquismo, porque se passa de uma representação a outra realmente equivalente, ou seja, que tem o mesmo sentido e o mesmo objeto. Coloca-se apenas a questão de saber o que pode significar tal equivalência para os fenômenos inconscien tes tal como Freud os analisa, pois tanto se pode compreender isso pela ati vidade do pensamento comum, "racional", consciente, como um pensa mento inconsciente não deixa de parecer misterioso. Sobretudo quando o vemos em ação num sintoma como o da paralisia histérica. Assim, con vém agora precisarmos a diferença que separa os processos inconscientes dos processos conscientes (ou melhor, pré-conscientes, como os chama Freud, que sublinha que eles não são, na maior parte do tempo, "conscien tes" no sentido preciso desse termo, ainda que o possam tornar-se facil mente). Eis a segunda característica do inconsciente freudiano, por conse guinte: não se trata de um outro psiquismo análogo ao primeiro (e quase não vemos corno, nesse caso, se pudessem estabelecer com este relações tais que ainda se falasse de um psiquismo),4 mas de um outro funcionamento do psiquismo. Se pensar é de fato estabelecer equivalências, o que pode distin guir o pensamento inconsciente e o pensamento pré-consciente só pode ser o modo dessas equivalências. Para o inconsciente, Freud fala em processos primários, em oposição aos processos secundários.
teoria túJ inco1Udertte e dúcuno jilos6jico
25
Os processos primários caracterizam um pensamento que faz com que as representações se equivalham, de um lado, por serem contfguas (onde quer que isso ocorra, tanto com uma proposição quanto com uma si tuação concreta); Freud fala então em deslocamento de uma representação para outra (e, de acordo com sua linguagem, o "quantum de investimento" se transmite da primeira representação para a segunda); e de outro lado, por que uma única representação remete simultaneamente a diversas outras: é 5 quando ele fala em condensação. Entretanto, devemos indagar-nos aqui: "O que é realmente pensado?" Haverá de fato pensamento quando qualquer representação pode, afinal, remeter a qualquer outra, podendo sempre estabelecer-se os vínculos de deslocamento, desde que se descubra o "lugar comum" que convenha (e sempre existe um)? Sabemos, além disso, que Freud, em A Interpretação dos Sonhos, opôs a identidade de pensamento, visada pelos processos se cundários (por exemplo, na demonstração matemáticaj, à identidade de per ceP.Çáo, buscada pelos processos do inconsciente. Isso pareceria opor o pensamento e o pré-consciente, de um lado, à percepção e ao inconsciente, do outro. Mas sem anteciparmos demais o que exigirá outras elaborações e aparecerá mais adiante, podemos dizer, de acordo com o que enuncia Lacan no seminário sobre a ldentificaçSo, que, se existe pensamento inconsciente, é justamente porque essa identidade de percepção, que restauraria (o que é, evidentemente, uma busca absurda, visando a uma espécie de inversão do tempo) o surgimento do Objeto primordial, da "Coisa", numa plenitude que ele jamais teve, essa identidade de percepção não é realizável. Não se pode encontrar um acontecimento em sua unicidade, a fortiori um acontecimento que jamais teve lugar. E para Lacan, o inconsciente como pensamento vem alojar-se no "lugar" dessa percepção impossivel, que, por mais impossivel que seja, dá sua dinâmica ao pensamento inconsciente. Mas mesmo supondo que se trate de um pensamento, qual é então esse sentido idêntico em todas as representações, ou pelo menos nas re presentações que fazem com que se equivalham os processos primários? Qual é, além disso, o objeto desse pensamento inconsciente, se todo pen samento estabelece equivalências nas determinações conferidas a um dado objeto? A resposta a essa pergunta só poderá ser dada mais tarde. Por ora, convém observarmos que o "pensamento inconsciente" se caracteriza, para Freud, justamente como abandonando o plano de referência "objetivo": esse pensar funciona, não de acordo com o principio da realidade, que impõe liga ções objetivas (de classificação, causalidade, etc.) entre as representações, mas segundo o principio do prazer. Dai, por exemplo, duas caracterfsticas das representações inconscientes - as de elas ignorarem a negação (a dú vida, a suputação) e o tempo .... caracterfsticas estas que constituem as es truturas a priori, instituições puras ou categorias do entendimento, que Kant estabelece na Critica da. Razão Pura como condições do pensamento cientr-
Lacan e a filosofia fico. Veremos que, para Lacan, tal "objeto" é, no caso do pensamento in consciente, exclusivamente o desejo (porém não é mais um objeto da mes ma espécie que em Kant), e que o elemento comum que promove a equiva lência de todas as "representações" inconscientes não é outro senão o falo. Mas, a permanecermos ainda em Freud, por ora, convém, depois de termos dito o que é o inconsciente para ele, mostrar como, de sua parte, ele pretendeu estabelecer sua hipótese de maneira convincente.
6.
O PROBLEMA DA DEMONSTRAÇÃO DO INCONSCIENTE EM FREUD
Para mostrar que essa questão é muito essencial para Freud, bastaria con " siderar o terceiro artigo da Metapsicologia, intitulado "O Inconsciente". Seu
primeiro capftulo é dedicado à "justificação do inconsciente". E não só a jus tificar que se tenha concebido tal hipótese por toda a coerência que ela po deria trazer para a compreensão, porém mais ainda, a justificar a realidade
efetiva do inconsciente. Com efeito, sem dúvida, no simples plano da concepção e do pensa mento, a hipótese de um psiquismo inconsciente permite integrar melhor os fenômenos numa compreensão global, restaurar uma continuidade.6 E esta, que, a rigor, poderia não ser muito apreciável se nos ativéssernos a todos aqueles fenômenos tão inapreensfveis e aparentemente insignificantes da "psicopatologia da vida cotidiana" (lapsos, atos talhos etc.), ou mesmo aos so nhos (ainda que os excluamos menos facilmente de nossa própria existên cia), torna-se absolutamente capital no caso dos fenômenos patológicos, que Freud retirou justamente do contra-senso, ao menos no que concerne aos fenômenos neuróticos. De fato, é no caso dos fenômenos pa tológicos que todo o comportamento e todos os pensamentos do sujeito po dem cair no insensato e no não-psfquico, se não se fizer com que intervenha um "outro" modo do psiquismo. E foi por certo seu estudo das neuroses que levou Freud a formular a hipótese do inconsciente. Contudo, tal hipótese
"interpretativa" deve ser posta à prova.
Como estabelecer a hipótese do inconsciente? É certo que, para Freud, o inconsciente "se verifica" sem cessar, e não simplesmente em si tuações excepcionais como a do tratamento analftico, posto que o incons ciente é um princfpio essencial do comportamento humano e é inclusive o prindpio "mais profundo". Mas se se pretende falar de uma verdadeira verifi cação da hipótese, é preciso poder prever em função dela aquilo que se pro duzirá, sem nos contentarmos com uma análise daquilo que já foi produzido. Ora, aqui se apresenta uma dificuldade: como poderfamos prever o que irá afetar o inconsciente do outro (daquele sobre o qual incidirá a verificação) e a maneira como ele será afetado, se os elementos inconscientes são, antes
teoria do inconsciente e discurso filosófico
27
de mais nada, próprios de cada um, como quer Freud, e se não se pode constituir um dicionário das representações inconscientes? Restaria fazer a verificação incidir sobre si mesmo. Mas coloca-se então um problema duplo: de um lado, seria preciso, se nos ativéssemos a efetuar uma verificação "científica", que os resultados pudessem ser reconhecidos pelos outros; de outro lado, e isso é o essencial, como poderíamos, de algum modo, chegar conscientemente a tomar conhecimento de nosso inconsciente e a organizar experiências que verificassem sua potência, como se a experiência mesma já não escapasse ao próprio inconsciente? Não podemos entrar em relação com nosso próprio inconsciente ou com o de outro senão no quadro de abordagem do tratamento analítico e, mesmo assim, de uma situação que Freud chama de transferência. É nesse quadro que Freud situa a verificação inteiramente experimental que pretende trazer para a hipótese do incons ciente. Assim, no artigo "O Inconsciente", escreve ele: "Se ficar demonstra do, além disso, que podemos fundamentar na hipótese do inconsciente uma prática coroada de êxito, pela qual influenciemos, de conformidade com um dado objetivo, o curso dos processos conscientes, teremos conseguido, com esse sucesso, uma prova incontestável da existência daquilo cuja hi pótese formulamos.''7 Aqui, portanto, trata-se exatamente: em primeiro lugar, de prever os efeitos determinados de uma dada ação (a própria prática da psicanálise, que Freud efetua com seus pacientes como "interpretações", num certo contexto ritualizado de sessões); em seguida, de oferecer uma verificação que o outro possa reconhecer, porquanto os efeitos serão lidos nele no nível da consciência; e por fim, de se basear na relação que torna simultaneamente possíveis o conhecimento do inconsciente e Lma ação cujo efeito possa ser reconhecido, e mais ainda, que faça surgir uma nova orga nização psíquica (o que constitui o objeto do tratamento analítico, a saber, uma certa resolução do conflito neurótico) . Somente a relação de transferên cia, portanto, permite efetuar o experimento graças ao qual a hipótese do in consciente pode ser confirmada. O próprio Lacan diz que a transferência é "a atualização da realidade do inconsciente".8 Mas é preciso verificar que a afirmação de Freud sobre uma "prática coroada de êxito" deve ser consideravelmente matizada. Podemos obser var, de fato, que muitos dos tratamentos conduzidos por Freud e dos quais ele nos deixou testemunhos, sem falar nas inúmeras análises que se desen rolaram desde a fundação da psicanálise, parecem ter "malogrado". Talvez se afirme que elas foram levadas adiante por muito pouco tempo, num caso, ou conduzidas por praticantes inexperientes, num outro. Mas, supondo-se que isso seja verdade, seria possrvel afirmá-lo a propósito de uma experiên cia cientffica? Talvez se diga também que, na verdade, elas não fracassa ram. Mas nesse caso, que valor comprobatório se há de atribuir-lhes, se fica apenas um sentimento inteiramente interno? Não nos poderíamos indagar,
l8
além disso, se com muita freqüência, longe de resolver o dito conflito neuró tico, suprimindo-lhes os sintomas, o tratamento não fez mais do que deslo 9 cá-los, tomando-os mais aceitáveis ou mais discretos? E há mais ainda: se a previsibilidade não é absoluta (ou suficientemente significativa), não pode riamos pôr em dúvida inclusive aquilo que intervém no tratamento como prin cipio de ação e de mudança, e não ver ar nada além de uma espécie de "di reção da consciência" modernizada? Já evocamos o fato de que as confirmações de Freud jamais conven ceram senão aqueles que já haviam admitido o inconsciente. Será preciso indagar que "erro" terá residido nessa idéia tão problemática de uma espécie de previsibilidade perfeita quanto aos efeitos do tratamento analítico. Sem dúvida, trata-se na verdade da idéia ainda excessivamente médica que Freud fazia do próprio tratamento. Um tratamento a que o analista, como agente lúcido e a par daquilo que queria, empenhava-se em fazer com que o "paciente" se submetesse. Um "paciente" que devia submeter-se a proces sos dirigidos pelo analista, ainda que fosse dele que deviam provir os con teúdos do inconsciente. E é verdade que nunca foi realmente questionado por Freud aquilo de que Lacan faria um dos objetos essenciais de sua refle xão: o desejo do analista. Como se o analista "soubesse o que queria" e es tivesse isento da ação do inconsciente. Lacan mostra com certeza que, se a transferência é a ocasião de uma abertura do inconsciente, é comum que ele volte a se fechar imediatamente (e quanto a isso, tudo depende, para o su jeito, do desejo do analista, isto é, da relação do analista com o inconsciente nele mesmo, e portanto também no outro). Tampouco é jamais realmente in dagado o objetivo a ser buscado pelo tratamento analftico, ainda que nesse plano seja clara a intenção freudiana, que nunca é a de conformidade às normas sociais ou morais, mas sempre a de confrontação do sujeito com a verdade de seu desejo.1o O que falta na reflexão de Freud é justamente uma teoria do desejo, e ' é isso que Lacan tenta· formular. Surge então a impossibilidade em que nos encontramos -e que é o próprio fato do inconsciente -de dispor de nosso próprio desejo no nfvel do domfnio consciente, e portanto de ordenar uma experiência que dependa dele e assim verificar a existência do inconsciente. Mas se, para Freud, o estabelecimento da hipótese do inconsciente deve efetuar-se como uma verificação experimental, é pcjrque não poderia haver outra. A dedução lógica é impossfvel, pois em que se baseia ela, ter minantemente? Nos princfpios a priori que podem evidenciar-se à análise ela lógica, ou seja, da linguagem. Ora, par�a Freud, corno para todos os teóricos de sua época, linguagem e consciência parecem inseparavelmente ligadas. Poder-se-ia mesmo dizer que a tese da separação radical linguagem-in consciente representa a última palavra da teoria freudiana do inconsciente. Não se tratasse, como nas teorias românticas do inconsciente, de uma es-
teoria do inconsciente e discursofilos6fico
pécie 'de impotência da linguagem, da racionalidade, de atendei a certos conteúdos afinal inefáveis. Freud é decididamente um racionalista. O modo da separação que apresenta é muito preciso. Assim escreve ele no longo parágrafo final do artigo "O Inconsciente": "Acreditamos agora saber de uma vez por todas em que uma representação consciente se distingue de uma representação inconsciente . . . . A representação consciente compreende a representação de coisa e mais a representação de palavra a ela pertinente; a representação inconsciente é apenas a representação de coisa." Contentemo-nos por ora, e sem determinar com detalhes a significa ção de tal concepção, que será o próximo objeto de nossa análise, em pre cisar o valor que ela deve assumir no contexto desse artigo essencial. Vi mos o que era uma representação, e a representação de coisa não passa de uma representação em geral. Uma representação de palavra não é funda mentalmente diferente, exceto que o objeto da representação é uma palavra. Mas é certo que, para nosso pensamento consciente, não há "conteúdo" que não associemos ao que nos parecem ser palavras e que não é, de fato, senão a idéia, a representação dessas palavras. 1 1 Podemos compreender que essa fórmula traga dificuldades, se considerarmos que a percepção efe tiva da palavra como fenômeno sonoro é sempre possível (basta pronun ciá-la), ao passo que, segundo parece, só temos que passar pelas "repre sentações" das coisas porque não podemos fornecer-nos a percepção à vontade. Mas o fato de a percepção da palavra, e não a da coisa, ser sem pre possível a cada instante não afeta o fenômeno essencial: trata-se para nós do pensamento, onde nada intervém senão em representação. Esse traço das representações de palavra e das representações de coisa é bem visível no próprio texto de Freud. Texto que traça um percurso muito com plexo, já que, para chegar ao "reconhecimento do inconsciente", ou seja, pa ra "determinar corretamente a diferença entre uma representação incons ciente e uma representação consciente", 12 Freud fez um longo desvio pela análise dos "sintomas" esquizofrênicos e de sua diferença das formações neuróticas, considerando que os primeiros manifestam com toda a clareza a potência absoluta do inconsciente. O que se observa na esquizofrenia é que os processos primários se aplicam, não às representações de coisa, mas às representações de palavra (de tal sorte, segundo Freud, que, diversamente da neurose, não mais se preserva um domínio do pré-consciente onde as representações de palavra se apresentam "corno convém", associadas às representaçõs de coisa "a que pertencem"). Assim, vê-se como é estreita essa identidade entre as representações de coisa e as representações de palavra, na medida em que ambas são representações. Mas vê-se também que o essencial é, de um lado, no pré-consciente, a associação entre representação de coisa e representação de palavra, e de outro, no inconsciente, a separação delas. Entretanto, Freud sublinha que as representações de palavra, muito embora certamente possam ser arrasta-
Lacan e a filosofia
30
das para o inconsciente (cf. os lapsos), têm seu lugar natural no pré-cons ciente, já que em princípio só existem para permitir a expressão das repre sentações de coisa. No inconsciente, portanto, só existem propriamente re presentações de coisa, e sendo assim, sem associação da representação verbal. Se a linguagem é essencialmente de alçada da consciência, o incons ciente não poderia ser deduzido a priori. E se é verdade que as confirma ções empíricas da existência do inconsciente conservam qualquer coisa de problemático, será que devemos renunciar à idéia de tal confirmação? Mas nesse caso, o inconsciente seria não mais que uma hipótese, uma espécie de ficção útil, talvez, mas sem significação efetiva para o sujeito humano. Será que é possível sustentarmos isso? Se queremos poder estabelecer uma demonstração da existência do inconsciente, convém precisarmos rigo rosamente o que está contido na idéia do inconsciente. Foi graças ao fato de a análise de Lacan pressupor essa determinação rigorosa que ele pôde , co mo de fato se deu, deduzir o inconsciente do aspecto da linguagem a que chamamos o significante.
7.
CONSCitNCIA E MUNDO ANTECIPAÇÃO E SIGNO
É preciso partir da idéia de que o inconsciente deve ter uma certa relação com a consciência, que é in-consciente. Há sem dúvida uma verdade no que diz Lacan no início de "A posição do inconsciente": "o inconsciente é um conceito forjado sobre o rastro daquilo que atua para constituir o sujeito. O inconsciente não é uma espécie que defina, na realidade psiquica, o modo 1 daquilo que não tem o atributo (ou a virtude) da consciência." 3 E o mesmo se aplica a Freud: "Deve-se buscar a razão de todas essas dificuldades na consideração de que o atributo da consciência, única característica dos pro cessos psíquicos que nos é dada de maneira imediata, não se presta de modo algum ,para fornecer um critério de distinção . . . . Na medida em que queiramos aceder a uma concepção metapsicológica da vida psíquica, deve remos aprender a nos emanciparmos da importância atribuída ao sintoma 1 'fato de ser consciente"'. 4 1sso não impede que justamente Freud, ao esbar rar na pluralidade de sentidos do termo inconsciente, e temendo que se confunda seu inconsciente com o pré-consciente, rejeite a idéia de distinguir os diversos "sistemas psíquicos" por nomes arbitrários, pois "seria preciso, antes disso, especificar os fundamentos para a distinção dos sistemas, e ao fazê-lo, não poderíamos escapar ao fato de algo ser consciente, pois ele é o ponto de partida de todas as nossas pesquisas."1 5 Provavelmente, não é à toa que Freud reserva o termo in-consciente para seu inconsciente, e pre fere cunhar o de pré-consciente para o outro.
teorio. do inconsciente e discUTSQjüosójico
31
Tentemos então situar o inconsciente em relação à consciência e ao consciente. · Freud diz que o pré-consciente é aquilo que simplesmente não está consciente, o que não aparece ao "olhar" da consciência, mas que sempre pode - em função do contexto - deixar essa latência e tornar-se consciente. Em contrapartida, o inconsciente é aquilo que não pode tomar se consciente (falaremos sobre o caráter dinâmico do inconsciente). E sem dúvida, formaremos essa determinação mais precisa acrescentando-lhe o seguinte: em circunstâncias normais; ou seja, em primeiro lugar, fora do tra tamento analftico, onde o objetivo seria justamente o de tornar conscientes as representações inconscientes de "suspender o recalque" que as impedi ria de se tornarem conscientes. Poderfamos duvidar de uma teoria que con sistisse em fazer do inconsciente um caráter essencialmente transitório e fundamentalmente negativo dos fenômenos psfquicos, e para a qual o trata mento analrtico fosse, antes de mais nada, uma luta esperavelmente vitorio sa contra o inconsciente (às vezes, talvez, com a idéia de que ele sempre permanece inconsciente, mas no sentido de um fato, e nunca como um prin cipio). É uma teoria dessa espécie que encontramos no fundamento da tra dução "o ego deve desalojar o id" para a fórmula freudiana Wo es War, soll lch werden, que Lacan gosta de citar e cujo equivalente francês ele se em penha em retificar. Para Lacan, ao contrário, trata-se de que o Eu (lch) ad vém no lugar mesmo do inconsciente e do isso. Retornaremos posterior mente a esse problema. Sublinhemos simplesmente que o inconsciente, no sentido preciso de Freud, jamais se torna consciente. Na análise, o incons ciente aparece, mas nem por isso torna-se consciente. Dirfamos desde logo que tudo o que nos aparece é por isso mesmo consciente16 (com o pressu posto vago de que o inconsciente é o profundo e que, vindo "surgir à super trcie", 1 7 não pode deixar de se tornar consciente). Mas justamente ar cons tata-se um erro, compreensível para quem rejeita a hipótese do inconsciente mas, nesse caso, o problema já não se coloca - e, ao contrário, inaceitável, desde que - e não é esse o caso de todos os psicanalistas? - se o admita. Convém agora precisar o que·vem a ser a consciência, e mais ainda o que ela pressupõe, e que contradiz por completo qualquer coisa que se deva então chamar de inconsciente. De fato, a que chamamos consciência? Sabemos que é uma das pa lavras chave da filosofia moderna, desde Descartes até Husserl e Sartre, passando por Hegel, e de certa maneira é até o "saber" que faz com que se sinta uma incompatibilidade entre a filosofia e o inconsciente. Que é isso, de fato? Tomemos um exemplo para compreendê-lo: vou caminhando por uma ponte, muito preocupado, e então me ponho a ouvir o barulho do rio por entre os pilares da ponte e me conscientizo de que é uma ponte. Que pressupõe essa tomada de consciência? Em primeiro lugar, não poderia tratar-se da descoberta de que "é uma ponte". A consciência não me dá um saber. Ao
32
Lacan e ajiJosojio
contrário, esse saber é algo que já tenho. Existe uma anterioridade na cons ciência. De que tipo? É aquilo que aparece ao considerarmos o que é trazido pela consciência. Quando se toma consciência, verifica-se aquilo que já se sabia - sem que justamente isso seja colocado como tal. Vejamos nosso exemplo: sei que é uma ponte porque já passei por ali para ir ao outro lado do rio, mas, no início da travessia, não verifiquei, não "comprovei" esse sa ber. A consciência, portanto, tem um pressuposto - esse saber, que será preciso determinar - contra cujo fundo ela se desenha como verificação, ou melhor, comprovação "de que é isso mesmo". O saber se aplica a uma certa realidade sensível no espaço, feita de pedras e estacas, ou de metal, e que se estende por sobre as águas de uma margem à outra. É aquilo a que se chama um. diverso sensível. O saber determina esse diverso sensível, con ferindo-lhe uma unidade: é uma ponte. Esse elemento idêntico através dO di verso sensível e de um em si-mesmo é um sentido. Que é então que carac teriza essa anterioridade na consciência? É a atribuição de um séntido. Mas, se temos que distinguir essa atribuição de sentido do ato preciso da cons ciência, como determiná-la? No exemplo dado: antes de eu tomar consciên cia, a ponte já é uma ponte para mim, sem que eu tenha justamente ligado o ruído que talvez já tenha escutado ao local por onde ando. Sem dúvida, seria necessário, de início, que eu reconhecesse a ponte, mas simplesmente por este ou aquele elemento, a partir do qual considerei que "era a ponte". Em relação aos outros elementos do diverso sensível, existe portanto uma ante cipação do sentido. Agora podemos compreender melhor o que se produz com a consciência: um sentido que era antecipado é "verificado", ou melhor, comprovado no presente - re-constituído. O essencial aparece, portanto, no nível desse jogo temporal. De um lado, um sentido é antecipado por um di verso de tal sorte que não há uma presença necessária de todos os ele mentos desse dado sensível, mas unicamente daqueles que permitem um recol'lhecimento suficiente; de outro lado, esse sentido é colocado como sendo exatamente, a cada instante, o sentido que convém ao diverso sensí vel, e é isso que constitui a consciência. Nessas condições, vemos que a consciência como ato pressupõe uma sentido antecipado. E o que Freud chama de pré-consciente não é nada além do domínio dessa antecipação de sentido, pois, se acompanharmos a análise, veremos que a consciência se produz como um fenômeno do qual, em grande parte, podemos prescindir. Em grande parte, parque sem dúvida é preciso supor uma certa consciência vaga no ato da percepção, que per mitiu de infcio reconhecer, num dado elemento, que se tratava da ponte. E parece que devemos, no que tange à consciência, dar uma importância pri mordial aos graus de consciência. Reencontramos portanto a teoria fenome nológica de Husserl, da qual se afirma que faz da consciência a "essência" do sujeito (que pode ser mais ou menos consciente, mas que em si o é sempre). Se nos ativarmos ao processo que acaba de ser descrito, vererrios
teoria do inconsciente e discursofilosófico
33
que a conscientização (de que é realmente uma ponte) supõe, de fato, uma antecipação do sentido; mas esta, por sua vez, pressupõe uma certa cons ciência inicial ligada à percepção (o próprio Freud falará num "sistema per cepção-consciência") e, mais fundamentalmente, uma constituição primeira da idéia de "ponte" a partir do sensível. Isso não impede que tenham sido necessários logo de início, simultaneamente, um diverso sensível aparecen do ao sujeito no tempo e uma antecipação de que esse diverso deveria ter um sentido (se não o referido sentido já determinado, como no exemplo da "ponte"). Permanece portanto em aberto a possibilidade de que a determina ção do sentido provenha de outro lugar que não do sujeito como consciên cia. Por exemplo, para Heidegger, a determinação do sentido é entregue pelo ser a seu destino (donde a idéia de que o ser do ente humano é, não a cons ciência, mas a inquietação - diante de uma determinação do sentido para o qual é preciso estar atento, preservar, deixar-ser). Todavia, se permanecermos no fenômeno da consciência, parece cla ro que deveremos manter a idéia de um pressuposto no ato da consciência, que com Freud chamaremos de pré-consciente. Claro está que ele não é exterior à consciência (donde a possibilidade essencial que tem o pré-cons ciente de tornar-se consciente). Mesmo no pensamento de Husserl, onde a consciência constitui o sentido, ele se constitui de uma diferenciação tempo ral, no ato da consciência, entre o sentido tal como antecipado e esse mes mo sentido tal como experimentado, ou re-experimentado. Essa diferencia ção sem dúvida pertence à estrutura da consciência - mas trata-se então de uma estrutura complexa, e nunca de uma estrutura simples. Em todo caso, voltando à definição pela qual o pré-consciente se distingue do inconsciente como aquilo que, em não sendo consciente, pode sempre tornar-se cons ciente, n i!o é necessário nos interrogarmos sobre as condições dessa pas sagem à consciência, posto que, de certa forma, a consciência já está pre sente af, e sobretudo estabeleceu-se que existe uma antecipação de sentido que está presente como pressuposto em todos os atos da consciência. De veremos então indagar-nos se não poderíamos conceber um sentido que de modo algum fosse antecipável. Se ele existisse, seria então perfeitamente certo que nos encontraríamos diante daquilo a que se deveria chamar o in consciente, no sentido daquilo que não pode tornar-se consciente. Vamos precisar o modo como se apresenta essa antecipação de sen tido. No exemplo proposto, antecipo, como foi dito, que estou andando numa ponte. Mas minha antecipação não se detém na ponte. E isso é compreensí vel se considerarmos que aquilo que é antecipado, em geral, é o sentido. Ora, a própria ponte, por sua vez, tem um sentido, que é o de fazer com que as margens do rio se comuniquem. E essa comunicação permite o co mércio entre os habitantes das duas margens. Mas a ponte tampouco existe sem as estradas que conduzem a ela, nem as estradas sem aqueles que as
34
Lacan e a filosojiD
usam. Tudo isso faz parte do que antecipo quando começo a passar pela ponte, e ganha sentido, antes de mais nada, a partir de minha presença e dos projetos que a carregam. A tal conjunto ordenado dá-se o nome de mundo. Esse é o caráter filosófico do pré-consciente e do consciente: eles remetem à presença do mundo para o sujeito, antes de mais nada enquanto seu, ou seja, do seu mundo. Ser-no-mundo sob a forma do "ter-no-mundo" é a caracterfsti ca mais evidente do ser do ente humano - evidente e incontrolável, por quanto se apóia, como veremos adiante, na apreensão primeira da lingua gem enquanto determinação do ser do homem (o t 'fov ÀÓ'Yov 'éxov). A fi losofia fenomenológica, particularmente, muito embora não tenha feito mais do que aprofundar o que a tradição filosófica já havia começado, apegou-se à descrição e à análise desse fenômeno do mundo e do ser-no-mundo. Tentemos caracterizar isso brevemente. A princípio, tudo o que aparece em meu mundo (meu mundo porque, inicialmente, o mundo é isso e, de certa forma, não deixa de continuar a sê lo) existe em representação, conforme as representações que vimos se or denarem dentro de um sentido. Ao caminhar sobre a ponte, represento para mim mesmo com maior ou menor clareza a própria ponte, as estradas que conduzem a ela, o lugar onde me encontro e aquilo que vou fazer lá. Mas me represento ainda a primeira vez que estive ali. Tudo isso está presente em mim, tanto o mais afastado no passado quanto o mais afastado no futuro, tanto o mais próximo quanto o mais distante. Preso nessa unidade que é meu mundo. Dir-se-á talvez que a análise do ser-no-mundo não poderia de ter-se na representação e que é preciso ultrapassá-la, quer no plano da per cepção, caso sigamos Hussert - e é verdade que sempre existe essa "pre sença em pessoa" de alguma coisa, e por conseguinte o surgimento de da dos sensíveis, ao ritmo da passagem do tempo, em face dos quais sempre permanece uma certa vigilância da consciência; quer no plano prático que Heidegger pôs em evidência, relativo ao uso de instrumentos: quando dirijo um automóvel, o conjunto dos aparelhos e dos diversos meios da direção não existe em representação, mas a meu dispor, "à mão". Da mesma forma continua presente, e não representado, o horizonte de sentido que cerca a direção, seja ela um passeio ou um deslocamento utilitário. Se isso é incon testável, cabe sublinhar que o problema não é, à primeira vista, do ser-no mundo, mas do próprio mundo. E no mundo não existe nada senão em re presentação. O automóvel só existe como elemento de meu mundo em re presentação, como "instrumento" que oferece possibilidades de ser, mas não como um meio puro aprisionado num uso. E de outra maneira, no caso daquele que vive, como se costuma dizer, "em representação", do "munda no", por exemplo, é absolutamente comum que os acontecimentos reais se desenrolem exatamente tal como existiam ou existiriam em seu mundo. A representação, segundo parece à primeira vista, re-presentação do passa do, mas igualmente representação antecipada do futuro e do possível, une-
teoria do inconsciente e discurso filosófico
35
se assim ao próprio presente. O essencial aqui, como veremos, é um certo modo da temporalidade. Mas antes disso convém insistir, como segunda característica do mundo, na unidade, na totalidade do mundo. Um mundo é um todo, não de representações articuladas umas com as outras, mas de elementos que existem, articulados entre si "em minha representação". O xóaJJ. O s dos gregos é, em primeiro lugar, a regularidade de uma ordem (inicialmente, a beleza e o adorno). E por fim uma harmonia, contrariamente à qual Lacan não pára de sublinhar as conseqüências da idéia do inconsciente e, em par ticular, a interpretação da sexualidade que daí decorre. Isso porque o princí pio de toda a "harmonia do mundo" jamais deixou de ser encontrado na complementaridade do homem e da mulher, do masculino e do feminino (da forma e da matéria, por exemplo), ao passo que a psicanálise, segundo La can, deve afirmar que não há relação sexual:18 longe de um dos sexos levar ao outro aquilo que lhe falta para suprir essa falta, é a própria falta que ele leva. E nada que seja mundo é fechado. Esse conjunto é ordenado segundo uma referência comum de todos esses elementos ao sujeito para quem, enquanto objetos de suas represen tações, eles têm sentido. É a partir do sujeito (como aquilo que permanece idêntico através de fenômenos diferentes - no presente caso, as represen tações) que se determina, de fato, a articulação dos diversos elementos do mundo, na medida em que eles têm sentido para ele e de acordo com rela ções muito diversas (cujo princípio geral deverá ser precisado): a ponte ganha sentido para mim no momento de uma dada visita que vou fazer, sem que o inverso seja verdadeiro, mas também no momento da estrada que se prolonga - e nesse caso o inverso é verdadeiro, pois sem a ponte não have ria a estrada; noutras ocasiões, enfim, a ponte pode adquirir sentido de outra maneira. Resta pois a referência ao sujeito como ego, a esse sujeito que La can irá chamar de sujeito do enunciado e ao qual i rá opor o sujeito da enun ciação enquanto sujeito do inconsciente. Para esse sujeito do mundo, o mundo é seu mundo. Foi ele que a filosofia moderna tematizou como Cogito, por exemplo, na fórmula kantiana de que "o 'eu penso' deve poder acompa 19 nhar todas as minhas representações". Como sujeito, estou, de certa ma neira, presente "em pensamento" em todos os elementos de meu mundo, por mais "objetivamente" afastados que eles estejam da situação em que eu próprio me encontro também como elemento desse mundo. Uma situação que dá a esse mundo, por essa dupla presença como sujeito e como objeto, o recorte de seu presente próprio, em relação ao qual situam-se no mundo o passado e o futuro. Todavia, antes de nos determos no modo fundamental do ser do su jeito "em seu mundo", devemos voltar-nos para a temporalidade própria do mundo. Poderíamos sem dúvida caracterizá-la como tempo imaginário, se o que é próprio do tempo for, antes de mais nada, fazer surgir o novo, o impre-
36
Lacan e a jilosofia
visível, aquilo que frustra a expectativa ou que a preenche e ultrapassa. Uma 0 vez que o tempo existe, a "posição" não é segura, posto que o "agora"2 é trazido para ela. Mas o tempo do mundo não é, nesse sentido, um tempo real. No mundo, o tempo não faz com que advenha o sentido, mas exibe e desenrola um sentido sempre antecipado, o que equivale ao seguinte: o tem po no mundo é por certo aquilo que pode impedir que a realidade seja con forme ao sentido tal como foi antecipado, mas nunca aquilo que constitui e faz surgir um novo sentido. A antecipação, característica do pré-consciente, continua a ser a determinação fundamental tanto do mundo quanto do ser no-mundo do sujeito humano. Quando passo pela ponte é com a intenção de fazer tal ou qual visita, ainda que, de repente, eu mude de idéia e resolva retornar sobre meus passos. Em cada ocasião e a cada instante, o sentido e não simplesmente o de meu ato presente, mas o de meu mundo em geral - é antecipado. O novo só se produz nesse quadro. Ora, o que significa falar mos aqui em tempo imaginário? Esse tempo é o tempo da representação, simultaneamente voltado para o passado, já que nos colocamos de antemão ao final de todo um desenrolar (tudo é contemplado sob o ângulo da coisa consumada), e voltado para o futuro, posto que não deixamos de antecipar. É o tempo do futuro anterior: a representação teatral é um perfeito exemplo disso, fazendo com que vejamos em cena (falamos também no palco do mundo e na comédia do mundo) uma ação já completamente determinada. O sentido, enquanto antecipado, conjuga-se pois no mundo com a idéia de fim. E o fina/ismo, como relacionamento de tudo o que sobrevém e, além disso, de todo o possível com um certo final antecipado, aparece como uma das características mais significativas do mundo e do ser-no-mundo. São as re lações de finalidade que articulam entre si os diversos elementos do mundo do sujeito: o fato de possuir um automóvel e o de utiliz á-to para desloca mentos cotidianos ou viagens, os próprios deslocamentos e uma dada ativi dade comercial, etc. Mas é preciso sublinhar ainda, em contraste com uma certa análise de Heidegger em O Ser e o Tempo, que em meu mundo nada poderia existir como puro meio, como instrumento que desaparece no em prego que faço dele. A cadeira de meu escritório só pertencerá a meu mundo se, de certa maneira, já tiver sido subtraída aos usos que são meus e os simbolizar, por exemplo. Todo elemento de um mundo tém um sentido en quanto tal, mesmo que remeta igualmente a outros, de acordo com relações de finalidade. De modo que o sujeito, enquanto possuidor de um mundo, deve apa recer essencialmente como sujeito do conhecimento (ou do saber, o que em certo nível equivale à mesma coisa). Tampouco seguiremos aqui a análise de Heidegger, cujo plano de verdade não parece ser o mundo como mundo, nem o ser-no-mundo pura e simplesmente, mas uma certa crítica do mundo, justamente um limite imposto (e sem dúvida com justa razão) à extensão de uma dominação característica do ser-no-mundo e ligada ao conhecimento e
teoria do inconsciente e discurso jilosójico
37
ao saber. Pois o homem enquanto é-no-mundo acha-se na posição do se nhor que confere sentido, que "ordena", determinando de antemão que sen tido terá o real, ou pelo menos que o real terá um sentido (é próprio do es cravo não poder contar com uma ordem de seu mundo, porque o senhor po de incessantemente fazer valer ali seu arbítrio, o imprevisível por excelên cia). Ora, que acontece quando possuímos um saber ou quando conhece mos um lugar ou uma pessoa, quando nos conhecemos em alguma coisa, quer se trate de uma habilidade ou de um saber teórico, de um conhecimento totalmente empírico ou de um conhecimento científico? Não mais ficamos desguarnecidos diante de uma dificuldade que se apresente e, de certa ma neira, escapamos à incerteza que é própria do futuro. Não dependemos. Mas é esse domínio que o pensamento de Heidegger vem restringir. Com efeito, devemos observar que se, em princípio, é pelo próprio sujeito em sua realidade que o "real" pode aparecer em representação no contexto do mun do, e se seu ser-no-mundo é conhecimento e saber, esse saber e esse co 21 nhecimento podem perfeitamente senncompletos (inclusive na hipótese de que todo o real tivesse lugar no contexto de um mundo em geral e de sua temporalidade). Qual deve ser então, a permanecermos no mundo, o ideal para o ente humano? Nada senão aquilo que Hegel chamou de saber abso luto, ou seja, à determinação exata a priori do sentido de tudo o que pôde, pode e poderá produzir-se de real no mundo. Mas é contra essa tese que Heidegger argumenta: para ele, os fins que posso buscar no mundo são ob jeto daquilo a que ele chama destino ou sorte (Geschick) do ser; o que tenho de ser me é concedido, de modo que o saber absoluto não poderia constituir tal fim, já que exclui toda e qualquer dependência por parte daquele que o detém, mas exclui também toda e qualquer transcendência em relação ao mundo. É exatamente ao mundo e ao ser-no-mundo, portanto, que o pensa mento heideggeriano impõe um limite. Um limite que não deixa de ter ligação com o que Lacan irá reencontrar na idéia do inconsciente. Limite do saber, ou talvez, melhor dizendo, limite interno do saber, na medida em que o sepa ra para sempre numa parte consciente e noutra que é esse "saber desco nhecido" já evocado, ou seja, o próprio inconsciente. E ao descrever a filo sofia como o discurso do senhor (e esse é o "x" do problema), é sempre es se ideal do saber absoluto que Lacan tem em mente, essa realização do co nhecimento do mundo, como um todo harmonioso, .que ele não cessou de caracterizar como decorrente - da mesma forma que o ego - do imaginário . Eis a última característica a que nos ateremos aqui nesta apresenta ção do mundo: a presença de signos nele. Para o mundo, não se trata de um fenômeno acidental, mas de algo absolutamente essencial. Talvez pareça que o signo traz um conhecimento que nos faltava. Por exemplo, nuvens ne gras, signo de chuva. Mas o signo não traz um conhecimento. Bem ao con trário, ele o pressupõe. Não garante uma destinação de algo que deveria ser "significado para o sujeito" (para retomarmos uma fórmula de Lacan que ex-
38
Lacan e a filosofia
plicitaremos no devido tempo), mas, ao contrário, marca a independência e a clausUra de seu mundo. Pois é o sujeito que dispõe antecipadamente do valor, ou seja, da significação do signo. É o sujeito que faz deste aconteci mento ou daquele comportamento um signo. Mas é verdade que o signo reú ne em si um conhecimento que foi adquirido. O signo é o elemento extremo do mundo, sua realização e seu limite. Sem dúvida tem uma origem (Lacan irá encontrá-la no significante, que, este sim, significa efetivamente algo de novo), mas ela é uma outra face, invisível desde o interior do mundo. O signo parece provir do exterior, mas é de fato interior; surge exatamente como acontecimento no real e na presença, mas sem que essa presença tenha a menor existência. Com efeito, ele aparece como decorrente do próprio su jeito, colocado e constituído por ele. Que assinala então seu surgimento? A presença, para o sujeito, de uma dada representação (e portanto, a atualiza ção de um certo conhecimento, cf. o esquematismo de Kant) que ele "signifi ca". Vemos assim que não há diferença essencial entre os signos como acontecimentos (as nuvens negras) e os signos totalmente internos ao su jeito, que são os elementos verbais tal como os apresenta Husserl22 (como "expressões" do pensamento). Trata-se, em ambos os casos, de marcar a presença pura (para o sujeito) de uma representação (pois cada representa ção de seu mundo não lhe está identicamente presente a cada instante) . As sim, tanto o acontecimento-signo como a palavra, eles próprios, só estão presentes em-representação; a rigor, a palavra não é senão a representação de uma palavra, e o acontecimento, a representação de um acontecimento. O que está presente é o ato de representar, orientado numa certa direção determinada. Mas nesse caso, diríamos, por que a dualidade da palavra e da coisa, se é apenas uma questão de representação? Não poderíamos ir dire tamente à representação significada? De fato, o signo marca a presença (por todos os meios fornecidos pela situação) da atividade representativa do sujeito; ele é requerido pelo caráter limitado do presente em relação ao mun do em geral do sujeito. O signo é imposto, 23 mesmo que pareça provir do exterior e "se constituir em signo" para o sujeito. Nele se conjugam duas re presentações, exatamente como havia determinado Freud no tocante ao pré consciente: associação de uma representação de coisa com uma repre sentação de palavra. E a exterioridade que aparece no signo não é outra se não a do sujeito em relação ao mundo. Redutível ou não? Esse é o proble ma. Veremos que, para Lacan, a exterioridade é radical, pois o sujeito não é essencialmente aquele que visa à significação, mas aquele a quem irá cha mar sujeito do significante. Vemos assim a importância do signo para o mundo. Ele marca perfei tamente a capacidade de interiorização da consciência e a consistência do mundo, o triunfo da finalização. E se resumirmos o modo de antecipação do sentido que aparece como característico daquilo que não é o inconsciente no sentido freudiano, cabe sublinhar: 1) Que se trata de uma determinação do
teoria do inconsciente e discurso filosófico
39
real como decorrente do mundo do sujeito; 2) Que ele parece inseparável da linguagem e da lógica, na medida em que a linguagem seria um sistema de signos. De modo que mal chegamos a ver como seria possível deduzir logi camente a existência do inconsciente. Não restou a Freud senão a confir mação empírica para estabelecer essa existência. Sabemos que essa con firmação continuou problemática. E vimos que ela é de fato impossível, se ti vermos que falar num inconsciente radical (a previsão que ela pressupõe exigiria que o analista escapasse da influência do inconsciente). 8. O INCONSCIENTE E O l-MUNDO O INANTECIPÁVEL E O SINTOMA
Que é então o inconsciente? Se a consciência supõe que haja uma anteci pação do sentido, podemos legitimamente propor que haverá inconsciente desde que sejamos confrontados com um fenômeno que tenha um sentido, mas cujo sentido não seja antecipável. Antes de precisarmos o que significa isso, observemos q ue é, de qualquer modo, algo inseparável da idéia de uma emergência, do aparecimento de algo novo. Um tema muito característico de todo o pensamento e toda a ideologia românticos . E é bem verdade que há qualquer coisa de irremediavelmente fechado e, de certa maneira, "morto" no mundo e em sua "razão". Mas o romantismo não foi até o fim daquilo que está contido na idéia do inconsciente como o verdadeiramente novo. Pois o que é que é estranho, não a uma dada antecipação, mas a qualquer anteci pação de sentido? De modo algum os fenômenos que, decorrendo de um sentido certamente novo, por ser inédito, têm lugar no mundo dos homens, ou no mundo próprio deste ou daquele, com o risco de modificar esse mun do, mas sim fenômenos para sempre externos a qualquer mundo, e portanto, de certa maneira, i-mundos. Assim, se precisarmos o que se passa com o inconsciente, deveremos dizer que ele é o real enquanto irredutível, irrecon ciliável com qualquer mundo. Aquilo que Freud um dia chamou de das Unheimliche: o que não é de nosso mundo, não é familiar. Não satisfaz, pois não se pode esperá-lo; mas não poderia iludir, pois permanece sempre es tranho. É preciso compreender bem a radicalidade da concepção freudiana do inconsciente. O problema não é, em absoluto, da ordem de uma interpreta 4 çã02 possível; o inconsciente não poderia - nem que fosse a posteriori ser integrado num mundo. O inconsciente caracteriza um certo tipo de pro cessos psíquicos tais que produzem fenômenos, comportamentos ou pen samentos cujo sentido não pode ser antecipado. E são esses os processos que Freud descreveu. O inconsciente não poderia produzir revelações , nem fazer emergir pura e simplesmente "o mal". O inconsciente de Freud não é bom nem mau em si. É preciso deixar que o inconsciente se dê e, portanto, evitar abordá-lo com os aparelhos da finalidade própria do mundo. -
40
lAcan e afilosofia .
Decorre do inconsciente um fenômeno supostamente psfquico, no sentido de que não é conforme a nenhuma determinação antecipatória. Não que ele incorra no erro de se desfazer do sentido que era dado às coisas pa ra lhes dar um outro - assim se permaneceria na ordem do "mundo". Freud situou os fenômenos do inconsciente como sintomas , e há nisso algo de es sencial. O "sintoma" se faz notar, antes de mais nada, por não ser conforme à norma, àquilo a que se está acostumado. Mais do que isso, porém, ele anuncia um processo que questiona a harmonia, a coesão, a ordem do mun do. É muito nítido no âmbito médico, onde se fala em sintomas, mas também no que concerne às sociedades: existe o sintoma da crise econômica, por exemplo. Surge, portanto, uma negatividade essencial do processo anuncia do pelo sintoma. Porém uma negatividade relativa. Relativa ao mundo parti cular onde se desvela e ao qual ameaça. Assim é que Hegel contempla a história como o questionamento de um mundo histórico, a partir da manifes tação gradual nele de sintomas de crise que anunciam o movimento da Idéia, que prepara a vinda de um mundo histórico mais conforme a ela, mais "ver dadeiro" - até o fim da história. Mas nesse caso, poder-se-ia dizer, trata-se de uma "recuperação" do sintoma. E le é essencialmente o anúncio de um processo que destrói a harmonia do mundo. Negativo em relação a um mun do em geral, mas não necessariamente negativo em si. De qualquer modo, vê-se o que Freud trouxe para a abordagem dos fenômenos patológicos como "sintomas". Sintomas eles já eram, de,.?cordo com a abordagem médica da neurose. A novidade - e é nisso que consiste o inconsciente - está em descobrir aí um sentido, mais do que "supor" um sentido. E não como os próprios neuróticos, que, por mais que devam reco n hecer este ou aquele fenômeno inconsciente, procuram "racionalizá-lo", e assim incluí-lo em seu mundo. O inconsciente como sintoma: trata-se de um comportamento ou de um acontecimento de espécie ou origem psíquica, que não pode tornar-se consciente porque não depende de um sentido antecipa do. Como pode existir tal sentido continua a ser, é claro, o problema essen cial. Mas com certeza é um sentido dessa natureza que é visado pela pró pria idéia do inconsciente. O inconsciente como signo é impossível, entra em contradição com a idéia do inconsciente - se levarmos a sério que incons ciente é aquilo que não se pode tornar consciente. Contrariando uma ten dência que gostaria de "compreender" os fenômenos inconscientes, articu lando-os com o mundo do sujeito - e que poderíamos chamar de hermenêu tica -, é preciso insistir, ao contrário, no que pode ter de exato a visão médi ca que capta os fatos e os relaciona com grocessos destruidores de todo o mundo. Pois o inconsciente é o real puro, 5 dirá Lacan na oposição que faz entre o real, o imaginário e o simbólico. O fato inassimilável. Inclusive no mundo de qualquer ciência médica que possa existir. Pois seria preciso in dagar: a quem se dirige o sintoma enquanto tal? Ou melhor, quem pode ver os sintomas? Não é o médico enquanto médico, pois para ele os sintomas
teoria do inconsciente e discurso jikJs6fico
41
são signos26 que dependem de seu conhecimento médico; não é o sujeito enquanto tem um mundo, que só consegue ver nos sintomas cujo sentido não chega a atribuir a marca de uma insuficiência de seu saber (já que o sentido destes, para ele, não deixa de ser antecipável) . E no entanto, não po de ser outro que não o sujeito, porque é seu mundo que o sintoma vem questionar - mas é, no sujeito, aquela parte que remete a algo como um mé dico, já que é estranha a ele mesmo. Só existe sintoma para esse sujeito di vidido, que será o sujeito do inconsciente, segundo Lacan. Essa é, portanto, a significação filosófica do inconsciente como idéia. Fundamental, o que pode explicar a repercussão da "descoberta freudiana". Mas ainda seria preciso provar que é realmente uma descoberta e que existe algo como o inconsciente. É o que faz Lacan através de sua análise da linguagem segundo o significante. 9. A TEORIA SAUSSURIANA DO SIGNO E AS CONSEQÜtNCIAS DO QUESTIONAMENTO DO FINALISMO
Sabe-se que Lacan justificou sua empreitada de base a partir das teorias lin güísticas de Ferdinand de Saussure. Sabemos também que os lingüistas, com grande freqüência, gritaram que isso era um equívoco. E o próprio La can chegou a falar em sua "lin.g üística", como se precisasse reconhecer um desvio teórico. Em que consiste isso, de fato? Contanto que nos atenhamos ao mundo tal como o analisamos, a lin guagem aparece claramente como constituída de signos. E o próprio Saussu re fez do conceito de signo o conceito primordial de sua teoria. Mas nenhu ma ciência se constrói sem questionar o "mundo" tal como os homens o vi venciam, sem rejeitar o próprio princípio articulador de seus elementos, ou seja, o finalismo. Assim, podemos supor que a idéia de fundar uma ciência da linguagem deve conduzir pelo menos a um novo exame dessa evidência primeira do signo. É isso, com efeito, o que se produz com a concepção saussuriana da linguagem. Saussure efetivamente parte do seguinte: falamos, e para falar, servi mo-nos de palavras e de elementos diversos que pertencem a uma língua - falamos supondo em nosso interlocutor a presença daquele tesouro da lín gua graças ao qual ele poderá compreender o que dissermos, não importa o que digamos. "A língua", diz ele, "é um sistema de signos".2 7 Sua nova ciên cia da linguagem, que se empenha em permanecer dentro da ordem estrita da ciência, define seu objeto como sendo justamente a língua enquanto sis tema de signos e pretende apenas descrever os "fatos" da língua. Mas es ses fatos não são simplesmente fenômenos sonoros, pois só existe lingua gem humana quando aquilo que é pronunciado significa alguma coisa. Ao que parece, então, estaríamos de novo no plano do mundo. Com efeito, Saussure parte do signo afirmando nele, como elemento constitutivo de sua
42
Lacan e a filosofia
natureza de signo, a presença daquilo que pode aparecer corno o "conteúdo pensado" do signo, ou seja, o conceito. Mas só existe signo, com toda cer teza, porque o conceito ou "fato de consciência" está associado com alguma coisa que se dá como fenômeno sonoro. Já vimos, quando da análise do mundo e do conceito de signo, que seria conveniente falar, nesse ponto, em "palavra representada", e não real, para retomarmos a expressão de Hus serl. E é assim que o próprio Saussure especifica o caráter desse segundo ' elemento do signo, que é psíquico e, portanto, representativo como o primei ro: "O ponto de partida do circuito [da comunicação] está no cérebro da pri meira. . . onde os fatos da consciência, que chamaremos de conceitos, acham-se associados com representações dos signos lingüfsticos ou das 8 imagens acústicas que servem para sua expressão";2 [existe) "no cérebro uma associação psíquica dessa imagem com o conceito correspondente".29 Assim como, para Freud, a "representação de objeto consciente".associava 0 a representação de coisa e a representação de palavra,3 o signo, para Saussure, associa (mas segundo qual modo?) um conceito (isto é, um ele mento representativo - as distinções entre conceito, idéia e representação quase não parecem ser assumidas por Saussure na teoria e quanto ao ob jeto de que ele se ocupa) e uma "imagem acústica", que ele afirma ser, não o som pronunciado, mas "a impressão psíquica desse som, a representação que nos é dada pelo testemunho de nossos sentidos",31 sendo ambos os aspectos ou ambas as faces igualmente psíquicos. 32 Saussure os denomina (só que isso será mais do que uma denominação de "convenção científica") de significado e significante (ou seja, para o primeiro, a representação de coisa de Freud e, para o segundo, a representação de palavra) . Tal teoria nada traria de novo, não fosse pela exigência de cientificida de, que proíbe o estabelecimento de uma relação de finalidade entre os dois elementos significativos que são o significante e o significado. Sem dúvida, existem o significado e o significante, sempre juntos, em todo fenômeno lin güístico. Mas o essencial para uma ciência da linguagem é abstrair-se de tu do o que possa exceder aquilo que é dado no objeto - no presente caso, uma preexistência qualquer do significado ao signo, uma existência do signi ficado fora de sua relação com o significante. Decerto, quando falamos, há sempre esse aspecto da visada de um conceito - e a linguagem humana supõe que "pensamos no que dizemos". Mas nem por isso o significado, en quanto conteúdo pensado, pode existir independentemente de um signifi cante. Claro, quando nos servimos dos signos é para exprimir um pensa mento já constituído - mas não estaremos esquecendo que esse pensa· menta se formou num universo onde a linguagem, significado e significante, já estava presente? Saussure constata essa co-presença inultrapassável, mas se recusa a estabelecer uma relação de finalidade que só tenha sentido se o conteúdo do pensamento puder existir independentemente daquilo que
teoria do inconsciente e discurso filosófico
43
irá significá-lo, e portanto, antes de qualquer signo. Para ele, "nada se distin gue [no plano das idéias] antes de pertencer à língua".33 Assim, devemos supor um pensamento mas inteiramente indeterminado, tão indeterminado quanto a substância tônica "antes" que se estabeleçam os signos, as asso ciações entre um significado e um significante. "Aprisionado em si mesmo, o pensamento é como uma nebulosa onde nada está necessariamente delimi , tado. Não existem idéias preestabelecidas .' 34 Cabe sublinhar aqui a radicali dade da posição saussuriana, para a qual significante e significado de modo algum estão, como se acredita, nas mesmas relações que o corpo e a alma da metafísica. Antes, diz ele, 35 são como os átomos de hidrogêneo e o áto mo de oxigênio na molécula de água - totalmente no mesmo plano, portanto não sendo o significante mais instrumento do significado do que o inverso. Poderemos então considerar que o conceito de signo, que o fenômeno concebido como signo, não é questionado nessa análise? Poderemos dissi mular a ruptura introduzida pela concepção de Saussure - e da qual veremos que Lacan não faz mais do que desenvolver as conseqüências? Diríamos talvez, com o intuito de preservar o referido conceito no âmbito da lingüística, que o signo não é um meio. E nesse caso, a rejeição do finalismo não lhe di ria respeito. Sustentaríamos assim que, para Saussure, o signo que contém em si o significado não é um meio para exprimi-lo. E haveria então uma dife rença entre (a) a ciência saussuriana e seu conceito rigoroso do signo, e (b) o mesmo conceito tal como a filosofia o teria estabelecido. Mas é preciso não confundir o signo e o significante. O signo é a representação da palavra, a palavra representada, na medida em que remete à representação de coisa. Para a filosofia, o signo contém a relação de finalidade e não é, enquanto signo, um instrumento (é a representação de nuvem que, no signo - e como significante - deve aparecer como um meio).3 6 E a idéia saussuriana segun do a qual não existe relação de finalidade entre significante e significado de ve ser concebida como levando, de fato, a uma ruptura com o conceito inicial de signo. Mas então, se o significado, o "conteúdo da consciência", não precede o significante com que está associado no signo, como podemos considerar que se deve determinar a diferença dos significados, segundo qual princípio? Não poderíamos escapar a essa pergunta, já que toda a nossa linguagem tende a estabelecer distinções e classificações que se apóiam justamente na capacidade de significar de modos diversos. E comumente pensamos que essas distinções se baseiam naquilo que há para significar, no ser das coisas. Mas justamente, para Saussure, o sig nificado não poderia depender dos eventuais objetos do pensamento enquanto precedessem a linguagem, e a diferença real entre os cães e os gatos não poderia estar na origem da distinção dos s ignificados de "gato" e "cão" .
44
Lacan e a filosofia
Essa dificuldade e o que se pode dizer da solução saussuriana apa recem com clareza no capítulo IV · da segunda parte do Curso de Lingüfstica Geral, dedicado à noção essencial de valor. Saussure começa por distinguir o valor de uma palavra e sua siginificação. Sheep em inglês e "mouton" [carneiro] em francês teriam a mesma significação, mas não o mesmo valor (por causa da presença, em inglês, da palavra mutton, que designa o carnei ro apresentado como carne). Mas para afirmar essa identidade de significa ção, em que se baseia Saussure senão na identidade dos conteúdos do pensamento, e finalmente daquilo que as palavras designam? Por conse guinte, em sua teoria, alguma coisa rejeitou precisamente a autoridade. A teoria saussuriana é uma teoria do valor,37 estritamente, e portanto, como veremos, da diferença pura. Isso é o que aparece com clareza na continua ção do § 2 daquele capítulo. O conceito de julgar, o significado da palavra "julgar", diz ele, não é mais que um valor determinado pelas relações com o conjunto de palavras da língua, e mais estritamente, daqueles que em tal lín gua lhe são próximos. "Se as palavras fossem encarregadas de represen tar conceitos dados de antemão, cada uma delas teria, de uma língua para outra, correspondentes exatos para o sentido." 38 E o § 2 termina com a se guinte afirmação, cuja radicalidade deve ser bem pensada: "Quando afirmo simplesmente que uma palavra significa alguma coisa, quando me atenho à associação da imagem acústica com um conceito, faço uma operação que, numa certa medida, pode ser exata e dar uma idéia de realidade, mas de ma neira alguma exprimo o fato lingüístico em sua essência e sua amplitude''39 Qual é essa essência do fato lingüístico? É a diferença pura. Na lín gua, diz Saussure, existem apenas diferenças, sem termos positivos. 4° Co mo diferenças puras evidentes no plano do significante, cada um dos ele mentos significantes da língua, cada uma das "paiavras", só existe e só as sume seu valor por não ser nenhuma das outras (do mesmo modo que, nas palavras, cada fonema - ainda que não se trate, para Saussure, de um ele mento significante - não é nada em si mesmo, diversamente de um som, mas vale pela presença ou ausência nele de todos os traços fonológicos possíveis que permitem estabelecer essas distinções entre os fonemas). Mas, e quanto ao significado? Que esse princípio nos pareça evidente quanto ao significante se prende, sem dúvida, ao fato de concebermos o significante como um meio para expressar as diferenças do significado. Pensamos, em primeiro lugar, que as diferenças entre as palavras "gato" e "cão" nos permitem significar as diferenças que existem em nossa cons ciência. Mas parece muito menos evidente que aquilo em que pensamos através da palavra "gato" não existe em si mesmo, mas unicamente pela di ferença daquilo que concebemos através da palavra "cão". As representa ções de gato ou de cão aparecem como consistentes em si mesmas, não sendo a diferença entre uma e outra uma diferença pura, mas uma diferença determinada (o cão se caracteriza positivamente pela presença de garras
teoria do inconsciente e discurso jilnsófico
45
não-retráteis, e o gato, positivamente, pelas suas que se retram - mas nem um, nem outro negativamente). Tais diferenças positivas só existem, segundo Saussure, para o próprio signo, e a propósito disso ele fala em oposição. Mas o fato lingüístico original é a negatividade. Tanto para o significante quanto para o significado. As diferenças nos dois níveis se correspondem (sem que haja nenhum paralelismo entre os dois níveis: "asna" supõe um princípio constitutivo que não encontramos em "jumento" , mas pouco importa - se seguirmos Saussure, todos os significados são igualmente, ou seja, de maneira igual, diferentes entre si quanto ao que é da essência do fato lin güístico: "asna" não é menos diferente de "asno" do que "jumento" de "ca valo", mas igualmente diferente).4 1 Quais são as conseqüências para o significado? Elas se situam ime diatamente no terreno filosófico. Se considerarmos uma classificação das espécies como a classificação aristolética, ficará claro que, para um metafí sico, as diversas espécies se ordenam pela diferença em relação a um ter mo absoltuto que é o homem enquanto � 4J ov Xórov ffxov , ser vivo dotado do Ãór os (razão-linguagem) , e de fato, em relação ao divino. Não se trata aí de diferença pura. E o divino não é simplesmente diferente do humano tal como o humano o é do divino. E de modo algum equivalente. Ao passo que é a uma equivalência desse tipo que seria preciso chegar, se se guíssemos plenamente as teorias de Saussure. Mas ele próprio mal chegou a se aventurar nesse campo da "semântica". Aliás, dificilmente teria podido fazê-lo sem recolocar em questão o campo e o objeto que havia fixado para si, pois, se se tivesse ariscado a is so, teria precisado interrogar-se; além das línguas positivas, sobre a relação do significante e do significado e de sua pretensa "co-presença", "contempo raneidade" ou "simultaneidade". Mas nesse caso, já não se trataria da lin güística no sentido próprio do termo, das línguas e seus "signos" (qualquer que fosse o ponto a que já tivesse sido levado o questionamento desse con ceito), e sim do inconsciente e da "lingüisteria" - justamente o que Lacan vem propor. 10. A TESE LACANIANA DE UM NÍVEL LÓGICO DO SIGNIFICANTE PURO E A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO INCONSCIENTE
Lacan estabelece ou confirma a existência do inconsciente deduzindo-se a partir da linguagem (e do lógico). Apóia-se para esse fim na teoria saussu riana, cujas conseqüências desenvolve para além do domínio próprio de uma lingüística. Desse "ultrapassamento" Lacan está perfeitamente consciente. Assim, dizia a respeito de Saussure que todos os seus esforços não se ti nham dado sem deixar a porta aberta para verdadeiras divergências na ex ploração possível daquilo que ele inaugurara com a distinção tão essencial entre significante e significado. 42 Mas é preciso sublinhar, ainda que isso
46
Lacan e afilosofia
custe aos lingüistas, a continuidade da análise lacaniana em relação à teoria de Saussure: não há nenhuma violência e nenhuma utilização arbitrária, ne nhum desvio, e sim o prosseguimento de uma análise. Essa análise conduziu, em nome de uma idéia da ciência, a que se pusesse em dúvida o signo. Pois uma ciência da linguagem que se prenda ao dado da linguagem deve excluir qualquer preexistência do significado, qualquer existência do significado fora de sua relação com o significante. Nessas condições, vimos que se reproduzem para o significado as mesmas relações que aparecem para o significante. Mas Lacan precisa ir mais adiante, se pretende fundamentar o inconsciente. E vai mais longe. Ele pas sa, além do signo, à contemporaneidade do significante e do significado, que fora descrita por Saussure, e determina um plano da linguagem em que não aparece nada além do significante. Isso é o que se deve aceitar, caso pretendamos seguir Lacan. Longe de o significado preceder o significante, é exatamente o significante que se dá em primeiro lugar. O significante puro, ou seja, sem significado. Lacan in troduz, portanto, a idéia de uma autonomia do significante. O que não impe de, é claro, que não exista um significante sem que haja também, finalmente, significado. Mas o significado é produzido pelo significante. É preciso que nos atenhamos ao caráter propriamente verbal do "significante". O signifi cante é aquilo que significa, tal como o combatente é aquele que combate. O "significante" é pois o agente. Para compreendê-lo e especificar o vínculo que vai de Saussure a Lacan, podemos observar que as mesmas diferenças são encontradas no significante e no significado, havendo a mais no signifi cado apenas o seguinte: as diferenças aí não mais estariam presentes ime diatamente, mas seriam impostas, ou seja, captadas numa unidade e visa das pelo sujeito - "ditas", se desejarmos (cf. o artigo A óros , de Hei degger, onde ele diz que o ÀÓ:yo s é a posição congregadora). Mas poder-se-ia levantar a objeção de que o significante é tão "representação" quanto o significado, de tal sorte que as diferenças enquanto impostas não seriam nada além de diferenças do plano do significante, caso "impor" deva ser entendido como vinculado ao "representar-se", à atividade do sujeito que tem um mundo. Mas justamente, um significante que precedesse a ordem do significado, e portanto a associação do significante e do significado no signo, não dependeria mais do mundo nem da representação. Logo retornaremos a esse ponto. Quanto à "imposição" e a seu vínculo essencial com a lingua gem, só mais tarde (cf. cap 111) é que a examinaremos em detalhe. Por ora, vamos deter-nos na idéia do significante como aquilo que significa ativa mente, sem explicitar que esse ato de significar consistirá numa imposição. Se o significante significa, que é que ele significa? Pois bem - e esse é um paradoxo considerável, com certeza -, cada significante significa a mesma coisa que todos os outros. Todos os significantes têm o mesmo sig nificado (tanto "gato" como "cão", ou como "perplexidade"). Dirão logo: aí
teoria do inconsciente e discurso ji/osójico
47
está a violência inflingida à teoria saussuriana, a ponto de se chegar a fa zê-lo sustentar qualquer coisa - uma afirmação tão absurda (como poderiam palavras diferentes significar a mesma coisa, sobretudo tão diferentes quanto "cão" e "perplexidade"?) quanto contrária à letra e à teoria de Saus sure. Mas Lacan nunca disse que as "palavras" gato e cão significam a mesma coisa. Lacan fala em significantes, não em signos. Ora, um signifi cante é ele mesmo, pelo simples fato de sua diferença de todos os outros significantes. Como diz o próprio Saussure (reproduzido no seminário de La 4 can sobre A ldentificação): 3 "Aplicado à unidade, o princípio de diferencia ção pode ser assim formulado: as características da unidade confundem-se com a própria unidade. Na língua, como em qualquer sistema semiológico, o que distingue um signo é tudo o que o constitui. É a diferença que constitui a característica, assim como constitui o valor e a unidade." Portanto, é essa diferença pura, presente em cada um, que faz com que cada significante signifique aquilo que significa. O que ele significa só pode ser compreendido se levarmos em conta que a linguagem caracteriza o ser humano. O que ele significa remete àquele para quem ele significa, e portanto ao sujeito. Lacan dissera (cf. § 7º que "o inconsciente é um conceito forjado sobre o rastro daquilo que atua para constituir o sujeito". O que atua aqui é o significante. Não que o significante seja dirigido a um sujeito que lhe é preexistente, jâ que o significante o constitui. Alguma coisa é "significada para o sujeito", como diz freqüentemente Lacan. Mas o que lhe é significado (pelo signifi cante) é que se assujeite à lei do significante - o significado do significante é o desejo e a castração, o desejo como castrado. Deves desejar e, para isso, aceitar a castração. Deves ser castrado para desejar - ou antes: tu deseja rãs! Eis aí o que significam todos os significantes, na medida em que devem ser mostrados, cada um deles como inseparáveis de todos os outros que existem simultaneamente e dos quais eles diferem. A concepção lacaniana do significante é inseparável de uma teoria do sujeito, sobre a qual devere mos deter-nos longamente, mas que convém indicar aqui, jâ que o significa do depende do fato de que, em primeiro lugar, é o homem que se inclui no significante (pois o significante lhe significa alguma coisa, pela simples razão de que ele próprio é um significante, um outro que não o primeiro e com o qual o primeiro está numa relação de diferença pura - a identificação cons titutiva do sujeito, segundo Lacan, é identificação com um significante, 44 donde a fórmula incessantemente repetida: "Um significante é aquilo que re presenta um sujeito para um outro significante"). Podemos assim medir quanto se deslocou a análise desde Saussure até Lacan. Cabe insistir, todavia, numa continuidade, sem dúvida pouco evi dente. É . que, se o significado em geral é desejo e castração, trata-se, para tomarmos um linguajar heideggeriano, do ser de um certo ente - no caso, do ser do homem. Mas esse modo de ser significado (desejar como sujeito castrado) não poderia ser significado se não houvesse no real homens e
4H
Lacan e afilosofia
mulheres. De sorte que esse significado comum do desejo e da castração se apresenta conforme a diferenciação primordial do ser homem e do ser mulher, diferença significante por excelência no plano do significado tal como descrito por Saussure. A partir daí cabe precisar que, antes de todos os pro gressos e todas as descobertas do conhecimento do real, as diferenças en tre os significados retomam para o sujeito humano, em primeiro lugar, a dife rença homem-mulher (o cão - o gato; o sol - a lua; o sólido - o lfquido, etc.). E torna-se visível que a análise de Lacan, segundo a qual o significado de todos os significantes é inicialmente idêntico, não contradiz em absoluto a teoria saussuriana da diferença pura, reproduzida do significante para o sig nificado. Para Lacan, por conseguinte, há um plano em que atua a pura articu lação do significante. E é aí que ele vai reencontrar o inconsciente .. As repre sentações de coisa de que Freud fizera o conteúdo do inconsciente não são outra coisa senão significantes. E os modos dos processos primários, en quanto modos do pensamento inconsciente, a saber, a· deslocamento e a condensação, reencontram-se nas figuras da retórica clássica que são a metonímia e a metáfora. Assim, Lacan nos faz assistir a uma interpretação das noções da teoria do inconsciente nos termos da lingüística. Compreen demos que essa "tradução", que corre o risco de uma analogia, conduzindo talvez a assimilações abusivas, tenha-se prestado a objeções. Convém in troduzirmos algumas explicações. Já está claro que a própria idéia do pensamento inconsciente como tendo uma equivalência radical de todos os elementos (para Freud, as re presentações de coisa) reencontram-se exatamente com os significantes, que têm todos a característica comum de só existirem por sua diferença em relação a todos os demais. Quanto à transposição da condensação e do deslocamento para a metáfora e a metonímia, isso talvez pareça mais deli cado. E não se hesitou em basear na etimologia (com tudo o que pode ter de supérfluo tal consideração, se seguirmos Saussure) a objeção de que "me táfora" ( f.l eT a - .póp a) conviria tanto ao deslocamento quanto à condensação. Sem querer explicar, de fato, em que a interpretação de Lacan é plenamente justificada - e portanto corresponde bem ao que habitualmente recebemos como metáfora e metonímia nos exemplos mais clássicos, e ao mesmo tempo à teoria de Freud sobre os processos inconscientes (voltare mos a esse assunto a seu tempo) �. convém observarmos que, para com preender isso, deve-se introduzir a idéia de que o significante se apresenta para o próprio Saussure segundo os dois eixos, o da simultaneidade (Saus sure fala em relações paradigmáticas ou associativas, in absentia) e o da sucessão (relações sintagmáticas, in praesentia) . O significante, essencial mente linear, pertence pois a uma cadeia significante, onde um primeiro sig nificante precede um segundo. A metonímia será, portanto, a substituição de um significante de cadeia por outro (ou de toda a cadeia por um de seus sig-
teoria do inconsciente e discurso filosófico
49
nificantes). E a metáfora corresponderá, muito classicamente, à equivalência das diferentes cadeias significantes (aquilo que o sol é para a lua, o homem é para a mulher. . . ) . Naturalmente, ainda seria necessário precisar a relação entre significantes que caracteriza a cadeia significante, o que requer outras elaborações. Em todo caso, tal "metonímia" evidencia, por ora, uma relação de deslocamento do "investimento" entre termos coexistentes, e a "metáfo ra" supõe a superposição de elementos a que Freud visava com a conden sação. Também se poderia, sem dúvida, recriminar Lacan por um "formalis mo" ou um "logicismo", e então criticar a assimilação da representação in consciente ao significante. Notemos, antes de mais nada, que se tivésse mos que ler a dualidade freudiana da representação de coisa e da repre sentação de palavra nos conceitos �aussurianos de significado e signifi cante, o significante de Lacan não mais seria a representação de palavra, e sim a representação de coisa - o que é absolutamente necessário, de vez que o significante caracteriza o conteúdo do inconsciente. Se bem que, para Lacan, é possível distingúir os seguintes momentos: primeiro, o significante e a ordem do inconsciente; depois, o efeito de significado, isto é, o significado como efeito (que corresponde ao significado de Saussure); e por fim, o que resulta dessa imposição do significado, e que Lacan irá apresentar (voltare mos a isso muito detalhadamente) como a escrita, a letra (que é, de fato, o significante de Saussure). Sabemos da extrema importância desta última noção no pensamento de Lacan. E ele sublinhou que a escrita é a repre 4 sentação de palavra. 5 Quanto a Saussure, por mais prevenido que esteja acerca da escritura, ele afirma o mais estreito vínculo entre o significante como imagem acústica e a imagem dada pela escrita, com sua análise feita de acordo com os elementos diferenciais.46 Vemos assim a reorganização da configuração teórica saussuriana tal como é realizada por Lacan, a partir, é claro; de uma anterioridade do significante. E com a conseqüência de que o problema evocado mais acima, .sobre a posição da diferença pura na passa gem do significante para o significado, pode encontrar sua solução: o signifi cante em Lacan não é mais, como em Saussure, uma "representação", e portanto, uma "imposição" de alguma coisa (no caso, uma "palavra"); a pas sagem do significante para o significado é agora um ato de imposição em que o significante é aquilo que se impõe e o significado é aquilo que é im posto (não que imponhamos o significado, e sim que o que é imposto é o que é significado). Esse ponto reclama sem dúvida uma explicação, e é essencial. O sig nificante saussuriano é uma representação, como já foi dito, pois pertence ao signo e remete, portanto, ao ser-no-mundo e à temporalidade antecipató ria do mundo. O significante lacaniano, como vimos, é o inconsciente en quanto recorre a uma outra ordem que não o mundo - o sintoma, por exem plo. Assim, não pode mais ser qualificado de "representação", se quisermos
falar com todo o rigor. Ora, foi o rigor conceitual que Lacan introduziu na psi canâlise. Não que ele _faltasse a Freud: o termo "representação de coisa", para caracterizar os elementos do pensamento inconsciente, deve ser com preendido como uma tentativa inútil de inscrever nas estruturas intelectuais da época de Freud aquilo que não podia ser inscrito ali. Nesse sentido, Freud é realmente um descobridor e um aventureiro, que avança sem poder dar meia-volta sobre seus passos. É a partir dessas considerações que po demos compreender a tradução, evidentemente criticâvel quando se vai à letra dos textos freudianos e ao próprio pensamento de Freud, que Lacan deu ao termo Vorstellungsreprasentanz. Para ele, isso é o que faz as vezes da representação, o representante da representação (já que o significante depende de uma outra ordem, de uma outra temporalidade que não a da re presentação). Para os tradutores, é o representante (da pulsão) na ordem da representação, o representante representativo. Mas Lacan sustenta a des coberta de Freud ao assinalar a diferença entre o sujeito do inconsciente, aquele cuja causa é o significante, e o "sujeito" do ser-no-mundo, o único pa ra o qual pode haver "representações". E as características próprias da representação de coisa, tal como Freud a demonstra no inconsciente, encontram-se efetivamente no signifi cante. Pois sem dúvida poderfamos opô-la ao significante, pois ela estaria relacionada com uma coisa exterior, com o objeto transcendente, ao passo que o significante só reenviaria aos outros significantes. E é verdade, como veremos mais adiante, que o inconsciente, os elementos do pensamento in consciente vêm ocupar o lugar, ou melhor, circunscrever a hiância onde se situa o encontro faltoso com o Objeto, que Lacan irá chamar de a Coisa. Mas isso vale tanto para uma "representação" como para um significante. E o essencial, por ora, é sublinhar que a representação de coisa é tal, em si mesma, que tem um objeto inconsciente que faz com que o diverso sensível que a constitui tenha sentido, isto é, numa primeira aproximação, seja signifi cante para o sujeito. A dedução da existência do inconsciente a partir do lógico, portanto, é efetivamente realizada por Lacan. Não mais hâ necessidade de tentar a im possfvel verificação experimental. Uma dedução no sentido próprio do termo, inteiramente a priori. E o caráter sensível e material do significante não deve prestar-se a objeções. Trata-se de uma materialidade muito particular:47 que se deverá indicar com exatidão. Mas o que importa é que, com a análise de Lacan, ficamos fora de qualquer empirismo (e portanto, de qualquer fixação na idéia da verificação experimental. . . ). Pois o ser é para ele, de certa ma neira, conforme à linguagem. O significante é o próprio ser. E o inconsciente, por mais surpreendente que isso se afigure, supõe a dimensão de uma verdade fundamental. Mas nesse caso, não estaremos reencontrando a pró pria idéia da filosofia? De que modo o pensamento do inconsciente deve inter-
teoria do inconsciente e discursofilosófico
51
vir no domlnio da filosofia, em que medida ele é compatlvel com a filosofia e em que medida a toma fútil: isso é o que deveremos começar a examinar.
NOTAS 1 . E, "ILI", p. 523: "Isso que assim pensa em meu lugar será um outro eu? Será que a descoberta de Freud representa, no nlvel da experiência psicológica, a confirmação do maniquelsmo? Nenhuma confusão é posslvel, de fato: isso a que introduziu a pesquisa de Freud não foram casos mais ou menos curiosos de segunda personalidade. " 2 . M . Safouan, L 'échec du principe du plaisir, Paris, Seuil, 1 979, p . 33. 3. Veremos que não existe "mundo", e portanto, representação, sem que alguma coisa lhe escape. E que Lacan detennina como o real. É nesse ponto que se fundamenta a idéia de um objeto transcendente é representação, ou seja, por exemplo, a coisa-em-si de Kanl 4. O problema da articulação inconsciente- "consciência" só poderá ser abordado mais tarde. 5. Assim, no que concerne ao esquecimento do nome "Signorelli", é por desloca mento que se passa da cena em que se vêem a coragem e a resignação dos turcos da Bósnia, quando o médico lhes anun�ia o estado desesperador de um de seus pares, para a única resposta que formulam: "senhor, não falemos mais nisso. Sei que se fosse posslvel salvar o doente, o senhor o salvaria. " E é por deslocamento ainda que se vai dessa res posta apenas para a palavra inicial, "signore", que volta a ser encontrada no nome esque cido. Mas é por condensação que se constitui o nome de Bo11raffio, que remete a uma noti cia desagradável recebida por Freud em Trafoi, e novamente aos turcos da Bósnia e suas reações diante do infortúnio (cl. Psicopatologia da Vida Cotidiana). 6. E, "FCPL", p. 258: "O inconsciente é aquela parte do discurso concreto, en quanto transindividual, que falta é disposição do sujeito para estabelecer a continuidade de seu discurso consciente." 7. S. Freud, Metapsicologia, trad. francesa, Paris, Gallimard, 1 969, p. 67. 8. S, XI. 9. E, "DC", p. 598: "Também não se trata de que eu tome o Homem dos Ratos como um caso que Freud lenha curado, pois se acrescentasse que não creio que a análise não lenha tido nada a ver com a conclusão trágica de sua história, através de sua morta no campo de batalha, que não estaria eu oferecendo para difamá-la àqueles que pensam mal dela?" E isso com respeito a uma cura que Freud considerava bem-sucedida, consumada! 1 O. Cf. a desconfiança de Freud e mesmo sua repugnância por todas as técnicas da sugestão. 1 1 . Cf. E. Husserl, Recherches Jogiques, I, § 8, p. 4 1 , tradução francesa, PUF, 1 96 1 : "É que aqui [no discurso solitário! nonnalmente nos contentamos com palavras re presentadas, em vez de palavras reais. Em nossa imaginação, evoca-se um signo verbal falado ou impresso; na realidade, ele não 'existe' em absoluto . . . 12. S. Freud, Metapsicologia, trad. francesa, Gallimard, 1 969, p. 1 23. 1 3. E, p. 830. 1 4. S Freud, Metapsico/ogia, trad. francesa, Gallimard, 1 969, pp. 1 04- 1 05. 15. /bid. , pp. 75-76. 1 6. Talvez, ao contrário, tudo o que aparece, enquanto aparece, seja primeira mente da ordem do inconsciente (cl. uma "aparição" e o Unheimlich, in Essais de psycha nalyse appliquée, de Freud) (trad. francesa, Gallimard, "ldées", 1 971 ). 1 7. Fónnula a ser inteiramente banida, para Lacan. 1 8. S, XX, Encare, p. 35 e passim. [Ed. brasileira, p. 49 e passim. ] "
Lacan e a ftloscfo:z
52
1 9. E. Kant, Critique de ta raison pure, trad. francesa, Paris, PUF, 1 944, p. 1 1 O. 20. Cf. as análises de Henri Birault, Heidegger et l'expérience de la pensée, Paris, Gallimard, 1976, prólogo, pp. 10-43. 21 . Cf. Leibniz e a hierarquia das mônadas, cuja capacidade representativa é mais ou menos "justa". 22. E. Husserl, Recherches logiques I, trad. francesa, Paris, PUF, 1 96 1 . 23. Cf. G.W.F. Hegel, Encyclopédie, Fenomenologia d o Esp{rito, §§ 457- 456-459, trad. francesa, Gallimard, 1 970. 24. Veremos mais adiante o que é a interpretação da cura analftica, segundo Lacan. 25. Terceira, Lettres de /'Ecole freudienne, n2 1 6, novembro de 1 975. 26. Aquilo que é sintoma em relação ao mundo do sujeito pode perfeitamente (vol taremos a esse ponto ao falar da neurose) ser também um signo para o Outro (cf. S, XI, p. 1 44; ed. brasileira, pp. 149-50). 27. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, p. 32. 26. lbid. , p. 26. 29. lbid. , p. 26. 30. S. Freud, Metapsicologia, trad. francesa, Paris, Gallimard, 1 969, p. 1 1 6. 3 1 . F. de Saussure, Cours de linguistique généra/e, Payot, 1 976, p. 99. 32. lbid. , p. 32. 33. lbid., p. 1 55. 34. lbid., p. 1 55. 35. lbid., p. 1 44-145. 36. Cf. G.W.F. Hegel, L 'Encyclopédie, trad. francesa, Gallimard, § 456: "Ela [a intuição] como signo é uma imagem que recebeu em si uma representação autónoma da inteligência enquanto alma, sua significação." O signo é produto e o meio é a intuição. 37. Cf. a crrtica de E. Benveniste (Problemes de linguistique générale, Gallimard, 1 966) à "arbitrariedade do signo" (pp. 49- 55). 36. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Payot, 1 976, p. 1 61 . 39. lbid p. 1 62. 40. lbid. , Cap. IV, § 4. 41 . Donde a célebre tese da arbitrariedade do signo. 42. S, IX. 43. Cours de linguistique générale, pp. 1 67 - 1 66. 44. E, "PI", p. 835: "O efeito de linguagem é a causa introduzida no sujeito. Por esse efeito ele não é causa de si mesmo, mas traz em si o verme da causa que torna a fen dê-lo. Pois sua causa é o significante, sem o qual haveria sujeito algum no real. Mas esse sujeito é o que o significante representa, e não poderia representar nada senão para um outro significante: ao qual se reduz, portanto, o sujeito que escuta." 45. S, XVIII. 46. F. de Saussure, Cours de linguistique généra/e, Payot, Paris, 1 976, p. 32. 47. E, "La lettre volée", p. 24: "Mas se é primeiramente na materialidade do signi ficante que vimos insistindo, essa materialidade é singular em muitos pontos . . . . •
"
11 O C ampo Filosófico como Lugar onde
a Teoria do Inconsciente Ganha Sentido
11.
INTRODUÇÃO
A teoria do inconsciente não pode rejeitar repentinamente a filosofia. Mais adiante, teremos que demonstrar que a filosofia, por seu turno, pode e deve retomar a idéia do inconsciente, com tudo o que ela implica. Mas cabe esta belecer, por ora, que essa rejeição da filosofia pela teoria do inconsciente não é evidente e não poderia ser inicial. E isso porque, selfl dúvida, a filoso fia se dá como um discurso e surge confiando na potência própria do discur so. Já a idéia do inconsciente, enquanto aquilo que ultrapassa o mundo e sua ordem, impõe limites a tudo aquilo que depende do mundo, entre outras coisas, o discurso. Mas a própria teoria do inconsciente é um discurso. Se pretende ser rigorosa, deverá então explicar como se constitui algo como um campo do discurso. Ora, o campo do discurso é, em seu próprio princípio, inseparável da filosofia. Com efeito, um discurso se dirige àqueles que supostamente se colocam uma indagação. O discurso traz uma resposta. Mas, por definição, ele se opõe a outros discursos que propõem outras respostas. O objeto da indagação, portanto, não pode ser qualquer objeto. É preciso que a resposta não seja evidente e que constitua um problema. Um discurso supõe simulta neamente, naqueles a quem se dirige, o desejo de saber a resposta e de al cançar a verdade, mas também uma atitude fundamental de questionamento da verdade daquilo que pode ser dito pelos outros discursos, porém, mais profundamente, por qualquer discurso. Essa pressuposição não é outra se não a do questionamento próprio da filosofia. É o questionamento filosófico que abre o campo do discurso. Assim, esse campo P9(1e ser chamado de campo rilosófico. Mas será suficiente dizer que a teoria do inconsciente, na medida em que é um discurso, adquire seu sentido no campo filosófico? Poderíamos fri sar, de fato, que esse é o caso de qualquer discurso - por exemplo, do dis53
Lacan e a filosofia
54
curso político, ou do discurso trágico. É preciso distinguir as possibilidades fundamentais de respostas que o questionamento filosófico faz surgir, como os discursos originários e os discursos secundários que deles derivam. As sim, o discurso político baseia-se no discurso metafísico (cf. o que Lacan irá chamar "discurso do Senhor"). Ora, a teoria do inconsciente não está no mesmo plano que o discurso político; ela é também, como veremos, um dis curso originário. Exatamente como o discurso metafísico, ou o discurso em pirista, ou o discurso que chamamos propriamente filosófico, no sentido de que só ele assume plenamente a situação de questionamento constitutiva da filosofia (com o desejo de saber, de um lado, e de outro a contestação ante cipada de todo pretenso saber) . Bem mais do que isso, porém, a te.oria d.o inconsciente ocupa nesse campo filosófico um lugar único. Ela o fecha. Antes dela, faltava uma das p.ossibilidades que se deduzem d.o questi.onamento filosófic.o. Faltava, por is so mesmo, também a própria idéia desse campo. O caráter própri.o de sua estrutura, quaternária, será esclarecido nos próximos capítulos. Aquilo a que nos devemos ater no momento é o seguinte: .o apareciment.o da teoria do in consciente, proposta por Freud e aprofundada e precisada por Lacan, evi dencia o fenômeno e a estrutura do campo filosófico; para o discurso filosófi co, que assume totalmente o princípio desse campo, ou seja, o questiona mento filosófico, tal apareciment.o deve ser necessariamente qualquer coisa de absolutamente essencial. É da apresentaçã.o desse campo filosófic.o que nos devemos .ocupar agora. Veremos como a teoria do inconsciente, tal como o discurso filosófi co, conduz a uma afirmação do ser do homem como desejo. O que justifica rá nossa questão de uma assunção da idéia do inconsciente dentro de um discurso filosófico. Indiquemos com exatidão, antes de mais nada, em que consiste o questionamento que funda o desdobramento desse campo. 12.
A FILOSOFIA COMO QUESTIONAMENTO
A pergunta "que é a filosofia?" freqüentemente deixa sem fala aquele a quem é formulada, particularmente quando se trata de alguém yue se entrega comumente e desde longa data justamente a essa atividade que é a filosofia. E essa estupefação não deve ser explicada pela ignorância do que é a filo sofia, nem a partir da idéia de que a filosofia consistiria em interrogar-se sem trégua sobre o que é a filosofia. A hesitação inicial do "filósofo" prende-se ao outro. De que lugar ele formula essa pergunta? E como se deverá respon dê-la? A pergunta de um filósofo é conveniente agora, pode ela ser ouvida? Seria a pergunta uma "indagação filosófica"? Vemos portanto a dificuldade: aquele que formula essa pergunta espera uma resposta, mas, conforme o modo da pergunta, a resposta não poderá ser a mesma. É a própria essên cia da filosofia que está implicada aí. Assim, a primeira coisa a fazer, antes
teoria do inconsciente e discurso filosófico
55
de procurar determinar o objeto a que se refere uma indagação filosófica, é precisar as características próprias do ato que traz essa pergunta, isto é, do questionamento filosófico. Para começar, esse questionamento tem um objeto, assim como em toda pergunta, e esse objeto é o saber. Pergunto "onde fica o terminal?" e o objeto de minha pergunta é saber onde se localiza o terminal. Naturalmente, existem casos em que se conhece a resposta, como acontece com os exa minadores, mas podemos divertir-nos com aquele que não sabe e, de qual quer modo, não sabemos se o outro sabe. Assim, parece que a pergunta de ve ser formulada, em geral, àquele que sabe, ou pelo menos quem seja tido como podendo saber. É o que acontece com quem indaga sobre o que é a filosofia: parece normal que ele formule sua pergunta a alguém que seja re conhecido como filósofo, alguém que seja entendido em filosofia. É justa mente aí que uma dificuldade se apresenta. A filosofia é, sem dúvida, como quer a etimologia, tÀo - aoiPÍa , desejo e amor ao saber e à sabedoria. E pode-se aceitar a idéia de que aquele que formula uma indagação filosófica aspira ao saber. Mas "onde fica o terminal?" não parece, à primeira vista, uma indagação filosófica. Por quê? É que a filosofia de fato supõe uma certa intenção presente na própria pergunta, donde se pode dizer que ela constitui o pressuposto do questio namento filosófico. E uma indagação não poderia ser filosófica em si sem essa intenção. É o que acontece com a pergunta "que é a filosofia?" Diga mo-lo com clareza: a indagação enquanto filosófica pressupõe uma contes tação da resposta enquanto saber. Não que a própria resposta "possa eventualmente" ser contestada, por exemplo, se constatarmos que aquele que responde se atrapalha e que falta clareza à resposta. A contestação aqui é a priori, é um pressuposto do questionamento filosófico. E é preciso dar todo o seu peso a essa contestação a priori: a indagação filosófica, so bre a qual dissemos que tinha no saber seu objeto, de fato pressupõe que o saber é impossível, ou pe!o menos que existe - trata-se do ser - um preten so saber, um saber que não o é. A conseqüência então é que a indagação filosófica enquanto tal não poderia ser formulada àquele que sabe, ao mes tre. A filosofia é, antes de mais nada, contestação da mestria. Isso é o que efetivamente mostra o diálogo platônico, onde vemos Sócrates questionar justamente aqueles que se apresentam e que nós apresentamos como mestres - e fazer surgir a ausência efetiva do saber. Essa ausência do sa ber é radical; não se deve dizer que alguns podem saber ou que se poderá saber. No instante da indagação filosófica, o saber é radicalmente contesta do. Enquanto durar o questionamento, essa contestação se repetirá. Pode mos até dizer que a filosofia se caracteriza pelo fato de, nela, a indagação ter valor em si mesma, não pelo saber a que poderia conduzir, mas pela expe riência de não-saber que pressupõe. A indagação filosófica não é uma per gunta que se formule a alguém, mas uma pergunta que se formula a si mes-
56
Lacan e a filosofia
mo e, mais profundamente, que "se formula". O homem, enquanto aquele a quem a questão é colocada, é aquele que acredita saber. A indagação rom pe essa evidência. De maneira mais geral, o questionamento filosófico se firma sobre uma contestação daquilo a que devemos chamar a existência do bem. Dissemos antes que a dúvida diz respeito à resposta: de antemão, essencialmente, ela poderia não ser um saber verdadeiro. Mas tal dúvida supõe, de maneira bem evidente, que se tenha uma idéia do que deveria ser o saber (em outras pa lavras, a ciência), 1 e que se examine, munido dessa norma, o que vale - ou seja, em que consiste· - o pretenso saber. Trata-se pois da realidade efetiva de alguma coisa que seja conforme à norma, ao ideal. Em outras palavras, da existência do bem. Poder-se-ia argumentar que a contestação só se refe re ao bem particular buscado por aquele que questiona, ou seja, o saber. Mas é próprio da radicalidade do questionamento filosófico que, no instante da indagação, qualquer outro bem desapareça e que o saber seja o bem. É só assim que a confrontação com a falta do saber assume todo o seu senti do. Mas convém acrescentar que a indagação filosófica não se concebe isoladamente e que, para além do instante da pergunta, nenhum refúgio sub siste. O questionamento filosófico se caracteriza, portanto, pela exigência contraditória de um desejo do saber, de certa maneira "dramático", e de uma contestação a priori do eventual saber. Como se houvesse um saber que fosse preciso saber que não temos. Conhecemos a sorte do dito de Sócra tes: "Sei que não sei." Mas trata-se ainda assim de qualquer coisa de dife rente, não sendo a descoberta da ignorância, para Platão, senão uma etapa em direção à descoberta de que se sabia e de que não se sabia. O modo do questionamento filosófico, por conseguinte, parece uma terceira característica essencial. É um questionamento, e não apenas uma pergunta. Uma pergunta isolada não basta para constituir uma indagação fi losófica. A indagação filosófica deve ser repetida. Não a mesma, é claro, o que levaria a supor que a resposta não trouxe nada. Mas uma outra indaga ção, pertinente ao mesmo questionamento. Qual é, de fato, essa norma do saber com a qual a filosofia precisa confrontar a resposta? É a idéia de um saber perfeitamente demonstrativo. Ora, toda resposta é uma proposição que enuncia algo de um certo sujeito, que dá uma determinaÇão para esse sujeito. A contestação da resposta é uma dúvida de que o predicado conve nha ao sujeito, e portanto, dúvida quanto à possibilidade da síntese, da unida de do sujeito e do predicado. Para estabelecer essa unidade, é preciso de duzir a proposição de outras proposições. E a questão se repete até chegar às proposições primeiras, aos princípios. É essa ação de remontar aos prin cípios que está implícita no questionamento filosófico e que conduz à cepeti ção da pergunta, e é a partir dos princípios que se pode desdobrar o "discur so " filosófico. Essa ação de remontar, em sua exigência radical, inscrita no
teoria do inconsciente e discurso filosófico
57
questionamento próprio da filosofia desde a primeira indagação, caracteriza eletivamente a filosofia em si. Tais são as características próprias do questionamento filosófico que podem aparecer mais claramente. Conviria, é claro, indicá-las com precisão, e seremos levados a voltar a esse ponto para tentar responder a nossa questão fundamental sobre a relação entre a filosofia e o inconsciente. Por ora, basta assinalarmos que o questionamento filosófico conduz a duas pres suposições dificilmente conciliáveis: a dúvida sobre o saber, a contestação da mestria, de um lado,· e a busca do saber como o bem, de outro. É certo que es sas duas pressuposições terão um vínculo absolutamente essencial com o inconsciente. Isso só poderá ser plenamente explicado mais tarde. Por en quanto, é preciso determinar melhor a filosofia e o questionamento filosófico, atendo-nos ao elemento mais evidente de toda indagação, àquele a que ela se refere e que podemos novamente chamar de objeto, mas deixando claro que se trata do objeto da indagação, e não do questionamento como ato do sujeito. É que começamos pelos aspectos que poderíamos designar como formais , isto é, os aspectos que concernem, independentemente do conteú do da indagação, ao �to em geral de formulá-la - seus pressupostos e tudo o que a cerca. Mas o conteúdo e o objeto da indagação filosófica devem ser deduzidos desses aspectos formais. Qual é então esse objeto? Natural mente se pensa que a filosofia indaga sobre tudo o que existe, e é fato que quase não vemos nenhum domínio de objetos que escape à interrogação fi losófica. Mas a indagação filosófica, por mais que possa referir-se a qual quer "domínio objetai" no sentido das coisas que existem, tem um objeto próprio que há que determinar. 13.
q OBJETO DA INDAGAÇÃO FILOSÓFICA
O objeto da indagação filosófica é o ser. Ao dizer isso, não estamos de mo do algum tomando uma posição no campo filosófico. Se Heidegger está na origem de um sucesso particular desse termo no pensamento contemporâ neo, sua idéia foi explicitamente a de retomar a questão fundamental da filo sofia enquanto "pensamento do ser", 2 e nunca a de levantar uma nova questão. Mas é efetivamente certo que as respostas à indagação filosófica (a questão do ser) podem ter como conseqüência dissimular essa situação primeira, que aqui gostaríamos de tornar a trazer rapidamente à luz e que constitui a essência da filosofia. Em primeiro lugar, é sem dúvida preciso mostrar que a questão filosó fica tem um objeto próprio, um objeto no sentido próprio do termo. E se isso se faz necessário é porque, para muitos, a filosofia deve ser apresentada como uma reflexão sobre a atividade de conhecimento do homem, como uma epistemologia. De sorte que a filosofia não teria realmente um objeto,
58
Lacan e a .filosofia
mas diria respeito aos saberes - os quais, diversamente, teriam então obje tos. Essa é, por exemplo, a idéia de Wittgenstein, para quem a filosofia tem essencialmente como tarefa uma elucidação da linguagem, 3 graças à qual se poderiam evitar os falsos problemas - em particular os que a própria filo sofia levantou (e aqui reencontramos a tese empirista da inutilidade funda mental da filosofia). Essa tese da filosofia como teoria do conhecimento é com certeza totalmente justificável, que mais não fosse, em primeiro lugar, em se considerando o pressuposto próprio do questionamento filosófico se gundo o qual existe um saber ilusório. E mais genericamente, a indagação filo sófica pretende que a resposta a lhe ser trazida, e portanto o pretenso saber, seja ela própria contestada: "Será que é realmente isso?" "Essa resposta está em conformidade com a idéia do saber?" Efetivamente, a seguirmos a análise precedente, parece que a indagação filosófica já se refere ao próprio saber. Sem dúvida alguma. Porém tudo depende das conseqüências que se extraem dessa afirmação. Ou bem queremos dizer que a indagação tem como objeto o saber (o saber entre outras coisas), ou bem pretendemos que ela diga respeito ao saber, mas sem que ele deva em nada ser considerado como seu objeto (sob o pretexto, mais uma vez, de que somente o saber se refere ao objeto, e de que a filosofia não poderia de maneira alguma ser comparada a um saber). Mas isso não está contido no próprio questiona mento filosófico. Conhecemos, aliás, o uso feito por Hegel, na Fenomenolo gia do Espírito, 4 da identificação dialética entre o objeto do saber e o saber como objeto. Com efeito, perdemos o essencial da filosofia ao deixarmos de dizer que ela é, antes de mais nada, desejo de saber. A indagação filosófica tem um objeto, só que inteiramente determinado. Deduzamos esse objeto da exi gência formal do questionamento filosófico, pois a questão não poderia ser de fato "onde fica o terminal?" Percorramos toda a cadeia de razões até os princípios! Tínhamos evocado o desenvolvimento da demonstração sim plesmente porque a exigência demonstrativa está inscrita na indagação filo sófica. Logo de saída, todavia, o objeto é outro que não este ou aquele ente. Mas é certo que se trata de partir de um ente. Todo saber se refere a um ente, e sobre esse ente afirma uma certa determinação de seu ser, se não seu ser em geral. No caso do questionamento filosófico, sobre que pode ele buscar um saber? Se for sobre um ente, será preciso que o que se possa dizer dele dependa daquela determinação que a tradição filosófica chamou de essência do ente. E isso será necessário porque o saber deve ser de monstrativo. Poderíamos então dizer que o saber buscado pelo questiona mento filosófico é um saber que tem a essência como objeto? A resposta pa receria ser afirmativa, que mais não fosse, considerando que essa idéia da essência já separa a investigação filosófica daquilo que hoje se contempla sob o nome de ciência (e que, por definição, abstrai a essência). E a deter minação da essência remataria bem a idéia de um "conhecimento" de um
teoria oo inconsciente e discurso ftlos6jico
59
ente. Mas ainda é preciso, se quisermos atingir a demonstração perfeita, justificar que o ente de que falamos é efetivamente um ente. Aquilo de que partimos deve aparecer como uma unidade absolutamente evidente. Vá lá que se diga qualquer coisa ao falar de uma montanha, mas o que é uma monta nha não poderia ser evidente, a menos que "montanha" fosse uma determi nação originária. E supondo que devamos aceitar que existe efetivamente uma essência da montanha, ainda assim será preciso estabelecê-la a partir de uma determinação fundameotal do ser de tudo o que existe - a partir, por conseguinte, do ser em geral.5 Claro, se se tratasse de uma essência no sentido pleno do termo, o ente do qual ela seria a essência seria necessa riamente uno e se bastaria. Mas o questionamento filosófico, de qualquer maneira, deve conduzir ao princípio único. Assim, a afirmação de que existe tal ou qual ente só pode ser efeito de uma certa determinação do ser em ge ral. Pela qual convém começarmos. O objeto da indagação filosófica é o ser. E o ser é, com certeza, o ser do ente, o ser de um ente. Não falarfamos no ser, e a indagação filosófica não seria possível como· busca de um "saber", se não houvesse também o ente. Mas como conceber esse "também"? É preciso, neste ponto da análi se, que nos detenhamos por um momento. Surge uma dificuldade. Repita mos que, por mais que a questão do ser tenha sido recolocada enquanto tal por Heidegger, ela não foi explicitamente retomada por ele senão como a questão própria da filosofia. Simplesmente, a resposta que se dá a essa questão (e particularmente a relação que se determina entre o ser e o tempo, e à qual será preciso retornarmos muitas vezes) pode ter como conseqüên cia uma insistência na questão ou em sua relegação. Vamos mais longe: já falamos no conhecimento do ente através da determinação de sua essência, e portanto, a partir do ser em geral. Mas o termo conhecimento deve ser questionado, como vimos no § 7, caso justamente as relações entre o ser e o tempo se transformem numa certa direção. Sabemos que, tanto para Hei degger como para Lacan, o saber absoluto, objeto primário do questiona mento filosófico, é impossfvel. Há um excesso em relação ao "mundo", per manecendo o domfnio completo como mito. Daf as crfticas contra o sujeito do conhecimento. Se, como pensa Heidegger, o ser não é a presença dura doura do ente (e, nesse caso, o tempo seria uma ameaça a essa permanên cia), mas, ao contrário, é o advento do ente, o surgimento do ente na pre sença; se o ser é uma produção do ente, a questão do ser assume como tal uma importância mais decisiva. Mas enquanto, para o pensamento filosófico, o ente não surgir do ser (o ente é aquilo que existe, o ser como substantivo, e não corno verbo, e portanto o aspecto temporal está apagado nele), en quanto nos acharmos no registro da antecipação, do tempo antecipado, onde se antecipa a unidade do ente na qual o ser irá depositar-se (é o caso do mundo, onde se antecipa que "é uma ponte" antes que o ser do ente tenha aparecido na plenitude), a idéia de uma contestação radical do saber no
60
Lacan e afilosofia
questionamento filosófico não se marcará com tanta evidência. Heidegger 6 põe em questão a idéia do ser como fundamento ou razão, unicamente por que conceber o ser de uma coisa como aquilo que a fundamenta, que lhe dá razão, é remeter a coisa a uma antecipação, é fazer do real o "mundo" de Deus, de um Deus que prevê e que, portanto, situa-se fora do tempo real. Não que haja qualquer denegação do divino no pensamento heideggeriano, nem tampouco que a questão de Deus esteja resolvida. Mas conviria espe cificar essa tese para destacar o que é próprio da questão filosófica, que se refere ao ser. A unidade do ente seria dada como antecipável e fora do tem po (na idéia do ente divino tal como aparece em Aristóteles ou em Descar tes), ou como produzida pelo advento do ser, como em Heidegger. Mas justamente o que impressiona, particularmente na maneira como Heidegger aborda a questão do ser, é que o ser é sempre, apesar disso, o ser de um ente. A esse respeito, podemos assinalar que também a fenome nologia, inclusive a heideggeriana, faz com que desapareça uma das carac terísticas mais importantes da indagação filosófica, e que é aquilo a que po demos chamar sua perspectiva própria. A indagação filosófica tem o ser como objeto, é claro, mas na perspectiva de sua unidade. Melhor dizendo: a indagação se refere sempre ao ser-um do "ente" eventual. O ente não é, para retomarmos uma distinção clássica, aquilo que é primário para nós, en quanto o ser seria o que é primário em si, a pretexto de que o que é para nós, antes de mais nada, são os entes, as coisas que existem, apagando-se o próprio ser dos entes como tal, e devendo assim a filosofia fazer com que apareça aquilo que, por si só, tende a se apagar. A indagação filosófica é in separável da dúvida de que aquilo a que conferimos uma unidade ao falar do ente, de um determinado ente (a ponte), seja realmente uno. Para a fenome nologia - e, nesse plano, Heidegger parece haver permanecido absoluta mente fenomenológico ) , trata-se simplesmente, por mais difícil que seja is so, é claro, de deixar que aquilo que é apareça tal como é. Mas a indagação filosófica supõe uma contestação radical da existência do bem e, por isso mesmo, do ser-um daquilo que é. Expliquemos esse ponto. Como se apresenta o bem para aquele que procura o saber? Justa mente como o saber, como um "saber" que teria conformidade com a idéia do saber. Logo, como a determinação de uma proposição perfeitamente una, e de tal ordem que a dúvida não mais possa introduzir sua cunha entre os elementos da proposição. Ora, essa proposição não é algo que aquele que formula a indagação filosófica possa separar dele mesmo como uma "aqui sição", um "bem". Enquanto trabalhada e pensada por ele, ela é um modo de ser dele próprio. Um modo de ser caracterizável, justamente, como depen dente do bem. A determinação do bem que se deduz do questionamento filo sófico é pois; antes de mais nada e necessariamente, o um. Dar os termos plenitude e realização, que remetem novamente à idéia de uma unidade per·
teoria de inconsciente e discurso jilos6fico
61
feita do ente em seu ser. Nessas condições, podemos compreender que, se o questionamento filosófico supõe uma contestação da existência do bem, a questão enquanto indagação sobre o ser inclina-se para a questão do um, ou, mais exatamente, do ser-um. Antes de qualquer determinação possfvel do ser, liga-se à indagação filosófica uma incerteza radical quanto ao carãter desse ser, uno ou não. O ser é que constitui o problema. Sem dúvida, é o ser, e não o um, que é o objeto da indagação filosófica, mas não como objeto de uma investigação. E, na resposta à questão do ser, é a unidade ou não do ser que se considera, antes de qualquer outra determinação. Cabe afir mar que a filosofia só perdura enquanto se mantém esse carãter problemãti co do ser. A indagação filosófica só existe como tal quando nos encontra mos na presença de um objeto problemático. Se formulamos a pergunta "onde fica o terminal?", não existe, como se costuma dizer, "problema nenhum": ou ele fica perto, ou fica afastado; e a evidência sensfvel, até mesmo a medida, permitem decidir. No caso de uma disciplina cientrfica, fala-se efetivamente num "problema", diz-se que um problema se levanta. Mas o que é próprio de uma ciência é justamente esta belecer procedimentos que permitam determinar quais problemas poderão ser nela resolvidos, logo, quais problemas poderão ser ali levantados. O es tado de não-saber e de impossibilidade de decidir é o que a ciência visa a eliminar. Para a filosofia, ao contrãrio, parece que a confrontação do proble ma é a coisa essencial. Mais uma vez, não se trata de desprezar o desejo de saber presente na indagação filosófica, e a resposta que poderã ser dada a isso não há de se ater forçosamente a essa situação problemática. O que não impede que uma diferença se manifeste, a esse respeito, entre o objeto da ciência e o da filosofia (pelo menos em certo nível, caso se deva conside rar a incapacidade de decidi ? como inextingufvel na própria ciência, em últi ma análise - mas trata-se então de um limite da ciência no campo da ciên cia): o objeto da indagação filosófica é, de certa maneira, "essencialmente" problemático. Tal fórmula se afigura contraditória. Ela significa que só existe filosofia enquanto for comprovada a falta do saber, comprovada positiva mente - portanto, por confrontação direta. O ato da indagação filosófica comprova essa falta, também sem pretender que ela seja definitiva. O objeto problemático é o ser, na medida em que é reencontrado, antes de mais nada, naquele mesmo que questiona. Ele é essencialmente problemático, não por que o ser em geral deva permanecer assim, nem tampouco o ser daquele que questiona, mas enquanto perdurar o ato do questionamento. Ato que perderia todo o sentido se o problema desaparecesse. Ato que é a presença do problema. Teremos que nos deter nesse aspecto da filosofia quando se fizer ne cessãrio determinar verdadeiramente suas relações com o inconsciente. Por quê? Existe entre o sintoma e o problema um vinculo manifesto. Poder se-ia dizer que o problema existe quando o sentido das coisas no mundo
Lacan e a filosofia
62
é abalado.. Deparar com um problema não é deparar com uma dificuldade. A dificuldade concerne aos meios encontrados para se atingir um fim intangí vel. O problema se refere ao próprio fim. O problema manifesta o malogro da antecipação do sentido, e portanto põe em questão o mundo e o ser-no mundo. Se o sentido é, como dissemos no § 7, a unidade dada ao diverso sensível pelo sujeito, vemos claramente que a filosofia só aparece com a contestação da evidência do sentido das coisas no mundo, e que ela é, an tes de mais nada, uma indagação do ser como ser-um; compreendemos também que o sintoma, na medida em que reenvia a um processo que con testa o mundo, na medida em que supõe um sentido inantecipável (e por tanto, inconsciente), possa ser religado à filosofia, na medida em que esta depara com problemas que, na repetição de sua indagação, terá que se co locar incessantemente mais adiante. É nesse ponto que nos devemos inter rogar sobre a sub�mação e o trabalho próprio do questionamento filosófico, em sua relação com aquilo que a psicanálise denomina de trabalho do luto. Nesta análise do objeto da indagação filosófica, pareceu-nos que seria preciso nos apegarmos à idéia de um objeto essencialmente problemático, que só existe indagação porque a atitude fenomenológica não é suficiente. Devemos agora, portanto, deter-nos no que se pode chamar campo proble mático da filosofia, isto é, a diversidade de respostas possíveis à indagação filosófica. Que tal diversidade de respostas deve existir fica demonstrado ao considerarmos a indagação sobre o ser enquanto ser-um. O problema só existe porque todas as diversas respostas são possíveis. O fato de cada uma delas ter sido proposta por "filósofos", de, por isso mesmo, o caráter problemático do objeto não ser mantido para além de um certo ponto, e de, além disso, se constituírem "pensamentos" aparentemente "individuais", são coisas que não estão em questão por ora. Vamos constatar, de um lado, a possibilidade dessas diferentes respostas, e de outro, a realidade, na histó ria, do apego desta ou daquela pessoa a um tipo de resposta. E trataremos de determinar a estrutura desse campo. 14.
O DISCURSO COMO FORMA GERAL DA RESPOSTA
Qual é o caráter geral de uma resposta à indagação filosófica? Esse caráter deve decorrer daquilo que nos foi possível dizer a propósito do questiona mento filosófico. Antes de mais nada, uma resposta deve apresentar-se co mo um certo saber, já que o objeto do questionamento é o saber. Depois, deverá depender de uma contestação, ao mesmo tempo prévia e incessan te, do horizonte de tudo o que será dito, justamente do saber trazido por ela. Por fim, terá que se articular de maneira rigorosa e demonstrativa, porquanto a indagação filosófica não é isolada e o questionamento pressupõe sua re tomada até se chegar a um princípio primário. O caráter geral de uma res posta, então, é que ela aparece como aquilo que chamamos de um discurso
teurn i do inconsciente e discursofilosófico
63
Isso é o que vamos agora indicar com exatidão. Mas cabe assinalar de ime diato que, em razão da contestação inscrita a priori no questionamento, não poderia haver resposta que não estivesse numa relação com as outras res postas possíveis. Logo, deveremos determinar o elemento comum a todos os discursos e saber a partir de que, por análises e interpretações diferentes, eles divergem entre si. Esse elemento comum é a linguagem, na medida em que nos faz crer no ser-um daquele que é, e é também a verdade, caso a verdade seja a conformidade entre a linguagem e o ser. Mais além da apre sentação do discurso como tal, por conseguinte, há de insistir na origem do princípio fundamental de um discurso. Que é um discurso? Distinguem-se sem dificuldade o discurso român tico, o discurso histórico, o discurso trágico, etc., e o "discurso filosófico" pa rece colocar-se ao lado dos outros como um discurso entre os demais. Através dessa colocação em pé de igualdade, gostaríamos hoje de lutar contra a pretensão da filosofia de .fornecer o essencial de todos os discur sos. Mas haveria "discursos", trágicos ou outros, se não existisse antes, já não diríamos o discurso filosófico, mas ao menos a indagação filosófica? Haveria discursos se o questionamento próprio da filosofia não tivesse um campo problemático? Não há discurso sem problema. O discurso é, antes de mais nada, uma resposta que traz solução para um problema. Não podería mos conceber nem a tragédia nem o "discurso trágico" sem esse "proble ma", que o questionamento filosófico já deverá ter deixado surgir. O "nasci mento da tragédia" só é possível "na época da filosofia". E antes de se falar em distinção entre os discursos trágico, histórico e filosófico, cabe sublinhar que não haveria discurso sem a diversidade dos discursos filosóficos. É aí que está a distinção inicial. E nenhum discurso poderia existir isoladamente. Um discurso responde. Nesse sentido, o discurso filosófico não existe, havendo apenas os discursos filosóficos. Em sendo resposta, o discurso supõe a pergunta. Mas não necessá riamente de maneira explícita. É a situação em que se sustenta o discurso que contém em si mesma a pergunta. São aqueles "a quem o discurso se di rige" que podem pôr em dúvida, que já puseram em dúvida. E é a eles que se trata de convencer. Decerto a filosofia muitas vezes omitiu, ao falar dela mesmo como de um discurso, tal caracterização aparentemente extrínseca. Mas é preciso frisar que essa situação não é uma situação concreta da his tória efetiva. Se ela está, sem dúvida, numa relação absolutamente essencial com a história (cf. cap. VIII), ela é uma estrutura, unicamente uma possibili dade estrutural. O que não impede que, nessa situação inteiramente "lógica", sustentem-se discursos que constituem respostas a uma pergunta sempre filosófica, em primeiro lugar. O discurso é uma totalidade feita de enunciados (e de fórmulas diver sas de linguagem, mas que tendem todas a enunciados, já que o discurso é uma resposta a uma pergunta). Esses enunciados são reunidos pelo fato de
64
Lacan e a filosofia
que todos tendem ao estabelecimento da resposta à pergunta. Assim, en contramo-nos na ordem do significado, estritamente. O discurso é dirigido e deve ter um efeito, ·q ue é essencialmente o de convencer. Poderíamos dizer aqui que, de certa maneira, todo discurso é moral, pois visa a levar a agir de outra forma, ao introduzir princípios e fornecer as razões deles. Todo discur so diz: eis aqui o que deve ser feito. E todo "discursador" de fato aparece como moralizante. Mas aí é que estâ: na medida em que é moral, o discurso se caracteriza por sua impotência (e sua falsidade). E a moral não sabe o que fazer do discurso, pois o objetivo deste não pode ser o de que aqueles que o escutam modifiquem seus desejos, mas unicamente seus comporta mentos. De sorte que todo discurso, mais ainda do que moral, deveria ser considerado político. E a anâlise no sentido de arte do discurso, de arte ora tória, tem sido freqüentemente conduzida. E jâ se insistiu no fato de que o discurso supõe que se partilhe de princípios comuns com aqueles com quem se mantém um discurso. O que exclui, efetivamente, a "modificação" do ou tro. O problema do sedutor, seja ele político ou amoroso, é obter acesso àquilo no outro cuja única demanda é ser seduzido. E não haveria sedução possível sem incerteza, essa incerteza que o discurso como resposta vem apascentar. Se voltarmos à filosofia e ao discurso filosófico, logo veremos o para doxo: como resposta, o discurso vem sempre do mestre, daquele que sabe, e se dá como solução para o problema. Mas a filosofia suporia também, na medida em que levanta de imediato o problema e desenvolve um questiona mento, a contestação radical da mestria. Sabemos que Lacan irâ falar na fi losofia como o "discurso do senhor" (não que o discurso não esteja sempre numa relação de dominação, mas um certo discurso assume primordial mente essa posição). Mas ele sublinha, por outro lado, a especificidade da atitude socrâtica, na outra figura do discurso a que chama de "discurso da histérica". Convém nos interrogarmos sobre esse "senhor" que sustenta o discurso e sobre seu "saber", pois ao mesmo tempo sua dominação é um en godo (a contestação continua justificada) e, ao mesmo tempó, entrar no pa pel daquele que sustenta o discurso como senhor contém algo de positivo para o "sujeito" e produz um efeito absolutamente real sobre os outros. En tretanto, não se pode sequer dizer que aquele que o sustenta seja o sujeito do discurso. Há qualquer coisa de essencialmente anônima no discur so.8 Somos sujeitos da fala, e não do discurso. Mas é essencial saber se fa lamos em nosso nome ao fazermos um discurso (cf. cap. V). Os discursos do campo filosófiço dirigem-se a quem já está investido pelo questionamento filosófico e que, portanto, põe em dúvida o saber e a mestria. Também aí se trata de convencer através de argumentos e, final mente, por referência a princípios partilhados por aqueles que escutam.9 Mas é nesse ponto que se vai expor a diversidade conflitiva dos discursos. Es ses princípios, quais podem ser, de fato? Se considerarmos o próprio ques·
teoria do inconsciente e discurso filosófico
65
tionamento filosófico, que busca o saber e a verdade como sendo o bem. e se frisarmos que os princípios nunca passam de determinações daquilo que é o bem, veremos que, ao que parece, para todo "discurso filosófico", ver dade e saber são a referência e o princípio (e o discurso filosófico no sentido preciso do termo terá com certeza essa referência). Mas aí é que está: se afirmássemos a conformidade de tal princípio com a realidade, o caráter pro blemático do objeto da indagação filosófica desapareceria e não haveria mais os discursos no campo filosófico. A existência do ser como uno, e portanto do bem, tal como buscado pelo questionamento filosófico, é o que constitui um problema. Donde a diversidade dos princípios reais para os dife rentes discursos. Os discursos do campo filosófico são essencialmente respostas à questão do ser na perspectiva de sua unidade. Mas sua distinção enquanto discursos só se prende à diferença e à oposição de seus princípios funda mentais. E portanto, é apenas o aspecto da resposta pelo qual afirmam ou rejeitam a unidade do ser que estabelece a distinção entre eles, e não a de terminação exata que cada discurso efetivo pode dar ao ser. Assim, sua diversidade talvez pareça deduzir-se simplesmente da postulação ou não da existência do um. Mas, se falamos em "princípio", é no contexto da argu mentação do discurso, e portanto não pode tratar-se de afirmação pura. É preciso que se mantenha a forma da justificação, essencial a qualquer dis curso. O princípio deve ser, se não demonstrado, ao menos justificado, e aparecer como incontestável. Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista dos outros discursos, esse princípio "incontestável" deve poder ser criticado (da mesma forma, aliás, que é a partir desse princípio, ou antes, de sua justifica ção, que o discurso conduz a crítica dos outros discursos). Nessas condi ções, deve-se descobrir um mesmo lugar de onde se efetue a difração dos diferentes discursos. Esse lugar onde se concentra o caráter problemático do ser é a linguagem. Com efeito, que é que nos leva a crer no ser-um do ente senão a lin guagem? Em primeiro lugar, ao denominarmos ou designarmos alguma coi sa, reunimos numa unidade os diferentes aspectos dessa coisa, e pode-se dizer que lhe conferimos uma identidade ("a ponte", "Jacques", etc.), mas só existe identidade para aquilo que, ao menos sob certo ponto de vista, tem uma coesão interna, e portanto uma unidade. A linguagem nos faz supor entes que têm uma essência. Ao mesmo tempo, contudo (e esse movimento é muito bem descrito por Hegel no segundo capítulo da Fenomenologia do Espírito), a linguagem nos conduz a passar, além disso, ao ente particulari zado, à "coisa", e de fato nos situa no plano do ser em geral. Pois ela não enuncia o que é o ente particular como tal, quer não faça mais do que no méa-lo sem nada dizer dele, quer o designe por uma "propriedade" que de fato não lhe é própria ("ponte", no exemplo dado: há muitas outras pontes) e
Lacan e ajiUJsofia
66
que, sobretudo, não passa de um dos aspectos sob as quais ele pode ser considerado ("ponte", "elegante", "de pedra", etc.). Mas essa mesma pro priedade é colocada na linguagem como um modo de ser uno, congregando diversos aspectos: é a unidade da significação da palavra. Unidade, pois, de um modo de ser, porém não mais do próprio ser. A universalidade desse modo de ser (que não é próprio de um dado ente) faz então com que apare ça um - não mais a coisa de que se fala, porém o sujeito da fala. É ele que é um através da diversidade dos entes que designa por uma mesma proprie dade. Mas o que ele enuncia articula-se de tal maneira que diversos modos de ser são imputados ao mesmo ente (a ponte elegante de pedra). A unidade do sujeito em . sua fala é pois inseparável da unidade do objeto. Mas o "obje- . to" não mais pode ser, de fato, tal ou qual ente particular, que ultrapasse a universalidade da linguagem. Os "entes" estão sempre em relação entre si, e a linguagem, por conseguinte, visa apenas - diversamente, sem dúvida ao único que é o ser. A linguagem unifica e faz com que tudo apare.ça como um. Efetivamente, é preciso sublinhar aqui que, a nos atermos à linguagem pura, 1 0 nenhuma diferença pode assumir valor ontológico. E se formos leva dos a afirmar que o discurso filosófico no sentido estrito do termo prende-se a uma dada diferença, à separação (do sujeito, por exemplo, enquanto de sejante), isso só poderá ser feito esquivando-nos da unidade absoluta do ser implicada pela linguagem. "Ponte", "Jacques" e "de pedra" são aspectos do ser, que têm tão-somente uma unidade relativa, já que só podem existir em relação uns aos outros em qualquer sistema da fala e da linguagem. A linguagem supõe assim o ser-um daquilo que é. E a diversidade das respostas dependerá da linguagem e da análise a ser feita dela. Poderemos sublinhar a conformidade entre o que a linguagem pressupõe nas coisas e o que elas são de fato. Poderemos também, como os empiristas, insistir na distância radical entre a linguagem e o ser. Voltaremos a esse ponto. Mas essa conformidade entre a linguagem e o ser, em relação à qual todo o pro blema inscrito no questionamento filosófico é saber se ela existe, não é, tra dicionalmente, outra senão a verdade. Assim, é na afirmação da existência ou não da verdade que se fundamentam os diferentes discursos que àgora nos cabe apresentar.
15.
A FSTRUTURA QUATERNÁRIA DO CAMPO FILOSÓFICO
Recordemos como se apresenta o questionamento filosófico, que demons tramos ser uma situação verdadeira, além do ato de simplesmente formular a pergunta. De um lado, o objeto do questionamento, aquilo que nele é deseja do: o saber. De outro, uma contestação a priori do saber, e portanto a idéia de algo de essencialmente ilusório no saber. Aquilo que caracterizamos, ao falar no "problema", como o abalo da evidência do mundo em que vivemos.
teoria do inconsciente e discurso filosófico
67
Essas duas exigências se afiguram tão decididamente contraditórias que não parece possível falarmos numa resposta mais evidente do que outra. Se nos prendermos à contestação, ao caráter crítico do questiona mento filosófico, encontraremos a resposta que se pode qualificar generica mente de empirismo. Sem dúvida, o empirismo, no sentido preciso do termo, reenvia a uma certa época da história. Contudo, mais do que outros fenôme nos análogos quanto ao que nos concerne, como o positivismo, a sofística e o materialismo, 1 1 ele corresponde exatamente ao modo de discurso que é necessário caracterizar, porque a experiência é, com toda certeza, aquilo que se opõe ao a priori da lógica e da linguagem em geral. Para o empirismo em seu sentido lato, por conseguinte, não existe verdade. A unidade que a linguagem confere às coisas não é de modo algum uma unidade real, mas fictícia, imaginária. O empirismo é essencialmente nominalista, no sentido de que a unidade das coisas é apenas nominal. Damos o mesmo nome a uma coisa e acreditamos, por causa disso, que ela é uma em seu ser. Por exem plo, é o caso de uma cidade inteiramente reconstruída e que não mudou de nome: 1 2 de certa maneira, pensamos que é sempre a mesma. O discurso empirista decerto decorre do caráter crítico da indagação filosófica, porém, mais profundamente, faz incidir sua crítica na própria inda gação. Para ele, não existe nada a desejar, nem mesmo o saber. Não que o desejo nos faça conceber perfeições ilusórias, mas o próprio desejo é uma ilusão. Pensar o ser como desejo é supor que se deva, para explicar os fe nômenos, fazer intervir uma perfeição, uma plenitude (a que é buscada pelo questionamento filosófico). Pois desejar é, efetivamente, tender para alguma coisa, e por isso mesmo, se se permanecer nas mesmas condições, expe rimentar a falta dessa coisa; mas pressupõe, além disso, que o estado a ser trazido pela apropriação dessa coisa seria a plenitude. O desejo valoriza aquilo que ele deseja. Daí a idéia de que o desejo é essencialmente desejo · do infinito, desejo metafísico. Poderíamos dizer, em contrapartida, que para o empirismo existem apenas necessidades. Faltam-nos apenas objetos que não têm sentido nem valor em si mesmos. Nessas condições, formular a indagação filosófica é, afinal de contas, lograr-se. E a filosofia só pode ser "salva" na medida em que se dedique a livrar o homem das ilusões que ela mesma produziu. Nesse nível, ela pode permanecer útil e corresponder a uma necessidade. Mas devemos aqui me dir a dificuldade intrínseca do discurso empirista. Para ele, o pensamento enquanto coerência perfeita do discurso é impossível. O discurso, na medida em que supõe uma argumentação, uma verdade e uma concordância fun damental entre aquele que o sustenta e os que o escutam, introduz-nos no próprio domínio da ilusão. O discurso empirista é, portanto, um discurso intei ramente consagrado a afirmar a impossibilidade do discurso. Reencontra ríamos a mesma dificuldade se considerássemos este princípio fundamental:
68
Lacan e a filosofia
para ele, aquilo que os homens buscam e, em geral, tudo o que é, não são nem o saber, nem a verdade, mas o prazer - e no entanto, é efetivamente preciso, para justificar o próprio discurso empirista, que seja importante para os homens saberem que é esse o bem para eles: n�o fica imediatamente evidente que é o prazer que eles buscam quando escutam o discurso empi rista e se atêm a sua demonstração. Esse discurso ernpirista é, logo de saída, entre os sofistas gregos a quem Platão se opôs incessantemente, um discurso que contesta a lei e, de qualquer modo, o valor ab'soluto da lei - seja para criticar a idéia dela, seja para deduzi-la do interesse e da utilidade (como faz, antes de mais nada, Rousseau, cujo pensamento complexo recorre tanto ao discurso metaffsico, do qual iremos falar, quanto ao discurso empirista), seja ainda para ater-se à lei positiva, sem considerar a verdade que ela pressupõe. Essa contestação é compreensível, se pensarmos que a lei determina de antemão o que existi rá num "mundo", ao passo que o discurso empirista afirma o carátar ilusório do mundo como um todo organizado onde as coisas ganham sentido. Ele considera o surgimento da indagação filosófica, a dúvida quanto à evidência do que teria sentido no mundo, mas seu paradoxo está em só se situar no plano do rigor demonstrativo para sublinhar de imediato os limites dele (e até mesmo sua futilidade, caso sigamos Wittgenstein, que só atribui rigor à lógi ca vazia). Se, ao contrário, considerarmos o objeto do questionamento filosófico e enfatizarmos que o caráter fictício do objeto tornaria inútil o próprio questio namento, seremos conduzidos ao discurso que chamamos de metafísico. Para ele, aquilo que é buscado pelo questionamento filosófico existe, há uma verdade para tudo o que é; poder-se-ia dizer que as coisas são feitas para que o homem as pense. Mas afirmar que há uma verdade para tudo o que é tem como conseqüência que falar em "coisas" particulares não pode ser se não um passo além de onde se deve ir. A tese central do discurso metafísico é sempre estabelecer que tudo encontra sentido no Todo, de sorte que, de fato, tudo é um. Assim, nada é verdadeiramente, senão o Todo. O ente parti cular é ilusório, ou, mais exatamente, apenas 'o ser é ente. Já vimos , ao apresentarmós o objeto da indagação filosófica, que a questão do ser leva a ir além da evidência inicial do ente. Mas sem que esse ultrapassamento seja definitivo. Simplesmente, se o ser é absolutamente um em todo "ente", se tudo tem uma verdade, não há mais nada que possa justificar uma distin ção entre este ou aquele "entes". E assim se chega à fórmula segundo a qual tudo é um. Com relação ao abalo do "mundo" que é suposto pelo questionamento filosófico, o discurso metafísico afirma que efetivamente existe um mundo onde o real vem se inscrever e assumir seu sentido. O mundo é o Todo, e é nele que se compreende e, portanto, se justifica tudo o que é. O discurso
teoria do inconsciente e discurso filosófico
69
metatrsico é o discurso totalizante sobre o qual se assenta todo o discurso polrtico, enquanto essencialmente justificador, e a a fortiori toda a ideologia. Dentro de uma perspectiva em que se tratasse de insistir no valor absoluto do indivíduo (de sua liberdade, ou de seu desejo, por exemplo para Lacan) contra o "sistema" e a idéia de um mundo perfeitamente ordenado e onde tu do é previsto, poder-se-ia dizer do discurso metaffsico que ele é o discurso "totalitário". É ele que coloca de maneira radical a onipotência do discurso, e é contra ele que Lacan irá afirmar que "não existe universo do discurso". De fato, a teoria do inconsciente faz surgir algo que ultrapassa o mundo e sua organização. Para além da ordem característica do mundo, ela mostra o princfpio que impõe essa ordem; mostra portanto o comando, a "ordem" ex pressa do significante, onde se descobriu o lugar do inconsciente. Mas o discurso metafísico faz com que desapareça esse ponto cego do mundo: o ' significado estâ ali, certamente não produzido como efeito de algum signifi cante e a I' 'ap xrí como princípio não supõe mais nenhuma 'ap x'ri como comando. Em seu rigor, esse discurso só pode recusar a indagação filosófica, que instala o sujeito numa situação de dúvida e o confronta com problemas. Que assume, portanto, o abalo do mundo como um fenômeno essencial, que não se prende ao "mundo" em que vivemos, mas ao mundo em geral. De fato, na concepção metafísica, tudo é verdadeiro, uno e perfeito. Assim, a in dagação filosófica tem valor apenas para o homem e para fazê-lo Elescobrir a ilusão de saber em que vive, e que é uma ilusão de ser. Para fazê-lo desco brir o lugar onde já "estava" sem que o soubesse, isto é, o Todo, o mundo. Mas a indagação filosófica não tem valor em si, e o desejo como tal não tem então consistência ontológica. Pois sem dúvida podemos falar, quanto ao discurso metafísico, em graus de perfeição, desde que as coisas sejam iso ladas umas das outras. O homem teria, assim, mais ser do que um seixo. Mas não existe nada em si senão o Todo. E do ponto de vista do Todo, tudo é de fato igualmente "perfeito". Nada tem ser senão o ser, e é somente por abs tração que falamos em "coisas". Nada, portanto, pode se aperfeiçoar, já que o que poderia ser aperfeiçoado teria que ser algo que é, que somente o ser é, e que o único ser é por definição perfeito. O questionamento filosófico, de vez que supõe que nos atenhamos a uma situação de imperfeição radical (posto que, ao mesmo tempo, o saber é o bem e se afirma sua ausência incontor nável e sua possessão ilusória), não pode ter lugar em tal discurso. E isso porque, para o questionamento filosófico, podemos dizer que as coisas de veriam ser diferentes do que são, ou pelo menos ser diferentes daquele que questiona. Tal tormento não tem verdade para o discurso de que falamos. Justamente porque aquilo que carece de plenitude em si encontra seu senti do no Todo. Já o questionamento filosófico reclama um sentido em si mes mo, naquilo que supõe de recolhimento em si e de confrontação com o con tra"senso.
70
Lacan e a .filosofia
Esse discurso encontra sua forma perfeita, ou talvez possamos dizer, seu paradigma, no pensamento de Parmênides, cujo célebre Poema começa pela descrição de uma iniciação na verdade, de uma revelação, à qual Pia tão irá opor a dialética e o que ela pressupõe de contestação radical do sa ber. Àquele a quem a revelação é feita compete o saber. Ele viu, ele sabe. A partir daí, duas teses podem aparecer como caracterizadoras da concepção parmenideana (e valem para o discurso metafísico em geral): (1) "O ser é, o não-ser não é", o que significa que não se pode conceber o erro, o mal (co mo explica Platão em O Sofista onde critica a teoria de Parmênides), que, por conseguinte, tudo é "identicamente" e, por fim, que tudo é um; (2) "Pen sar e ser são a mesma coisa", o que quer dizer que o ser de tudo o que é (mas não existem "entes" diferentes, e apenas o ser é) consiste em pensar; essa afirmação é capital: de fato, que é o ser-um para o questionamento filo sófico? É aquilo que ele busca, a presença garantida de um saber rigoroso, é o fato de pensar aquilo que se enuncia como resposta: o ser-um é o pen sar. Essa tese é conhecida como afirmação especu/ativa, ou seja, a identi dade especular do ato de pensar e de seu objeto, o ser. Mas sabemos que a primeira contribuição de Lacan à teoria psicanalítica consistiu numa reflexão sobre a significação da relação do homem com sua imagem no espelho. A identificação com a imagem especular é, para ele, aquilo que dissimula para o homem a realidade do contra-senso radical e a ausência do um. Quando nos interrogarmos, a partir da análise de Lacan, sobre a possibilidade efetiva da filosofia, será preciso vermos como ligar essa afirmação incontornável da identidade especulativa e a presença do contra-senso radical que é insepa rável do inconsciente e do desejo. Esses elementos valem para todo o discurso metafísico e, em espe cial, para o pensamento de Heráclito, muito facilmente oponível a Parmêni des. No que concerne às diferenças de determinação do ser, a identidade de discurso é a mais importante. Também para Heráclito existe um Logos que ordena a totalidade daquilo que aparece. 13 E também para ele só existe real mente esse ser-pensar, mas na medida em que não deixe de se produzir em figuras que passam, em "entes" sem consistência verdadeira, sejam eles 4 deuses ou homens � A mesma dificuldade aparece aqui: não existe nenhu ma diferença verdadeira. E isso levará Bergson a contestar a linguagem em geral enquanto recorta e decompõe o que é um. O parmenidismo é, de certa maneira, o que mais gravemente ameaça o questionamento filosófico. Mais gravemente porque é uma ameaça que vem do próprio cerne desse questio namento, já que a idéia do discurso é ar aparentemente mantida: o pensa mento é não apenas possível, mas real. Posto que o objeto do saber e o sa ber como objeto aí se manifestam. Mas o que falta novamente é, como no discurso empirista, o desejo presente no ato do questionamento. Oito de ou. tra maneira, aquele que questiona detém-se nessa situação de questiona mento. Há uma positividade dessa situação em que, sem que o saber e a ,
teoria do inconsciente e discurso filosófico
71
plenitude sejam atingidos, desenrola-se a contestação radical do saber. Um discurso dessa natureza, que não assume a situação própria do questionamento filosófico, não pode ser chamado "discurso filosófico". E pa receu-nos que a denominação "discurso metafísico" era a que lhe convinha. Pois a metafísica é, tradicionalmente, o conhecimento para 6 qual tende· o questionamento filosófico. E falamos em princípios, no sentido pleno do ter mo, como "princípios metafísicos". O discurso metafísico é a metafísica co mo ciência, aquilo mesmo cuja impossibilidade Kant pretendeu demonstrar. E é desse discurso metafísico, freqüentemente confundido com a própria fi losofia e com o discurso que chamaremos filosófico, que Lacan, acreditando falar da filosofia, irá oizer que é o "discurso do senhor". Mas é certo que, tanto para o discurso metafísico quanto para o discurso filosófico, é verda deira a tese citada ftOr Lacan no seminário XX, Encore (Mais, ainda), segun do a qual "há Um". 5 A diferença entre os dois discursos, todavia, é essen cial. Somente um discurso para o qual seja preciso destinar um lugar no contra-senso radical poderá ser chamado de "discurso filosófico". É a tercei . ra resposta que pode ser encontrada no campo filosófico. Há, sem dúvida, uma grande proximidade, mas também uma separação muito nítida entre es se discurso e o discurso metafísico. E para ir contra a confusão entre um e outro, é necessário marcar de imediato e nitidamente a diferença. O pensa mento de Platão parece-nos ilustrar perfeitamente o discurso filosófico, e no entanto os neo-platônicos (como mestres eminentes do discurso metafísico em sua forma desenvolvida) basearam inteiramente suas concepções numa leitura de Platão: sublinharam todos os aspectos místicos de seu pensa mento e propuseram um sistema suntuoso em que o homem pode tomar co nhecimento de tudo o que é como constituindo um mundo no sentido mais exato do termo, segundo um desdobramento (uma "procissão") a partir de l!m inefável. Mas não parece que, interpretando Platão dessa maneira, dei xemos verdadeiramente surgir seu pensamento. Tanto para Platão quanto para o discurso filosófico em geral, que só pode vir depois do discurso meta físico, pois é uma "correção" dele, há sem dúvida uma verdade, como quer o discurso metafísico (como realização do desejo incluído no questionamento filosófico), mas é preciso também pensar o questionamento como contesta ção, como situação em que o desejo não é de modo algum experimentado como preenchido, mas, ao contrário, confronta-se consigo mesmo. Pensar, portanto, o desejo puro. De um lado, a verdade que se pode chamar total, do pensamento realizado, e de outro, a verdade parcial do desejo. A oposição de Platão a Parmênides se dá nesse plano radical. Platão consagrou a ela diversos diálogos, como o Parmênides e o Sofista. Para Platão, o desejo não é uma situação transitória. E o mesmo se aplica ao er ro. Há que pensar o mal, o negativo, que vimos não existir para Parmênides,
72
Lacan e a ji/Qsofia
pois só se pode dizer e pensar o um. O que poderia aparecer como a pre sença do mal e do sofrimento, do ponto de vista do indivíduo singular, se desvanece diante do Todo. Sabemos que também Descartes, ao querer conceber o erro na quarta Meditação, teve que ir além dessa idéia metafísica e frisar que o erro é uma privação para o homem, e não simplesmente a au sência âe uma perfeição, que de modo nenhum lhe seria devida (ausência eventualmente preferível no plano do universo). Pensar o mal só é possível no desejo: o mal, então, não é mais um mal absoluto, necessariamente im pensável, mas continua a ser um mal radical, já que a situação de desejo é tomada em sua consistência ontológica própria; aquele que deseja perma nece simultaneamente em relação com o bem, porquanto deseja, e separado desse bem (donde o mal radical), porquanto não se apropria do objeto de seu desejo. No pensamento platônico, essa consideração do desejo e de sua verdade parcial é central. O Banquete consagra a ela sua meditação. E o desejo ali é inseparavelmente ligado ao próprio questionamento filosófi co: 1 6 "Não há deus que se ocupe de filosofar, nem que tenha vontade de adquirir o saber (pois o possui). Mas, por seu turno, tampouco os ignorantes se dedicam a filosofar, e não têm vontade de adquirir o saber. Aquele que não pensa ser desprovido não tem desejo daquilo de que não crê ter neces sidade de ser provido - nessas circuntâncias, quem são, Diotima, os que se ocupam de filosofar, já que não são nem os sábios, nem os ignorantes?. . . São o s intermediários entre uma e outra espécie, e Eros é u m deles .. É ne cessário que Eros seja filósofo e, enquanto filósofo, intermediário entre o sá bio e o ignorante." Eros, o desejo sexual enquanto modelo de todos os de sejos, representa o estado filosófico por excelência. O questionamento filo sófico, em vista de ao mesmo tempo buscar o saber e contestá-lo radical mente, a priori, deve conduzir à concepção da verdade parcial do desejo. E isso no próprio nível da linguagem. Daí a teoria platônica da opinião (que é, como Eros, um intermediário entre a ignorância total e o saber verdadeiro), que Lacan irá retomar, como lugar da presença do desejo, no início do semi nário 11.1 7 O essencial para todo discurso filosófico continua a ser, ao mesmo tempo que a afirmação do um, essa apreensão da verdade parcial, do dese jo. Apesar disso aqui se encontraria uma dificuldade intrínseca: como articular verdade parcial e verdade total? Se existe verdade total, se o saber abso luto é possível, é preciso que o próprio desejo tenha um sentido no Todo mas, nesse caso, poder-se-á ainda falar numa verdade parcial? Ou haverá efetivamente uma outra verdade total que não o saber absoluto? .
.
A consideração do pensamento platônico nos permite ao menos res ponder melhor a uma dificuldade inscrita na idéia de um campo de discurso aberto pelo questionamento filosófico. Essa dificuldade é a seguinte: como são possíveis análises opostas do fenômeno da linguagem que sejam igual-
�orlo do inconsciente e discursofilos6fico
73
mente justificadas e verossímeis? Sem a legitimidade de tais interpretações ópostas, é diflcil ver como cada um dos discursos do campo filosófico possa ter consistência e reclamar para si uma "objetividade", apesar de necessâ ria. Mas a anâlise de Platão mostra como tudo isso é possfvel: o qUe ele afirma como principio é de tal ordem que ele fica isento a priori de estabele cê-lo demonstrativamente contra o empirismo, ao qual entretanto se opõe. De fato, para o empirismo, em que consiste o que "é" senão no real sensfvel espacial e temporal? Por exemplo, no plano da linguagem, o fenômeno sono ro dos fonemas que se sucedem no tempo e são enunciados num lugar do espaço. Para ele, a unidade do nome prende-se ao recorte inteiramente hu mano num fluxo sonoro estranho a qualquer princfpio interno de unidade. Pa ra Platão, inversamente, o que é é a essência, aquilo que é fora do tempo e do sensfvel. Na linguagem, é a significação visada. Mas não, além disso, no sentido em que o ato · da visada a projetaria, o que já seria temporal. Platão não é Husserl nem Heidegger. Para ele, o "ato da visada significante do su jeito" não faz mais do que reencontrar uma essência que já está sempre presente (contemplada num ato de pensamento que é, ele próprio, de fato subtraído ao tempo) , assim como o saber, segundo a célebre fórmula do Fé don e do Menon, não é mais do que Lm relembrar-se. Nessas condições, a demonstração platônica situa o ser-um numa ordem tal que o empirista não poderia ser convencido, ele que se prende àquilo que é sensível. A lingua gem, tal como analisada por Platão e pelos sofistas, permanece efetiva mente a mesma: um fenômeno sensível e temporal, sem unidade. E o que é acrescentado por Platão para captar o sentido da linguagem humana, a síg nificação, é considerado pelo discurso empirista como uma ficção produzida justamente pela linguagem, cujo carâter de meio, afirmado por Platão, teria sido insuficientemente sustentado. São duas interpretações do fenômeno lingüístico que continuam conciliáveis no nfvel do objeto, portanto, e cujos ·aspectos demonstrativos éontinuam a ser petições de princfpio. De sorte que a coexistência, se não a significação das diversas respostas, continua a ter fundamento. Todavia, não se pode excluir em definitivo uma demonstração de que existe o ser-um, se ao menos - como tentaremos mostrar - o tempo e o sensível em geral puderem ser incluídos na idéia do ser como ser-um. Isso não impede que, antes dessa tentativa, devamos reconhecer que o ser como ser-um e o tempo foram decididamente separados pela reflexão e pelo discur so filosóficos. De qUalquer modo, e supondo-se que fosse possfvel uma de monstração de tal ordem que, se não convencesse os empiristas, ao menos se situasse no mesmo plano que eles, a diversidade das respostas poderia persistir, na hipótese de que houvesse nessa diversidade uma significação além da simples consideração "objetiva" dos fenômenos. Mas se a apreen são do ser em sua verdade precisa continuar a ser o essencial para o ques tionamento filosófico, nem por isso o campo filosófico como campo de dis-
74
Lacan e aftlo.wjia
curso é inseparável do questionamento filosófico. E veremos que não é no nrvel do discurso, mas fora de seu contexto, que tal demonstração pode ser efetuada. Se considerarmos agora a estrutura do campo problemático da filoso fia, talvez as seguintes respostas devam ser deduzidas: (1) não existe ver dade; (2) existe uma verdade total; (3) existem uma verdade total e uma ver dade parcial. Resta, logicamente, uma quarta resposta possrvel, segundo a qual existe efetivamente uma verdade, mas unicamente uma verdade par cial. Essa seria uma teoria para a qual haveria efetivamente o desejo, mas nunca o objeto do desejo. Sem dúvida, tal teoria reencontraria o fenômeno da contestação radical do saber, tal como implicado no questionamento filosófico. E ao mesmo tempo, a idéia, se não do desejo de saber,1 8 ao menos do desejo em geral. Mas como conceber o desejo sem o objeto do desejo, se, como diz Emmanuel Lévinas, é o desejado que faz surgir o desejo como uma pos sibilidade de ser antes ignorada?1 9 E como pode um desejo sem objeto sus tentar-se como desejo? Mais ainda, como conceber a unidade do ser, a ver dade parcial, sem a verdade total? E será que a "verdade" na verdade par cial do desejo não torna a remeter a algum efeito, alguma sombra trazida pelo próprio objeto (tal como, em Platão, o desejo provém do ter conhecido antes do nascimento o esplendor das Idéias, e a opinião prende-se a algum saber de "que a verdade existe")? Na verdade parcial, não serã totalmente Verdadeira a própria verdade? A despeito dessas objeções, é preciso afirmar que o pensamento de Lacan, e portanto a teoria do inconsciente, assume essa quarta possibilidade sob o nome de discurso analt1ico. É essa quarta resposta que apresentare mos agora e que situaremos mais exatamente no campo filosófico onde ela adquire sentido. 16. O DESEJO SEGUNDO LACAN: REAL, IMAGINÁRIO E SIMBÓLICO
O pensamento de Lacan só adquire sentido ao voltarmos ao próprio funda mento do campo problemático mais original, que é o da filosofia. Nesse cam po, o "discurso analítico" - como Lacan nomeia a teoria do inconsciente tal como retomada e aprofundada por ele - aparece como uma resposta abso lutamente particular à questão do ser e da unidade do ser. Uma resposta úl tima, que permite concluir a descrição estrutural do campo filosófico. É uma teoria segundo a qual existe apenas a verdade parcial, uma teoria do desejo puro. Cabe-nos agora mostrar como ela é deduzida a partir daquilo que dis semos da concepção lacaniana do inconsciente. Veremos que a cadeia sig nificante, a articulação temporal de um significante com outro significante, é a própria presença do desejo. Depois de explicarmos em que se trata efetiva mente do desejo, indicaremos com precisão as caracterfsticas desse desejo
teoriD do inconscie111e e discurso filos6jico
75
preso na cadeia significante, e do qual já dissemos que falta o objeto abso luto (não há verdade total): é nesse ponto que se justificará a célebre distin ção lacaniana do real, do imaginário e do simbólico. De que modo essa presença do signficante pode conduzir à idéia do ser como desejo? Assim podemos resumir a argumentação: se há algo sig nificante para nós, esse "significante" tem sentido; ora, aquilo que tem senti do é o que é desejável. O significante é, portanto, o desejável. Mas devemos · reconhecer que o desejável não é o desejante. Como então sustentar que ser-segundo-o-significante é desejar? Mas ocorre que nada é significante senão a partir de um outro significante. Daí a conseqüência: ser segundo o significante é, ao mesmo tempo, ser desejável e ser desejante. É desejar, mas com a determinação específica de que falta o objeto absoluto. Que o que é significante tenha sentido parece bastante evidente. Quando dizemos que um gesto é significante, supomos que tenha um senti do. Mas há uma diferença essencial que convém situar20 e que nos permitirá articular o "significante" e "o que tem sentido". Essa diferença é de ordem temporal. O que é significante não é aquilo que é significativo. Quanto ao que é significativo, conhecemos de antemão seu sentido, que se acha simples mente confirmado. Exatamente como ocorre com o signo. Daquilo que é sig nificante ignoramos o sentido, não o sabemos a priori. Assim, é preciso falar no advento de um sentido. Esse sentido será colocado; o que é próprio do significante é que ele significa; sem dúvida, o sentido deverá ser extraído do que é significante, mas em sua unidade o sentido já está reunido, desemba raçado e direcionado. São esse desembaraço, essa reunião e essa direção que faltam quando falamos genericamente "naquilo que tem sentido". Vemos que é sempre possível falar na presença do sentido, mas o que varia é o as pecto temporal. Há no significante o advento temporal de um sentido, que é a unidade de alguma coisa que se desenrola efetivamente no tempo, mas co mo unidade subtraída desse desenrolar. No significativo não há nenhum ad vento, e sim pura unidade subtraída ao desenrolar temporal, e portanto, per feitamente antecipável e antecipada, mesmo quando o tempo se faz presente na "aparição" do significativo. Todavia, quando se diz que algo tem sentido, há um advento puro desse sentido no correr do tempo, ou melhor, o com portamento ou acontecimento que tem sentido não supõe em absoluto, por si só, nenhuma antecipação nem nenhuma imposição. Nessas circuntãncias, aquilo que é significante tem efetivamente um sentido. Esse sentido é o de fazer advir, o de colocar seu próprio sentido. Que, além disso, aquilo que tem sentido seja desejável, e até mesmo o desejável, é compreensível , se nos lembrarmos que, para o questionamento filosófico, o bem, na medida em que constitui aquilo que é buscado pelo de sejo, é o ser-um. Ora, o sentido é a unidade, enquanto imposta pelo sujeito, de uma diversidade sensível; de modo que é admissível que a presença do significante introduza algo que é da ordem do desejo.
76
Lacan e a filosofia
Contudo, uma objeção deve então ser formulada de imediato: o signifi cante pode ser, sem dúvida, uma forma daquilo que é desejável, mas afir mamos que ser-segundo-o-significante é desejar. Como passar do que é desejável para o que deseja? A explicação prende-se aqui à própria nature za do significante. De onde é que o significante, na medida em que é desejá vel, extrai essa unidade que o torna desejável? Será do fato de ser um? Mas vimos que o significante não tem nenhuma unidade nem consistência senão em relação aos outros significantes. Isso se aplica aos elementos da lingua gem, mas vale também para tudo o que se diz ser significante. O significante significa através de sua diferença dos outros significantes. Assim, só é um do ponto de vista dos outros. Ainda é preciso, para que o significante apare ça como significante, que nos situemos do ponto de vista de um outro signi ficante. Eis portanto a situação: é-se num certo significante, e a partir desse significante outro significante aparece em seu valor significante; por conse guinte, parece desejável. E aquele que é-segundo-o-significante é, na verda de, também o desejante, donde se estabelece que a presença do significante introduz algo que é da ordem do desejo. O significante é, ao mesmo tempo, o desejável e o desejante, tudo dependendo do ponto de vista em que nos co loquemos: o desejável é sempre o significante outro, aquele que aparece como tal. Essa reversibilidade prende-se à equivalência ontológica funda mental de todos os significantes. Mas cabe enfatizar que, se os termos são reversíveis, os lugares não o são. Ou, mais exatamente, os "momentos", já que se trata de uma articulação temporal: quando um primeiro significante surge como desejável, ele é desejado do ponto de vista de um outro signifi cante, e o desejo não é outra coisa senão aquilo que faz passar ou tende a fazer passar do segundo significante (a principio não aparente como tal) para o primeiro. A isso se chama apropriação do "objeto" do desejo, e é um movimento que se efetua no tempo. Daí a idéia da cadeia significante, fre qüentemente retomada por Lacan: ela é a própria cadeia do desejo. Lacan chama de S1 ou significante "unário" ao primeiro significante, aquele que aparece como tal, o desejável, e de S ou significante "binário" a esse outro 2 significante a partir do qual o primeiro pode aparecer em sua significância. É esse significante que constitui o modo de ser a partir do qual se deseja. As sim, ser-segundo-o-significante é efetivamente desejar. Mas que nos diz essa cadeia do desejo segundo o significante sobre o desejo nela contido? Se o significante como desejável não é um em si mes mo, mas apenas a partir do outro significante, a conseqüência é que, uma vez alcançado o modo de ser desejado, o significante unário, o que se pro duz é o que poderíamos chamar um decepção radical. Uma decepção que se prende ao fato de o primeiro significante só aparecer como desejável a par tir do significante binário. Vê-se então qúe a presença em gerãl do significante introduz efetivamente o desejo como determinação ontológica. Mas um de sejo cujo objeto não deixa de faltar. O significante, em relação ao objeto nele
teoria do inconsciente e discurso jiiosójico
77
desejado, é de certa maneira um logro, um "semblante". O desejo, tal como o exibe o significante, é inseparável da negatividade. Isso é o que reencon traremos no significado do significante: o desejo, mas com a castração. O fato de "o que é significante" instalar o homem numa negatividade radical, di versamente de "o que tem sentido", torna-se visível se considerarmos o re gistro em que se emprega o verbo "significar". Falamos em "dar permissão * para que alguém se retire" e em "fazer sinal para sentar-se". sempre com a idéia de submissão a uma ordem (cf. § 15, 2 'cxpxrí ), e portanto, de algo como um rebaixamento. Ou podemos pensar no verbo alemão heissen, que é "significar" na acepção de "querer dizer", mas é também "ordenar". O sig nificante ordena - é essencialmente o significante-mestre, como dirá Lacan em Encore, por exemplo.2 1 Mostramos que ser-segundo-o-significante é desejar. E que o desejo que se descobre na cadeia significante é marcado por uma negatividade ra dical. O objeto absoluto falta, irremediavelmente. Mas não podemos ater�nos a tal afirmação. A falta não é absoluta, porquanto existe o desejo e existe a verdade parcial. Por um lado, de fato, antes de ser abolida, sua eventual presença é evocada, por causa do significante primário, que se dá como o desejável e "produz" o desejo; nessas condições, a falta do objeto compro vada no real leva a colocá-lo alhures, no imaginário. Por outro lado, alguma coisa surge em lugar do objeto faltante, da qual poderíamos dizer que o sim boliza; é o significante primário, mas enquanto simplesmente equivalente ao outro significante, ao modo de ser daquele que deseja; e esse elemento sim bólico explica que o desejo possa persistir a despeito da ausência da verda de total, que a falta possa, portanto, ser experimentada no real. Daí a distin ção das três "ordens" que o significante traz em si: o real, o imaginário e o simbólico. 22 E não há outras "diz-mensões", como dirá Lacan. Pois o ima ginário é, de certa maneira, o significante tomado isoladamente, presença ilusória do objeto absoluto que ele evoca, que se crê que ele seja; o simbóli co é também o significante, enquanto tomado, ao contrário, em todo o siste ma dos significantes, segundo uma sincronia essencial - é, portanto, o aco plamento dos dois significantes primários, s2 e s 1 ' na medida em que são equivalentes e estão antecipadamente determinados a se articularem um em reiação ao outro, tal como a um gesto simbólico sempre corresponde outro gesto igualmente simbólico. E o real é o entre�os-dois, o corte que separa os dois significantes, o nada em que eles se anulam por serem apenas logros. Assim, a trfade do real, do imaginário e do simbólico aparece efetivamente como a determinação primeira, essencial, que se deduz da simples conside-
No francês essas expressões se constroem com o verbo signifier: "signifier à quelqu 'un son congé:' e "signifierde s'asseoir". (N. da T.) •
78
Lacan e afilosofia
ração da cadeia significante enquanto presença do desejo. Aliás, Lacan não deixou de fazer dessa trfade um dos temas centrais de sua doutrina. Tente mos agora precisar cada uma dessas "diz-mensões". Primeiramente, o real. Ele está ligado à temporalidade intrínseca da cadeia significante. A cadeia significante é presença do desejo. Em outras palavras, aquele que é segundo o significante binário deseja ser segundo o significante unário, na qualidade de o desejável. Na própria passagem do momento e também enquanto houver desejo, o modo de ser desejado deve aparecer. Mas, se acompanharmos a análise de Lacan, teremos que dizer que o desejável só existe a partir da posição primária. De modo que é preci so estabelecer uma distinção absolutamente essencial entre o que é espe rado pelo desejo, através daquilo que se propõe desejável, e esse mesmo significante primordial em sua "substância". Falamos antes em lqgro. Trata se de um fenômeno muito mais fundamental. Pode-se afirmar que o signifi cante se produz, de lato, no lugar de alguma coisa que irá faltar, que já está faltando, e que seria o objeto, que Lacan chamará de a Coisa. Mas a distân cia entre o que seria preciso e o que há é vivida na mais extrema angústia, pois é o próprio ato da castração, sofrida tanto pelo objeto primordial (que é a Mãer como pelo sujeito. É aí que Lacan, de maneira absolutamente rigoro sa, introduz o termo real. O real não é desejável; é, antes de mais nada, o tempo durante o qual o desejado não surge. O real é sempre aquele do en contro faltoso (a r ÚXTI ) ,24 não apenas aquilo que nos faltou no encontro, pois o que na verdade faltou foi o objeto primordial impossfvel, mas ainda, além disso, o que nos falta, já que o significante vem dissimulá-lo, vem vedar a brecha do próprio desejo. Dar a fórmula lacaniana de que o real é o impos sível, no sentido, em primeiro lugar, da impossibilidade da Coisa - mas a Coisa não é o real; e portanto, a verdadeira "impossibilidade" do real é que o significante vem ocupar o vazio dele. O próprio real enquanto vazio desapa rece. Sem jamais ter aparecido. Ele simplesmente deixa traços. É a suspen são do tempo puro, o aparecimento e o desaparecimento, e nunca nada que apareça ou desapareça. O inantecipável.25 Poder-se-ia dizer que tal concepção do real está bem afastada do que comumente se entende por real. Mas o que faz com que uma coisa seja real para nós senão o tempo puro, que constitui sua exterioridade essencial? Qui seram muitas vezes opor real e realidade em Lacan, com a idéia de que o mundo em que vivemos, as coisas que vemos a nosso redor não são "o real" para ele. É preciso que se entenda isso. Existe, de um lado, o sentido que damos a todas as coisas de nosso mundo, e a propósito disso Lacan falará na representação e no imaginário; de outro lado, existe o aue constitui a "realidade" do mundo da vignia, e que é efetivamente "o real".2 Estar des perto é, para Lacan, estar exposto ao que, a despeito de tudo, é inantecipá vel - ao real. Mas aquilo que faz do mundo real um mundo exclui daí a pre sença do rea: como tal.
teoria do inconsciente e discursojilosdjico
79
Essa dimensão do real, tal como descrita por Lacan, é essencial em seu pensamento. Pode-se até dizer que é a dimensão fundamental do dis curso analítico. Por um lado, no que concerne a sua emergência histórica no campo dos discursos atuais, a descoberta freudiana nunca deixa de ser in conveniente. Porque ela representa o surgimento do real. Do real enquanto elemento mais secreto do desejo humano. Decerto, ela não faz mais dp que representá-lo, e se o real é efetivamente o que dissemos dele, é "impossível" agir de outra maneira. Mas ela permanece como um surgimento, sempre ameaçado (como freqüentemente diz Lacan), e antes de mais nada pelos próprios analistas, mas também sempre rep:tido. Ela é a presença mani festa e irredutível de algo como o sintoma. 2 E tal como ele, atrai. Por outro lado, quanto ao que caracteriza a práxis (como diz Lacan) sobre a qual esse surgimento se apóia, isto é, o tratamento analítico, é nela, pelo con fronto com a castração enquanto inseparável de seu desejo, que o homem se choca com o que é para ele o mais real, a hiância no próprio seio de seu ser de desejante. Eis o que escreve Lacan: "Nenhuma práxis, mais do que a análise, é orientada para aquilo que, no coração da experiência, é o núcleo do real."28 Em seguida, o imaginário.29 É a segunda espécie de falta suscitada pela falta fundamental do objeto absoluto. Não se trata mais da experiência dessa falta fundamental no tempo: vimos que isso é o real. A falta que se si tua no imaginário prende-se à antecipação, feita pelo desejante, da plenitude cuja apropriação ele irá efetuar. Mas essa antecipação não basta para cons tituir a dimensão do imaginário. É preciso, além disso, que a falta da plenitu de desejada no real torne inútil o próprio processo do desejo. A suspensão então sentida não é somente a do tempo puro no plano real, mas a que acompanha o "retorno sobre si mesmo", inseparável da interpretação do movimento do desejo. O imaginário é, essencialmente, o confronto entre o pouco ser do de sejante e a plenitude antecipada do outro. Uma avaliação, portanto. Mas nem sequer se pode mais dizer "do desejante", pois, enquanto há desejo efetivo, não se pode falar em "retorno sobre si mesmo". O outro em quem se vê a plenitude não é o objeto do desejo. É próprio do imaginário romper justa mente essa dinâmica do tempo, onde a alteridade do Outro é experimentada naquele mesmo que deseja. No imaginário, a própria alteridade é apenas imaginária. Daí a formulação lacaniana que distingue o outro imaginário do Outro a que ele chamará simbólico. O outro imaginário é um Outro decaído, com o qual aquele que desejou mantém relações de agressividade e ódio, essencialmente. E também de fascinação, sem dúvida. Há uma identificação com aquilo em que se desejaria transformar-se e que permaneceu como lu gar da plenitude, no próprio desaparecimento do desejo. Mas essa identifica ção imagináriá conduz ao ódio, pois parece ser ela o que está na origem do
80
Lacan e afiloso}Ul
sentimento de falta. O "modelo" com que nos comparamos desapareceria, e com ele a própria comparação e a experiência da falta. Essas características da dimensão do imaginário foram reunidas por Lacan em sua célebre teoria do estágio do espelho. Ali ele descreve a expe riência estruturante feita pela criança em sua relação com a imagem que lhe é remetida pelo espelho, e a articulação que aí se efetua do imaginário com o simbólico. Convém sublinharmos que o ponto em que se acha o âmago do pensamento de Lacan não é na descrição de uma experiência, mas na de dução de um fenômeno: tanto o imaginário quanto o real e o simbólico são dimensões inscritas no significante. Diz-mensões. E não poderíamos falar numa anterioridade do imaginário (e o real) sobre o simbólico, tido como re presentando simultaneamente a linguagem e o social. Veremos com freqüên cia que, por razões complexas, como estratégia em relação ao discurso em pirista, Lacan muitas vezes age como se se tratasse de descrever. uma ex periência, ao passo que a força de seu pensamento consiste no desdobra mento de toda uma dedução a partir do significante (e da fala). E finalmente, o simbólico. Se o outro, sendo o que é e não sendo o que é, pode até mesmo aparecer como desejável e suscitar o desejo, foi por ter aparecido como a presença da plenitude, como seu símbolo. Daí a idéia da terceira espécie de falta, cuja positividade é preciso sublinhar (tanto que po demos compreender que Lacan tenha ligado particulàrmente o desejo, como consistência da verdade parcial, e o simbólico): o significante, enquanto sím bolo da plenitude ausente (mas não desde logo impossível), é aquilo que presentifica a falta. E sem essa presença, no caso de uma falta absoluta, nada mais seria possível como desejo. A falta que se situa na dimensão do simbólico é a transcendência que impõe o elemento simbólico. E sem as di mensões do real e do imaginário, das quais não pode ser separado, o simbó lico como tal não implicaria de modo algum a impossibilidade do objeto ab soluto. Mas sabemos que, para Lacan, a situação efetiva é justamente essa impossibilidade. O que a dimensão do simbólico traz é a idéia de um reenvio a uma plenitude. Daí sua ligação com o desejo. Mas nada afirma nem exclui que haja plenitude em algum lugar. E é também essa característica essencial de uma articulação dos elementos simbólicos, de um sistema estruturado. Não há elemento simbólico isolado, mas cada elemento toma lugar num sis tema determinado de antemão e onde se inscrevem as possibilidades de acontecimentos ou de comportamentos. Esse aspecto diferencial e estrutu ral do simbólico foi o mais rapidamente retido pelo pensamento contemporâ neo (por exemplo, o estruturalismo de Lévi-Strauss, ao qual Lacan faz nume rosas referências) . Vemos então que uma nova espécie de temporalidade se apresenta. Não mais o advento puro do ser no real, nem a antecipação do imaginário,
teoria do inconsciente e discurso jilos6fico
81
mas uma articulação cujas possibilidades, se não o acontecimento enquanto surge, são antecipáveis. A pura passagem do tempo pela qual se abre uma nova possibilidade é mántida, mas aquilo a que pode conduzir é determinado de antemão. Há uma sincronia essencial de todos os elementos simbólicos na presença do sistema. Nessa dimensão do simbólico, o . Outro como tal, e não mais o outro imaginário, pode encontrar lugar: de um lado, como essa plenitude ausente e que é simplesmente simbolizada, e de outro, como alteridade irredutível da articulação simbólica. Não que essa alteridade seja significante em si mes ma (para isso são necessários o real e o imaginário, ao mesmo tempo que o simbólico), mas a articulação simbólica é a condição sob a qual pode apare 3 cer a alteridade significante. 0 Assim, é portanto, a tríade do real, do imaginário e do simbólico. Ela está contida na própria linguagem, e não poderíamos de imediato ligar parti cularmente a linguagem e o simbólico, conio aparece com tanta freqüência no pensamento contemporâneo e até em muitos dos textos de Lacan. O símbolo não é o significante. Mas a dimensão do simbólico, enquanto carac terizada pela existência de estruturas a priori, aparece efetivamente como a própria estrutura da linguagem, quando a relacionamos com a experiência no contexto (ultrapassado pelo significante e pelo inconsciente) do mundo, onde se sustenta o conhecimento humano e onde seus problemas se colocam. Essa concepção lacaniana do simbólico, em sua articulação com o real e o imaginário, irá permitir que confirmemos o lugar do discurso analítico no campo filosófico, por sua oposição aos dois outros discursos originários que afirmam, de certa maneira, a ausência da verdade total - o discurso empi rista e o discurso filosófico, Lacan oporá ao discurso empirista, que se pren -de ao real e ao imaginário, a dimensão do simbólico. E, contra o discurso fi losófico, sublinhará que, desde a perspectiva do significante, o simbólico como presença positiva da verdade parcial é inseparável do imaginário. E portanto, da ausência da verdade total. E do caráter mítico da Coisa.
17.
A CRÍTICA LACANIANA DO EMPIRISMO: NECESSIDADE, DEMANDA, DESEJO
A oposição ao empirismo, e não apenas no plano geral da teoria, mas con trariando toda uma tendência empirista no movimento psicanalítico, é abso lutamente essencial para Lacan. Poder-se-ia quase falar num combate. Um combate que, curiosamente, Lacan muitas vezes travou partindo das pró prias noções empiristas, como se se efetuasse um acesso, uma entrada na ordem simbólica, e como se antes a dualidade do real e do imaginário tives se bastado. Já deparamos com esse movimento de pensamento no caso do
82
Lacan e aji/osqfia
estágio do espelho. Indiquemos agora com precisão essa oposição ao empi rismo. Para o empirismo, vimos que o desejo é uma ilusão suscitada pela lin guagem. Se dermos ao termo um sentido exato, será preciso dizer que, quando se fala de desejos, trata-se, de fato, apenas de necessidades. Es sas necessidades, cujo objeto, por definição, é desprovido de valor absoluto, são determinadas a partir dos diversos instintos, e sua satisfação é acom panhada pelo prazer, cuja busca caracteriza tudo o que é. Resta ainda ao empirismo explicar todas essas crenças ilusórias que ele nunca deixou de denunciar: a crença numa alma imortal, ou a crença na existência de um ser divino - tudo aquilo que, de maneira geral, impede o homem de ser mais efi caz em satisfazer suas necessidades e chegar a seu prazer maior. Sabe mos que o epicurismo viu ar a habilidade de manobra dos padres, que procu ram submeter os homens utilizando o temor suscitado por essas realidades imaginárias. Tal alienação, que se manifestaria na relação de demanda, co mo dizem os modernos, seria de fato "justificada" pela dependência em que se acha o bebê no que tange à satisfação de suas necessidades. Essa de pendência original reapareceria na submissão, inseparável das crenças ilu sórias. Assim, a moral empirista consistiria, quanto a estabelecer ou resta belecer a dominação, em se desfazer da demanda e da potência que ela confere ao outro, para se ater estritamente à busca dos meios mais eficazes para satisfazer as necessidades. Tal teoria é defendida por toda uma tendência da psicanálise - certa mente, em primeiro lugar, a psicanálise norte-americana, que Lacan comba teu particularmente, mas de fato, muito além dela, uma enorme parcela dos analistas, e todos aqueles que consideram a análise como sendo essen cialmente uma terapêutica. Em sua crítica, que ele disse empreender para defender a própria essência da psicanálise daqueles que, no cerne mesmo do movimento psicanalítico, querem minimizar o escândalo da idéia do in 3 consciente, 1 Lacan situa-se na perspectiva genética que é cara ao empi rismo. Trata-se então de partir de uma pretensa situação original onde só haveria necessidades. E fazer surgir o desejo. Mas sem que se deva, é cla ro, falar na emergência do desejo como complicação da necessidade, como desenvolvimento da mediação do curso que conduz à satisfação da neces sidade (tal como se mede a inteligência dos animais através da capacidade de desvio). Pois o desejo é dado a priori na linguagem. Existe aqui, de fato, uma dificuldade fundamental, se não do próprio pensamento de Lacan, ao menos de sua apresentação. Vamos distinguir as diversas possibilidades de articulação entre a necessidade e o desejo. Pri meira possibilidade, excluída por Lacan: que o desejo seja explicável a partir da necessidade. E na concepção lacaniana não mais se poderá falar, como
teoria do inconsciente e discurso filosófico
83
fazia Freud, em apoio: o desejo não se apóia na necessidade, nem as pul sões sexuais em supostas pulsões de autopreservação. Segunda possibili dade: que o desejo, inscrito na linguagem e na fala, norteie úm "desenvolvi mento" a partir da necessidade. Haveria efetivamente um a priori da lingua gem, mas o homem teria que atualizar aquilo que, a princípio, só existe po tencialmente. Aqui reencontraríamos, de certa maneira, a psicologia genética de Piaget. E alguns temas, como o acesso ao desejo ou ao simbólico, talvez parecessem sustentar essa concepção. Mas Lacan a rejeita, tanto quanto a primeira. E assim se expressa na resposta a uma pergunta de Françoise Dolto: "A descrição dos estágios, formadores da libido, não deve ser referida a uma pseudomaturação natural, que permanece sempre opaca. Os está gios se organizam em torno da angústia de castração. O fato copulatório da introdução da sexualidade é traumatizante - aí está um fisgamento de vulto - e tem uma função organizadora para o desenvolvimento. ( . . . ) Se os está gios são consistentes, é em função de seu registro possível em termos de 3 mau encontro." 2 Surge então a terceira possibilidade, apresentada em vá rios textos de Lacan. A passagem para o desejo viria do encontro traumati zante com o Outro e o desejo do Outro, com o significante. Mas parece nos, contrariando uma certa letra do discurso de Lacan, que é preciso insistir em que o corpo do ser humano não é, em primeiro lugar, um corpo biológico que sofra o efeito do choque com o "desejv do Outro". É preciso, se quiser mos seguir Lacan no que ele traz de realmente novo, dizer que não se acede ao desejo, e sim à castração, que o desejo está lá desde o início, não como virtualidade, mas como atualidade a partir da qual o Outro ganha sentido. Daí a quarta possibilidade, para a qual a necessidade decorre do desejo, e não o inverso, de maneira alguma. Mas é certo que, por motivos aos quais volta remos a nos referir e que são, antes de mais nada, uma estratégia em rela ção ao discurso empirista dominante, o equívoco permanece nos próprios textos onde Lacan especifica os termos de seu combate contra a psicanáli se empirista; assim, "o desejo se esboça na margem onde a demanda se cinde da necessidade, sendo essa margem a que a demanda - cujo apelo só pode ser incondicional em relação ao Outro - abre sob a forma da falha possível que a necessidade pode trazer, por não ter satisfação universal (o que se chama angústia)."33 A angústia, que Lacan define em outro texto co mo "sensação do desejo do Outro",34 na medida em que a castração está implicada nela, não é em absoluto um e1eito da necessidade; ao contrário, deveríamos dizer, se nós quiséssemos ater ao rigor lógico a que Lacan se apegou cada vez mais com o tempo, que a necessidade é, ao contrário, a marca da falta do objeto do desejo. Descobrir a verdade parcial e o desejo, como fez Lacan, exige que assumamos plenamente a afirmação de Platão segundo a qual somente o divino é a medida, a verdade total. Mesmo que ela efetivamente falte. Acompanhemos agora a crrtica de Lacan à interpretação empirista da
84
Lacon e a filosofia
teoria analítica. Ela se baseia, como diz com muita nitidez o texto que aca bamos de citar, na articulação da necessidade, da demanda e do desejo. Lacan parte da necessidade como dado biológico. Diferentemente do desejo, o objeto da necessidade é antecipadamente desvalorizado, vazio de sentido, não só para mas também pelo sujeito. De modo que de maneira al guma contesta o mundo do sujeito. E isso porque, na necessidade, antecipa se o momento em que ela será satisfeita, e tudo o que se desenrola até en tão é apenas um "tempo imaginário". Trata-se de reconstituir uma suficiência perdida. O ponto de vista, portanto, é sempre o do domfnio, pois, mesmo que as necessidades não possam ser satisfeitas, o sujeito não,perde de maneira nenhuma o verdadeiro domínio que concerne positivamente àquilo que tem que acontecer, isto é, aos fins. A falta dos meios não cria nenhuma sujeição. Resta, é claro, a existência da falta. Essa falta, somente o objeto tomado em sua "realidade" pode supri-la. O imaginário não poderia bastar. A necessida de deve ser satisfeita aqui e agora, em toda a particularidade da situação real. Mas, no mundo humano, essa ordem das necessidades é atravessa da pelo fenômeno da linguagem, no que vimos ser chamado de demanda. A criança demanda à mãe que lhe forneça o objeto de sua necessidade. Mas, para Lacan, não se trata de vincular a alienação que ela implica à dependên cia biológica real - esta existe, mas não tem importância, pois o que importa para ele é o efeito da intervenção da linguagem. Assim escreve ele: "exami nemos os efeitos dessa presença [do significante]. Eles são, em primeiro lu gar, os de um desvio das necessidades do homem devido ao fato de que ele fala, no sentido de que, tão logo suas necessidades são assujeitadas à de manda, retornam a ele alienadas. Isso não é efeito de sua dependência real (pois não cremos encontrar aí a concepção parasita que é a noção da de pendência na teoria da neurose), mas sim da colocação em forma signifi 3 cante como tal." 5 O efeito da demanda é duplo. De um lado, por efetuar-se na linguagem, a demanda universaliza a necessidade, idealiza-a, poder-se-ia dizer, e por isso mesmo deixa escapar um aspecto essencial da necessida de, presente tanto em seu objeto como na situação que a caracteriza, a sa ber, sua particularidade radical. De outro lado, ela é demanda àquele que po de, por sua potência ou simplesmente seu lugar, satisfazer a necessidade. A mediação da linguagem é inseparável da mediação do outro. Quanto à mediação pela linguagem, assinalemos novamente q ue a apresentação "genética" aqui proposta por Lacan só poderia' ser estratégica e não pode corresponder . à verdade de seu pensamento: a demanda ao ou tro - pensemos numa criança que dá gritinhos de chamamento ou designa com um gesto manual ou com um olhar - efetua-se através de signos. A ne cessidade é enunciada nela no nível do significado. Assim, Lacan procede
teoria do inconsciente e discurso füosófico
85
aqui como se o signo (e portanto, o significado) viesse antes do significante, e como se a estrutura simbólica se implantasse sobre o signo. Encontraría mos essa maneira de apresentar as coisas no início do seminário sobre a Identificação, onde Lacan diz que advém do apagamento da relação entre o signo e a coisa, ao passo que a teoria irá enunciar-se com mais rigor em Encore, quando o signo reenvia a um sujeito constituído (pelo significante), vindo assim o signo depois do significante (e passando a referida "relação com a coisa" ao segundo plano: a fumaça não é mais signo do fogo, porém 36 do fumante). . Essa demanda, com seus signos, é dirigida ao outro em seu mundo, ao outro enquanto reina sobre e em seu mundo. E ainda que Lacan diga que, a princípio, ela se refere aos objetos das necessidades; de fato, enquanto demanda, por causa da dimensão lingüística, ela faz com que os objetos so fram uma modificação. A satisfação das pretensas necessidades por inter médio do outro a quem se dirige a demanda torna-se, como sublinha o pró prio Lacan, signo do amor. E é ele que é visado na demanda. É isso que sig nifica a universalização ou idealização (Aufhebung, diz Lacan, retomando o célebre termo de Hegel): o objeto particular recebeu um sentido totalmente diferente e não vale mais pela satisfação que possa trazer para a necessi dade. E a demanda aparece efetivamente como aquilo que introduz no re gistro do imaginário, com a idéia da onipotência (Lacan observa bem que ela não provém da experiência, mas se prende à linguagem). Novamente, porém, talvez parecesse aqui que a apresentação genéti ca de Lacan contraria sua idéia da anterioridade do significante. De fato, a demanda não pode preceder o desejo. Isso se evidencia claramente ao es pecificarmos em que consiste essa onipotência. O outro é onipotente sim plesmente porque, em minha demanda, dirijo-me a ele enquanto possuidor de um mundo. Mas vê-se a conseqüência disso: ao dirigir-me a ele, expri mi�do minha demanda numa significação, também eu tenho um mundo e sou também onipotente. Daí a ilusão fundamental inscrita na demanda. Ela não conserva o segredo da falta que a anima. Veremos que essa falta é o dese jo. Por ser demandante, coloco-me como onipotente. E ao mesmo tempo confesso uma falta, no cerne dessa onipotência. Pela demanda, portanto, nego a onipotência, tanto em mim quanto no outro. Daí a violência essencial 37 de toda relação de demanda. Dirão talvez que, quando se demanda alguma coisa, é disso que se sente falta, e que é bem possível que o outro disponha disso, sem contudo ser onipotente. Mas a linguagem em que se efetua a demanda interdita essa apresentação. O objeto, nesse caso, não é senão um pretexto. Se �lo menos não denunciarmos na linguagem o próprio fo mentador da ilusão, como fazem os empiristas. A demanda, ainda assim, constitui uma das dimensões essenciais das relações psicológicas onde se desenrola o conflito pelo reconhecimento. Trata-se nela de demandar ao outro - investido de onipotência, enquanto
86
Lacan e a filosofia
sujeito que tem seu mundo - que preencha (e isso só pode ser imaginário) o vazio que se experimenta em si, através do reconhecimento ou do amor. O que tal relação com o outro pode ter de enganoso nunca deixou de ser de nunciado pelos mais clássicos moralistas, e Lacan, de certa maneira, pro longa essa denúncia: é preciso passar da demanda ao desejo, mas reco nhecendo-o como implicado na própria demanda. Surge então o desejo. Como aquilo que é subtraído a qualquer deman da, e que não se demanda. Mesmo que seja efetivamente no quadro da de manda que o desejo tem lugar. O desejo, de fato, é a falta que explica que se demande, e que a demanda como tal só possa dissimular. Ele requer o acréscimo de uma dimensão suplementar em relação ao real e ao imaginá rio: a do simbólico. Pois ele se inscreve no próprio ato de enunciação em que se produz o enunciado da demanda, ou seja, no significante. E como vimos, esse significante institui, em relação à simples experiência reivifldica 3 da pelo discurso empirista, 8 estruturas a priori que introduzem a verdade no real, isto é, a dimensão própria do simbólico. Vemos onde se marca a oposição teórica de Lacan ao discurso empi rista: para o. . empirismo, pelo fato de enunciarmos nossas necessidades na linguagem e' por nos deixarmos prender a suas ficções, consideramos essas necessidades como desejos. Coisa que elas não são, é claro. Diz Lacan: sem dúvida. Mas não estamos falando do significado, daquilo que de fato é demandado. o que importa é o ato da fala. É aí que se encontra o desejo. o sujeito do desejo inconsciente não é o sujeito do enunciado, mas o sujeito da enunciação, onde Lacan situa a verdade parcial do sujeito. O desejo não é o que a fala exprime ou pretende exprimir, mas o que a fala constitui, o que ela é. E se ele supõe uma sujeição, um assujeitamento, é à lei da fala, é ao de sejo do Outro, e não a determinado outro. Essa verdade do sujeito que é seu desejo constitui, segundo Lacan, o elemento essencial do tratamento analítico. E sem essa dimensão do desejo, com a qual se trata de confrontar-se no tratamento, este não tem mais limite, de certa maneira - o que Lacan denuncia na prática analítica à qual se opõe. Nela, parece que só nos ocupamos de reconstituir uma mestria, contra a alienação da demanda. De mostrar ao sujeito (e aí reencontraríamos al guns aspectos do Freud inicial) que não é mais necessário recorrer a defe sas tão perigosas quanto ao recalque para se precaver contra a invasão da sexualidade, e que, justificando-se a manutenção dessas defesas pela per manência de uma relação infantil de demanda, é preciso conseguir desfazer se da demanda. A neurose aí se explicaria, como condenou Lacan no texto citado acima, pela dependência arcaica e pela fragilidade do ego, incapaz de satisfazer suas necessidades. A imagem do humano ideal, em tal concep ção da prática analítica, seria a do homem menos refreado por qualquer in-
teoria do inconsciente e discursofilosófico
87
terdição, a do mais hábil, dentro do respeito (ele próprio hábil) às leis e aos costumes, em satisfazer as mais diversas necessidades. A imagem do advo gado norte-americano, diz Lacan, que sabe ganhar muito dinheiro e multipli car as "satisfações" amorosas. Essa imagem da enorme potência na imo ralidade, que Platão nunca deixou de combater (cf. o anel de Giges), é de certa maneira a que reencontramos na idéia da "terapia analítica" e seu pro jeto de cura. Tratar-se-ia de restabelecer a eficácia mâxima, de restituir ao sujeito a disposição perfeita de suas "faculdades". Talvez pudéssemos adiantar que nem todo finalismo conduz ao utilitarismo da potência e do pra zer. Que mesmo o verdadeiro finalista pressupõe fins ern si, fins ràcionais que o utilitarismo comum nega. Mas, com a hipótese do inconsciente, o de bate se limita à oposição entre uma concepção em que o inconsciente não é . plano da verdade do sujeito, pois não existe verdade (empirismo), e uma ou tra concepção em que o inconsciente contém a verdade do sujeito, mas co mo verdade parcial: há então a presença necessária da pu/são de morte e, nesse caso, o finalismo não é mais possível. Se nos ativarmos portanto ao finalismo utilitarista, a imagem proposta no tratamento analítico será efetiva mente a de um homem que, liberto de qualquer demanda, busca a satisfa ção de múltiplas necessidades. Sem dúvida foi possível, no próprio cerne da psicanálise empirista, nos interrogarmos sobre esse modelo e denunciarmos nele uma imagem muito simplesmente conforme à do homem da sociedade norte-americana, e da sociedade industrial em geral. Foi possível denunciar seu conformismo, sua falta de liberdade, e tomar consciência da eventualidade que permanece, na análise, como um incontornável assujeitamento a um "outró" singular que funciona como ideal - no caso, o próprio analista. Não podendo o analisando fazer outra coisa senão identificar-se com o analista, a exigência analftica passaria a ser a de que o próprio analista fornecesse o modelo mais perfeito. Mas o que vale para o analisando valeria também para ele, e isso equivaleria a resvalar de novo para a dinâmica imaginária da demanda. Opondo-se a todas essas perspectivas, Lacan introduz a dimensão da verdade e do desejo. Para ele, o tratamento analítico, ainda que comece no plano da demanda (demanda consciente de cura, demanda inconsciente de que seja preservada a estrutura neurótica), deve permitir o desvelamento do desejo presente nessa mesma demanda. E se quisermos falar em identifica ção com o analista, não se tratará mais de identificação com o ego do ana lista, mas com o analista como desejante. Mesmo que falar de identificação aqui seja duvidoso, uma vez que, de certo modo, o desejo já esta ali e que, por outro lado, para o desejo do "sujeito", o analista deve aparecer final mente enquanto aquilo que Lacan chama de objeto "a", ou seja, a causa desse desejo. Esse aspecto concernente ao que a análise denomina de transferência exigirá uma longa reflexão. O tratamento analítico é pois, pri meiramente, o lugar de um relacionamento do sujeito com a verdade de seu
Lacan e afilosofia
88
desejo, na medida em que ela é inseparável da castração. Nada disso de pende da pessoa do analista, mas a única coisa que importa é a relação deste com seu próprio desejo: é preciso que também ele já se tenha con frontado com seu desejo, e que o tenha suportado. Vemos em que sentido a análise é e não é terapêutica. O objetivo não é a suficiência do sujeito da necessidade, a reconstituição de uma mestria, com a redução das formações sintomáticas. Pois no sintoma está inscrita uma verdade com a qual é preciso confrontar-se. Essa verdade é insepará vel da presença do negativo (e daquilo que Freud denominou de pulsão de morte). Assim, de certa maneira, a idéia médica de cura é insustentável, mesmo em sendo verdade que, num tratamento bem-sucedido, os sintomas - exceto o inconsciente, é claro - desaparecem. E que, dentro do objetivo afinal ético buscado pelo tratamento analítico, algo como a mais real "felici dade" possível seja alcançado pelo sujeito. Mas isso se dá pela confronta ção com a verdade, sem que o sofrimento possa ser afastado e separado do essencial do sujeito, sem que se recorra a qualquer especialista capaz de garantir de antemão o máximo de felicidade e satisfação. O tratamento analf tico é o encontro da verdade e do real. 18.
A OPOSIÇÃO DE LACAN AO DlSCURSO FILOSÓFICO: LACAN E KANT
Podemos agora compreender como à oposição ao discurso empirista cor responde uma oposição ao discurso filosófico. No cerne do pensamento de Lacan se encontra essa tripla dimensão do real, do simbólico e do imaginá rio. o empirismo recusava a introdução de uma ordem da verdade corno a que é implicada pelo simbólico; para ele, havia, de um lado, o real, e de outro a "verdade" ilusória denunciada no termo imaginário. Com efeito, corno aceitar o simbólico sem resvalar para o "idealismo" ou a "metatrsica", já que falar em simbólico é evocar aquilo que representa, em meio ao real sen sível, uma plenitude, uma verdade ausente, mas real, efetiva? Pois, no �anti do preciso do conceito, o símbolo não representa uma coisa qualquer, mas sempre um valor absoluto. Mas Lacan - ainda que sublinhe a diferença entre o real e o simbólico, ainda que se separe radicalmente de qualquer formalis mo da estrutura e faça surg'lir muito claramente o sentido do simbólico, a ver dade que ele pressupõe, 3 - marca, por sua oposição entre o simbólico e o imaginário, a imj§ossibilidade para ele daquilo que chamamos verdade total (plenitude, existe apenas a "imaginária") , e portanto a inutilidade do discurso filosófico. O idealismo pelo qual alguns conseguiram recriminá-lo não encon tra lugar, de maneira nenhuma, no discurso analítico e no pensamento laca niano. Em que se assentou essa recriminação? Na presença de uma estru tura a priori inseparável de uma verdade, um logicismo sem nenhuma ralasenão conflitiva com o positivismo lógico procedente de Wittgenstein.
teoriiJ do inconsciente e discursofilosófico
89
Mas o imaginário como ordem, em face do simbólico e do real, reduz essa critica a uma forma de desprezo ou de má-fé. Devemos ainda precisar em que consiste esse fenômeno do imaginário. E preciso mostrar que, para La can, a verdade total está positivamente excluída. É ainda mais fácil eviden ciar isso observando que, ao apresentar a articulação do desejo e da de manda, Lacan faz uma alusão explícita a um autor de quem se pode efetiva mente dizer que ele se aproxima, e que, no entanto, depende do discurso fi losófico e de uma certa forma de idealismo: referimo-nos a Kant. Com efeito, Lacan escreve: "O desejo substitui o incondicionado da demanda pela condição 'absoluta'." 40 Sabemos que a distinção entre o con dicionado, a condição e o incondicionado desempenha um papelêssencial no pensamento de Kant. Para ele, "a razão pura ocupa-se unicamente da totalidade da síntese das condições para um dado condicionado", e, mais exatamente, "da totalidade absoluta dessa síntese, isto é, da condição que é, ela própria, incondicionada".4 1 Isso a que chamamos princípio. A partir dar, parece que a frase de Lacan se esclarece pelo seguinte texto de Kant, sem pre extraído dos "Paralogismos da razão pura", onde se trata de mostrar que um pretenso saber absoluto metafísico sempre se estabeleceu com base numa certa confusão: "Assim como a condição única que acompanha todo o pensamento, o eu, está na proposição geral 'eu penso', a razão deve ocu par-se dessa condição enquanto incondicionada ela mesma. Mas ela é ape nas uma condição formal, a saber, a unidade lógica de todo o pensamento, onde abstraip Jodos os objetos, e, não obstante, é representada como um objeto que penSQ.. quero dizer, eu mesmo e a unidade incondicionada desse eu." 42 O que é para Kant essa condição formal ou lógica? Trata-se de estru turas a priori, caract�risticas da subjetividade transcendental, às quais o real deve submeter-se se quiser aparecer para o sujeito concreto e ser pensado por ele. Condição formal e não real, pois não poderia ter lugar na seqüência das causas e efeitos. Unificadora de elementos diversos, sem dúvida - e portanto, como tal, fator de síntese e de unidade. Mas nunca lugar do ser-um de algum ente. Pois não se pode fazer dela nada de "real", e portanto, objeto de um . conhecimento; porque se trata simplesmente de uma estrutura subje tiva. I; porque, além disso, ela jamais confere nada além de uma unidade i�cabada, a partir do momento em que só se exerce como "princípio" sinté tico nos fenômenos, sem nunca atingir, por meio desses fenômenos essen cialmente condicionados, o incondicionado. É a "aparência dialética da razão pura" que faz ver erroneamente, nessa "condição absoluta" uma realidade incondicionada, uma coisa em si. Efetivamente, estamos aqui na presença de um pensamento - e de um movimento de pensamento - análogo ao que se encontra em Lacan. Opondo ao empirismo e ao aprisionamento apenas no real sensível dado pela experiência a d.escober:ta de uma ordem a priori, de estruturas a priori, ..·
..
90
Lacan e afilosofia
constitutivas do sujeito humano. Dar o suposto "idealismo" de Lacan, sobre o qual voltaremos a falar. E- àlém disso, a mesma recusa a passar de uma condição absoluta (essas estruturas do sujeito) para o incondicionado, para o ser-um da verdade total, para a verdade metafísica. Mas Kant exibe um discurso que se deve qualificar de filosófico, diversamente de Lacan. Ele apresenta seu pensamento, por um lado, como reconhecedor de uma certa realidade no real sensível da experiência (contra qualquer contestação, par ticularmente de tipo cartesiano) - Kant fala num realismo empírico - e, por outro lado, como um idealismo transcendental: aí está a determinação mais significativa, certamente, e a que foi preservada pela tradição. Portanto, um idealismo. O que nunca se poderia dizer de Lacan. Explicitemos esse ponto de divergência radical. Para Kant, o que nos é dado na experiência cotidiana não são as coi sas tal como são em si mesmas, mas tão-somente os fenômenos. O idea lismo provém da afi rmação de que há algo que é realmente, que é "na ver dade", e que é inteiramente conforme àquilo que as idéias, como conceitos da razão, supõem em seu objeto. Em relação a esse algo, aquilo que nos aparece, mesmo que tenha fundamento quanto a sua existência no objeto absoluto, na coisa em si, mesmo que seja "real", carece de ser, justamente porque carece de verdade. A contestação do incondicionado em nome da condição absoluta, por mais análoga que seja no pensamento lacaniano e na concepção de Kant, é ainda assim diferente ou até mesmo oposta, pois não poderia existir coisa para Lacan: a Coisa, como plenitude do corpo materno, é um mito. Estabelecido como tal. O que de modo algum acontece com Kant. Existe, se preferirmos, uma exclusão da verdade total na teoria lacaniana da condição absoluta; ao passo que Kant, no nível da Cn1ica da Razão Pura, simplesmente faz dela um objeto problemático, antes de confirmá-la a partir das exigências da moralidade (confirmação real, aliás teórica e demonstrati va). O que é condição absoluta para Lacan é a própria ordem significante, que simplesmente começamos a analisar em sua relação com o ser. Impos sível ir além disso, "relativizar" a ordem significante. E no entanto, positiva mente não se trata de um incondicionado, já que se permanece no plano da verdade parcial. O mesmo se aplica às estruturas a priori da subjetividade deduzidas no "eu penso" kantiano. Tanto para Lacan como para Kant, as referidas "estruturas" são a priori, e portanto, impõem-se ao real; tanto para um quanto para o outro, elas são formais, e portanto incluem um certo con tra-senso (ou seja, também uma certa não-verdade). Mas nos dois casos, é sempre numa vinculação com o real que elas aparecem. E o lugar da dife rença deve ser situado na relação entre essa "forma" e o real. Sem nos interrogarmos mais profundamente sobre essa diferença, observemos que, para Kant, o que constitui a "realidade" do real empírico é que ele é dado, "está lá". No mais, o efetivamente real que é a coisa em si
teoria do inconsciente e discurso filosófico
91
se retira, justamente "em si", e de modo algum é tocado pela forma, pelas estruturas a priori da subjetividade, que dependem exclusivamente do sujeito e de sua atividade de percepção e de conhecimento. Isso fica muito nitida mente marcado na noção de representação, que Kant identifica com o fenô meno.43 Para Kant, o pensamento humano articula representações cujo ca ráter próprio é a subjetividade, a distância indeterminada em relação ao ob jeto transcendente, à "coisa". Mas vimos que Lacan havia recusado o termo e a noção de representação tal como herdada por Freud de toda uma tradi ção filosófica muito influenciada pelo pensamento kantiano, e preferira a ela o "significante". Que não tem mais, de modo algum, esse caráter subjetivo da representação. Ora, qual é a conseqüência da presença do significante em relação a essa existência eventual da "coisa"? Disse Lacan: "A Coisa é aquilo que desde o real padece pelo significante."44 O significante, por tornar impossível a verdade total e impor a castração, exclui a coisa em sua pleni tude de existência. Contrariamente a Kant, e em razão da natureza dos ele mentos estruturais presentes em Kant, de um lado, e em Lacan, de outro, a "forma" do significante conduz este último a rejeitar por completo o idealis mo, e portanto a tornar a Coisa (em si) não somente incognoscível (como acontece com Kant) , mas até impossível. Não é necessário prosseguir aqui na comparação entre Kant e Lacan, que seremos levados a encontrar novamente.45 Nosso objetivo foi simples mente mostrar a diferença entre o pensamento de Lacan e o discurso filosó fico em geral. A escolha de Kant para esse propósito certamente não se deu ao acaso. Poderíamos dizer que, de certa maneira, Kant é o filósofo mais próximo, embora permanecendo no discurso filosófico, do discurso que cor responde à afirmação unicamente da verdade parcial, do "discurso analítico" segundo Lacan. A que se prende tal proximidade? Parecer-nos-ia que é a relação com a ciência em sua separação radical da filosofia e da atividade filosófica, e na dimensão de contra-senso essencial que ela supõe. Kant foi o · primeiro filósofo a levar decididamente a sério a separação entre a filosofia e a ciência, e é dai, sem dúvida, que extrai sua modernidade. Por fim, ele rea briu a questão da própria filosofia como questionamento. Essa relação entre a ciência, a filosofia e o inconsciente deverá ser detalhadamente estudada. Vemos agora que o problema essencial, se considerarmos decisiva a contribuição da anáfise lacaniana, está em saber se é possível incluir essa teoria do desejo (e portanto da castração - sua teoria em todo o seu rigor) num discurso filosófico. A primeira vista, tal inclusão, que não deve ser uma "recuperação", parece totalmente impossível. Faz-se necessário um exame muito exato dessa concepção lacaniana do desejo, tal como implicado como conseqüência "ontológica" da presença do significante, para determinar em que consiste essa impossibilidade.
92
Lacan e a filosofia NOTAS
1 . E. Husserl, Méditations cartésiennes, , § 5, trad. francesa, Paris, Vrin, 1 966. 2. M. Heidegger, "De l'essence de la vérité", in Ouestions I, trad. francesa, Paris, Gallimard, 1 968, p. 1 89. 3. Cf. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 4.0031 e 4. 1 1 2, trad. france sa, Paris, Gallimard, 1 96 1 . 4 . G.W.F. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, Introdução, pp. 72-75, lrad. france sa, Paris, Aubier- Montaigne. 5. Cf. E. Lévinas, "L'exister sans existant'. in Le temps et l'autre, Montpellier, Fata Morgana, 1 979, pp. 24-30. 6. Cf. M. Heidegger, Le principe de raison, trad. francesa, Paris, Gallimard, 1 962, e "La constitution onto-théo-logique de la métaphysique", in Ouestions I, trad. francesa, Paris, Gallimard, 1 968. 7. Cf. os célebres teoremas de Gõdel. 8. A tal ponto que podemos dizer sobre tal ou qual pessoa que ela "mudou de dis curso", quando suas referências e sua argumentação não são mais as mesmas, sem que no entanto nada se haja modificado nela. 9. No desenho estrutural que aqui traçamos não é útil nos prendermos, como fará Michel Foucault numa outra perspectiva, aos "referenciais", como os grandes autores da "tradição" literária e filosófica, e a tais ou quais outras caracterfsticas importantes dos dis cursos (cf. Michel Foucault, L 'Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1 969� [trad. brasi leira, A Arqueologia do Saber, Petrópolis, Vozes, 1 972.] 1 O. No aspecto em que ela sempre se dá em primeiro lugar, o da significação (ao qual, convém lembrar, prende-se o pensamento metaffsico). 1 1 . De modo algum visamos aqui o materialismo dialético de Marx, que não recorre ao discurso empirista. 1 2. Para não citarmos o célebre exemplo do "navio de Teseu", tão freQ üentemente reparado desde seu lançamento que nele não restava mais nenhuma peça original. 1 3. Cf. Heráclito, Diels Kranz, fragmento 50: "Se não sou eu, mas o Logos que es cutas, é sábio reconhecer que tudo é um." 1 4. lbid., fragmento 53: "O combate é o pai de todas as coisas. .. De umas ele fez deuses de outras fez homens. Umas ele tomou livres, outras, escravas." 1 5. S, XX, passim. [Ed. brasileira, p. 13 e passim. ] 1 6. Platão, Le Banquet, 204 a-b, trad. francesa, Oeuvres completes, t. I, Paris, Gallimard, 1 971 . 1 7. S, 11, p. 26 (sendo aqui secundária a diferença entre a orthé doxa de que fala Lacan e a doxa em geral). [Ed. brasileira, p. 25.] 1 8. Exclufdo por Lacan (cf. E, "SSDD", p. 802, e S, XX, p. 96). 1 9. Cf. E. Lévinas, Totalité et infini, Haia, Nijhoff, 1 964, p. 4: "O desejo metaffsico . . . é como a bondade - o Desejado não o preenche, mas o aprofunda." 20. A questão das relações entre ser e tempo será retomada no capftulo VIl. 21 . S, XX, p. 21 [Ed. brasileira, pp. 27-28.] 22. A reconsideração do imaginário levará a apresentá-los segundo uma outra ordem: real, simbólico, imaginário. 23. E, "T Ps", p. 553. 24. S, XI, cap. V. 25. Poder-se-ia ainda dizer que a impossibilidade do real é sua imprevisibilidade radical: ele não poderia ter lugar no mundo, ali onde se desdobra o domfnio do possível (cf. M. Heidegger, L 'être et le temps, trad. francesa, Paris, Gallimard, 1 964, .§ 31 , p. 1 79). 26. S, XI, pp. 56- 58. [Ed. brasileira, pp. 58-61 . ] 2 7 . Cf. Lacan, "La troisiéme", in Lettres de /'Eco/e freudienne, n º 1 6, nov. 1 975. ·
teoria do inconsciente e discursofilosófico
93
28. S, XI, p. 53. [Ed. brasileira, p. 55.] 29. A concepção do imaginário aqui proposta foi a primeira a ser sustentada por Lacan e é a concepção pela qual se deve passar primeiramente. Mas os progressos da re flexão conduzem a uma determinação totalmente diferente (cf. cap. VIl). 30. Cf. § 44. 3 1 . E, "S Ph", p. 690. 32. S, XI, p. 62. [Ed. bras., p. 65.] 33. E, "SSDD", p. 8 1 4 34. D e acordo co m a fórmula introduzida por ocasião d o S, X , L 'Angoisse (1 962-1 963). 35. E, "S Ph", p. 690. 36. S, XX, p. 48. [Ed. brasileira, p. 68.] 37. A demanda, por mais modesta que seja, faz do outro um meio para aquele que demanda. Mas ao mesmo tempo, por mais altiva que pretenda ser, ela submete o deman dante aos fins do outro. Dar a contradição e o conflito inevitáveis. A ordem, de um lado, e a súplica, de outro, reintroduzem na demanda, de maneira oposta, a dimensão do signifi cante, e acalmam a dinâmica de conflito que nela está inscrita. 38. O formalismo lógico não acrescenta nada à experiência no plano ontológico (diversamente da lógica transcendental de Kant [cf. § 18]). 39. Diferentemente de C, Lévi-Strauss, por exemplo. 40. E, "S Ph", p. 69 1 , cf. ibid. , "DC", p. 629: "O desejo se afirma como condição absoluta." 4 1 . E. Kant, Critique de la raison pure, trad. francesa, Paris, PUF, p. 321 ( 1 � ed.). 42 lbid. , p. 320 (1� ed.). 43. lbid. , p. 303 (nota, fim). 44. S, VIl. 45. Notadamente a propósito da lei.
s egunda parte Desejo Inconsciente e a Lei da Castração
O
19.
I N T R O D U ÇÃ O
A dificuldade essencial, para uma teoria como a de Lacan - que afirma uma verdade, mas apenas parcial -, para uma teoria do desejo puro na falta do objeto, está em explicar de que modo pode o desejo manter-se na ausência mesma desse o,bjeto absoluto, o qual, enquanto desejo, ele deve essencial mente buscar. E a essa dificuldade que gostaríamos de responder nesta se gunda parte. Todo o esforço de Lacan, que situa sua teoria do desejo na continuidade do pensamento freudiano1 (e, seja como for, na pesquisa de Freud) - embora haja também algo de radicalmente novo no que ele propõe2 -, foi o de dar precisão máxima a essa concepção de um desejo incons ciente cujo objeto falta, e que constitui o cerne da psicanálise. Sua tese é a seguinte: na ausência da Coisa, o que mantém o homem no desejo é a lei. Eis ar uma tese conhecida, dirão alguns, e que só faz retomar em outros termos (mas não serão esses termos essenciais, já que nos fazem mudar de dis� curso e abandonar o empirismo?) a teoria freudiana do Édipo. Mas convém afirmar aqui muito claramente: a lei constitutiva do desejo não é, para Lacan, a lei do Édipo. Decerto não se trata de que ela seja "antiedipiana" no sentido preten dido pelos autores de O Anti-Édipo, muito embora eles tenham efetivamente percebido que Lacan foi mais além do Édipo.3 Mas a idéia mesma da lei que, segundo Lacan, constitui o desejo, e o faz fora do Édipo, lhes é totalmente estranha. Para Deleu:ze e Guattari, "os três erros acerca do desejo chamam se a falta, a lei e o significante. Trata-se de um mesmo e único erro, de um idealismo que compõe uma concepção religiosa do inconsciente. E por mais que se interpretem essas noções em termos de uma combinatória que faz da falta um lugar vazio, e não mais uma privação, da lei uma regra de jogo, e não mais uma ordem, do significante um distribuidor, e não mais um sentido, não se pode impedi-las de arrastarem atrás de si seu cortejo teológico: inca95
Lacan e ajüosofia
pacidade de ser, culpa e significação". 4 Mas ocorre, justamente, que a falta não é um lugar vazio, e sim uma privação, e a lei não é uma regra de jogó, mas uma ordem, e o significante não é um distribuidor, mas um sentido. A ultrapassagem do Édipo por Lacan não se prende à reinterpretação do Édipo nos termos da linguagem e, portanto, a sua transformação no Édipo "simbó lico" de uma estrutura pura; ela não reside no fato ele que ele teria conserva do, "do pai e da mãe, apenas as funções",5 para arrastá-los no jogo das ca deias significantes. Há uma lei mais profunda do que a lei do Édipo, e que é a lei da confrontação com a morte, com a falta: a lei da castração, à qual não se pode escapar. É ela, e não a lei do Édipo, que constitui o elemento mais profundo da teoria lacaniana do desejo. Essa teoria pressupõe a retomada de uma noção que permaneceu como que em suspenso em Freud: a da pu/são (mais do que o instinto) de morte. A idéia de uma pulsão de morte é inseparável da concepção segundo a qual só existe verdade parcial. E, portanto, inseparável do desejo tal como Lacan o pensou. A pulsão de morte, evidentemente, não é o desejo. Os tex tos de Lacan nem sempre são absolutamente claros nesse plano.6 Mas é a falta da Coisa que produz a pulsão de morte, como um retorno contra o próprio desejo e sua verdade parcial. Se falta o objeto absoluto, o próprio de sejo é vão e deve ser destruído - o que vem colocar radicalmente o proble ma da manutenção ou, pelo menos, do restabelecimento do desejo. A primeira solução, comumente proposta e retomada no livro de Renê Girard, La violence et /e sacré, é a do que se denomina de "desejo miméli co." Escreve Girard: "Uma vez que tenham sido satisfeitas suas necessida des fundamentais, e talvez mesmo antes, o homem deseja intensamente, mas não sabe exatamente o quê; pois é o ser que ele deseja, um ser do qual se sente privado e de que algum outro lhe parece provido."7 Assim, o homem desejaria aquilo que os outros são, aquilo que possuem, ou até mesmo aquilo que desejam (ou parecem desejar). Mas tal identificação com o outro só pode levar à rivalidade para a obtenção do objeto-pretexto. Daf a conse qüência necessária do desejo mimético, que é a violência. A "inveja"8 cons titutiva do desejo mergulha o homem numa situação de "duplo vfnculo" em que o modelo é, necessariamente, também o rival. E Girard não tem dificul dade em mostrar que o complexo ele Édipo não passa de uma forma dessa relação de "duplo vfnculo", que leva, ao mesmo tempo, a desejar segundo o "desejo" do modelo (o desejo do pai pela mãe) e a entrar em rivalidade com ele (e agressividade contra o pai) pela posse do objeto. Girard felicitaria Freud por ter assim preparado a teoria do desejo mimético, não fosse pela afirmação freudiana, incessantemente repetida, de que a mãe é o objeto an tes da identificação com o pai. Tai concepção lhe parece totalmente injustifi cada. E, completando sua leitura do Édipo, Girard esclarece que o complexo de castração a que o Édipo conduz, para Freud, não passa, mais uma vez, ele uma das formas dÓ processo pelo qual a violência brotada do desejo mi-
desejo inconsciente e lei diJ castração mético é apaziguada nas sociedades humanas, estabelecendo-se a ordem. Para isso, é necessária uma vftima sacrificai, vftima essa que, uma vez sa crificada, e em decorrência de toda a quantidade de violência intestina ab sorvida pelo sacriffcio, aparece como o próprio instituidor da ordem, como Deus. Precisamente aquele cujo ser poderá ser imitado sem violência. Será aceitável essa concepção? Podemos fazer-lhe uma objeção es sencial: em que sentido se deve falar aqui em desejo? Será que basta que o outro pareça satisfazer-se com a posse de um objeto (ou pareça desejá-lo) para que em mim se agite um desejo? A inveja e o ciúme não pressupõem desejo algum, e não fazemos senão acreditar que desejamos, até que o obstáculo desaparece e o "objeto" perde qualquer aparência de sentido. E basta, inversamente, que o outro deseje verdadeiramente algo, não para que eu deseje o que ele deseja, mas para que eu entre num desejo verdadeiro e me ocupe de outra coisa. O que não pode ser explicado por uma teoria que se prenda ao real e ao imaginário é a presença de um desejo verdadeiro, pa ra além do conflito e do ódio. Dirão talvez que foi o divino, oriundo da violên
cia sacrificai, que se transformou no desejável. Mas o problema persiste. A pulsão de morte, desviada para a vitima, não constitui desejo algum. A ple nitude do divino, aqui, é puramente imaginária. E a vftima, enquanto sfmbolo (é o objeto "a" de Lacan, a causa do desejo: os objetos· sagrados, os restos do animal sacrificado, o Sagrado Coração, dos quais fala o seminário sobre a Angústia), só pode sustentar um desejo se estiver dada, de sarda, uma or dem de verdade.
A existência do desejo tal como o concebe Lacan pressupõe que o simbólico (e a linguagem) não possa ser deduzido do real e do imaginário. É
no significante, como demonstramos, que tem lugar a trfade irredutrvel do real, do imaginário e do simbólico. Urge, pois, fundamentar o desejo em outra coisa que não o imagir.ário, numa ordem de linguagem primordial, e portanto, na lei. A lei, . segundo Gi rard, muito empiristicamente, é engendrada. Para Lacan, e posto que uma lei
engendrada não pode constituir um desejo, a lei é dada desde o infcio. A lei determina aquilo que há de ser. É ela que, para Lacan, constitui o desejo, na
ausência da Coisa. Um desejo verdadeiro, já que a lei se situa, por sua for ma, no registro do universal, da linguagem enquanto determinante do ser, da verdade. Essa lei é a lei do significante, aquilo que o significante "intima ao sujeito", aquilo que faz com que apareça o "sujeito" enquanto "assujeitado" a ela. Mas, nesse ponto, duas concepções são possrveis: ou consideramos que a lei constitui o desejo "a despeito de si mesma", pois interdita um objeto ao qual, por isso mesmo, tornaria desejável; nesse caso, o desejo é essen cialmente transgressor e inseparável do sentimento de culpa; . ou sustenta mos que a lei constitui o desejo porque comanda o desejo. E, nesse caso, a falha não mais pode estar no próprio desejo. A primeira concepção retoma
98
Lacan e a jikJsofia
integralmente os termos do Édipo e é a que Lacan apresenta com maior fre qüência. É a que se situa no "Édipo simbólico". Mas não é essa sua con cepção mais profunda, nem a mais rigorosamente conforme com a teoria do significante. Pois, na lei do Édipo, é preciso distinguir dois aspectos: de um lado, aquilo que se relaciona com a interdição, e que, de fato, tem completa conformidade com o que diz Girard sobre a relação imaginária; de outro lado, o caráter de lei, proveniente da linguagem. Mas como se pretende que a mãe seja interditada pela lei da linguagem? Interditada ela só é no Edipo, na neu rose da qual veremos que o mito (e o complexo) de Édipo é um produto, se gundo o próprio Lacan . A mãe é impossível. Essa é a verdadeira castração. A rivalidade edipiana dissimula essa ausência da Coisa, é um engodo sobre a morte. Um logro arranjado pelas pulsões de vida para ocultar a presença da pulsão de morte. Ela é aquilo que recalca, e não o que é recalcado. A questão aqui, no entanto, ainda não é a da neurose, mas simples mente do desejo. Mas o ponto de partida necessário para a neurose, para o inconsciente e o desejo na neurose, torna muito difícil para a teoria psica nalitica evidenciar em que consiste o desejo (e portanto, a neurose). So mente Lacan, e sem jamais teorizá-lo plenamente nem extrair disso todas as conseqüências, destacou esse desejo. E isso será essencial para o que constitui nosso problema em primeiro lugar, e que é a relação do incons ciente e da filosofia, e portanto, a teoria psicanalrtica da sublimação. Se podemos e devemos separar o desejo do complexo neurótico é porque aquilo que torna a mãe desejável no próprio Édipo é a presença, nela, do objeto denominado de obje.to "a". Um objeto que de modo aigum está liga do à figura materna, mas que é essencialmente deslocável e substituível. É desse objeto que a lei da castração pressupõe o apagamento, porém ligan do-o, mais além da pulsão, ao desejo do Outro . Aí está, pois, o mistério do pensamento lacaniano: a lei da castração tal como decorre do significante e da fala. Uma lei positiva, que me intima a desejar. E a desejar o desejo do Outro. E seu efeito necessário - e ao qual, ?liás, não se pode escapar - é a castração. Uma lei em relação à qual o erro (pois existe o erro) está em "renunciar ao próprio desejo"9 ( neuro.s e). Da mãe não se trata, salvo para mostrá-la como o mito impossível do Bem So berano e do gozo absoluto. Essa lei, imposta àquele que fala, o assujeita, e assim faz surgir o sujeito do desejo, pelo qual iremos agora começar. =
NOTAS 1 . Lacan diz de bom grado que aquilo que ele anuncia. a partir da mensagem freu diana tem como fundo essencial, como objetivo, como visada e como prática, o desejo (S, X).
desejo inconsciente e lei dll castraçÕI:J
99
2. "Observo aos senhores, de passagem, que o desejo tal como o formulo, em re lação ao que nos é trazido por Freud, diz mais dele" (S, XI, p. 1 29). Tanto que, cabe acrescentar, não existe desejo no sentido próprio em Freud. 3. Anti-CEdipe, de G. Deleuze e F. Guattari, Paris, Minuit, 1 972, p. 206. 4. lbid. , p. 1 32. 5. lbid. . 6. Ct. "É aqui que vamos dar na ordem simbólica, que não é a ordem libidinal na qual se inscrevem tanto o eu como todas as pulsões. Ela tende para além do principio do prazer, fora dos limites da vida e é por isso que Freud a identifica ao instinto de morte", S, 11, p. 375. ed. brasileira, pg. 407. 7. R. Girard, La violence et le sacré, p. 204, Paris, Gresset, 1 972. 8. Até os personagens de romance, criados com tanta dificuldade, são tomados por "outros" e invejados por seus criadores. Exemplo disso é Samuel Beckett, que, em L 'lnnommable, diz sobre suas "criaturas": "Apenas eu sou homem, e todo o resto é divino" (L 'Innommable, p. 26, Paris, Minuit, 1 954). 9. Segundo a expressão do S, VIl.
III O Desejo e seu Sujeito
20.
INTRODUÇÃO
Esse é, de fato, o surpreendente corte de Lacan no campo "ontológico": o sujeito do inconsciente. Alguns verão nessa fórmula, e para através dela condenar Lacan, a presençà de um excesso de filosofia, ou até mesmo uma tentativa de desvirtuamento do inconsciente. Em prol do sujeito a que esta mos habituados: do sujeito cartesiano, kantiano ou hu�erliano; e é verdade que há qualquer coisa de paradoxal na idéia de um sujeito do inconsciente, pois o que é que contemplamos através do nome de sujeito? Que designa por ele toda a nossa tradição filosófica, senão aquilo que foi objeto da "des coberta" de Descartes, tida como inauguradora dos Tempos l\1odernos, ou seja, a descoberta da certeza de si da consciência reflexiva, na qualidade do que se distingue, como sujeito pensante soberano, de seus objetos de pen samento? Mas a essa descoberta é todo o pensamento freudiano que vem opor-se, infligindo ao orgulho humano, segundo Freud, sua terceira grande ferida narcfsica, depois de Copérnico e de Darwin. Falar num sujeito do in consciente seria, pelo menos, embaralhar as cartas, dissimular conflitos ir redutíveis, correr o risco de ligações precipitadas, a pretexto, talvez, de que seria o "mesmo" homem chamado "o sujeito" que seria caracterizado, pri meiramente, pela onipotência da consciência reflexiva, do "Penso, logo existo", e depois pela presença do Outro inconsciente que o retém e o sub- , mete. Mas isso, evidentemente, não é o que diz Lacan. Ele assume plena mente o paradoxo inscrito numa fórmula como "sujeito do inconsciente". Que essa é uma idéia nova, é ele mesmo quem escreve: "É justo que pareça no vo que eu me tenha referido ao sujeito, quando é do inconsciente que se trata."1 Mas, se o próprio Freud não falou no "sujeito" do inconsciente, foi justamente por não ter levado até o fim sua idéia da castração, e por não ter destacado uma teoria do desejo, tal como faria Lacan. O sujeito é o sujeito castrado. E, na medida em que entra na ordem da castração, o sujeito se ca100
duejo incorucieiiU e lei do castroçdo racteriza pela certeza de sua existência de sujeito.
101
O sujeito do inconscien·
te, portanto, é o mesmo sujeito descoberto por Descartes. Essa é a tese de Lacan. Tese cuja significação filosófica nos é necessário explicitar com pre cisão. E nos referindo, antes de mais nada, ao rigor conceitual de que Lacan sempre faz alarde, e depois, à tradição filosófica na qual o conceito de su
jeito se reveste de uma importância fundamental na apreensão do ser como desejante: foi Aristóteles que o introduziu, e foi Descartes que o fez aparecer em sua verdade especificamente humana. Que contém o conceito de sujeito? O uso lingüfstico dá um sentido preciso a esse termo, quer se trate de estar sujeito a tal ou qual doença, de ser súdito• de um rei, ou ainda do sujeito gramatical. Fal�rnos em "sujeito" para significar uma certa determinação de algo que permanece idêntico e constante através da mudança de outras determinações dessa coisa. Mais exatamente, trata-se de uma determinação a ser recebida de uma outra coi· sa das determinações, de uma determinação que se pode dizer parcial. As· sim, se estou sujeito
à
angina, isso não quer dizer que eu tenha uma angina
agora, mas que tenho como determinação poder ter anginas. Há assim qual quer coisa de permanente que, positivamente, torna-me suscetlvel
à angina,
sob a simples condição de que alguma outra coisa me determine a isso. O mesmo se aplica ao súdito do rei: seus modos de ser dependem das deci· sões do rei e, como súdito, ele está determinado a poder receber ordens reais. Já uma pedra não pode ser súdito de um rei. Trata-se, pois, de uma determinação "positiva". Falar no· sujeito é, por conseguinte, pressupor algo que permanece idêntico através das mudanças, e algo cujo ser é antecipável. Donde um no vo paradoxo: corno falar em sujeito do inconsciente, se o inconsciente é efe tivamente o inantecipável e se a idéia de sujeito contém a idéia de uma ante cipação? Nesse paradoxo acha-se toda a concepção lacaniana do sujeito e sua teoria do mundo e da representação. E isso porque, no próprio ato de seu desejo em que ingressa na castração, o sujeito está certo de sua exis· tência como sujeito desejante, e essa certeza se inscreve no contexto do mundo, e portanto, da antecipação. Mas essa antecipação é duplamente li· mitada: por um lado, alguma coisa escapa de imediato ao mundo e a sua temporalidade - é o real do ato do desejo (que reencontraremos na fala) inantecipável; por outro, a certeza depende a cada vez, a cada instante, do ato do desejo, que não pode ser antecipado, pois não depende do mundo.
A
certeza de existir do sujeito como tal, portanto, é um efeito, assim como o significado (e por conseguinte, o mundo).
Em francês, "súdito" ou ''vassalo" é também sujet. Na lfngua portuguesa, o tenno "súdi· to", variante de "súbdito", tem também "sujeito" como sinônimo pouco usual. (N. da T.)
Lacan e ajüosofia
102
Se o "suJeito" é de fato essa determinação idêntica, que suporta as mudanças cuja possibilidade contém, podemos compreender que o conceito de sujeito tenha sido introduzido no pensamento filosófico para tentar apre ender o movimento e a mudança. Para Aristóteles, o sujeito é o sujeito da mu dança. Em outras palavras, de um lado, é a essência enquanto oposta às determinações acidentais que ela "é potencialmente" (Sócrates, que, de ig norante, torna-se sábio, embora permancendo ele próprio); e de outro lado, mais radicalmente, é o que Aristóteles denomina de matéria (primária), na medida em que ela é esse indeterminado puro que recebe a "impressão" da forma .(tem, portanto, até mesmo a determinação de receber todas as determinações). Assim, parece que o homem, com Aristóteles, não é mais sujeito do que qualquer outra coisa, e de modo algum é o sujeito primordial. Mas o desejo é desejo de mudança, é princfpio mesmo de mudança e movimento. Daí a idéia de um sujeito do desejo. E foi explicitamente como 2 sujeito do desejo que Aristóteles concebeu o sujeito da mudança. Para ele, de fato, Deus, enquanto plenitude da verdade total, Bem Soberano, é imóvel, pois só se move aquele que é imperfeito e a quem falta alguma coisa. Mas ele atrai e faz com que se mova tudo aquilo que existe. Deus atrai como o desejável. Nessas condições, já que Lacan propõe igualmente, embora no plano do inconsciente, uma teoria do desejo e da verdade parcial, talvez pa reça normal que ele fale em "sujeito": cada signicante é, sem dúvida, abso lutamente diferente de todos os demais, porém, por isso mesmo, lhes é equivalente e idêntico; e uma vez postulada essa identidade essencial e es sa equivalência de todos os significantes, uma vez que emerja o significado e se determine o valor do falo, surge o "sujeito do significante" como aquele que permanece idêntico através da diversidade da cadeia significante, sendo portador do desejo que ela pressupõe. Daí a frase de Lacan: "A característi ca do sujeito do inconsciente é de estar, sob o significante que desenvolve suas redes, suas cadeias e sua história, num lugar indeterminado."3 Mas convém ir mais longe: não apenas existe um sujeito do incons ciente, mas esse sujeito é o sujeito, ou seja, o sujeito de Descartes antes de mais nada. Eis aí o núcleo do paradoxo. É verdade que Lacan faz da filosofia uma sementeira de relações imprevistas. O que se faz necessário é tentar penetrar em suas razões. Voltemos a Aristóteles: ele introduzira o conceito de sujeito, mas não descobrira o sujeito. A idéia do sujeito prende-se a Des cartes, pois, como herdeiro de todo o movimento crítico da Idade Média, ele não mais atribui a tudo o que é uma "forma substancial", e portanto, uma verdade. Somente o homem, por seu ser pensante, por seu espírito, pode ser qualificado de sujeito; somente ele pode verdadeiramente desejar a ple nitude divina. Esse sujeito descoberto por Descartes é o que Lacan pretende determinar como sujeito do inconsciente. Escreve ele: "É o sujeito que é chamado [a penetrar em si mesmo no inconsciente] - o sujeito da origem cartesiana."4 A penetrar em si mesmo no inconsciente, o que equivale a di"
"
desejo inconsciente e lei da castração
103
zer que Wo Es war, so/1 /ch werden - ali onde estava o inconsciente é o su jeito que deve advir. Para ali encontrar aquilo que constitui sua realidade de sujeito cartesiano. Ou seja, o próprio ato do pensamento, tal como ele se ar ticula, segundo Lacan, na cadeia significante do inconsciente. E a partir des se ato do pensamento, Lacan, tal como Descartes, Vjli mostrar o sujeito ca racterizado por uma certeza essencial. O sujeito é o sujeito da certeza, tanto para Lacan como para Descartes. De qual certeza? Para começar, da cer teza primária que falta ao louco, àquele que não consegue escapar do espí rito maligno e de sua incessante disrupção na eventual "continuidade" de seus pensamentos - da certeza de sua existência como sujeito. Mas tam bém, para Lacan, precisamente da certezâ do desejo. Mas é nesse ponto que Lacan se separa de Descartes, ou o sujeito de Laean do sujeito cartesiano. É que o sujeito cartesiano - a determinação de seu "eu sou" - não pode ser, como quer Descartes, a consciência de si captando-se corno pensante na evidência e no imediatismo, e captando seus pensamentos e suas representações como seus, consciência de si que, ao menos em seu domínio, reina sem qualquer partilha. Para Lacan, nós o sabemos, o sujeito é essencialmente dividido. O que não significa que haja duas partes do sujeito, mas sim que o sujeito, como "pensante" (e desejan te), sofre aquilo a que Lacan chama "afanise": o desaparecimento. Não existe uma substância "puro-pensante", para retomarmos uma fórmula de Lacan. Lacan fala de bom grado na "refenda" do sujeito (para evocar a lchs paltung do Freud da fase final) . O sujeito não é uma res cogitans, mas um sujeito marcado pela separação e fadado à castração. Aliás, não que a res cogitans cartesiana apresente uma unidade e plenitude perfeitas, que o su Jeito de Lacan teria "perdido": enquanto substância finita, dependente de Deus tanto na continuidade de seu ser quanto em sua criação, o sujeito pen sante tem apenas uma unidade parcial. Ainda aqui voltamos a encontrar a verdade parcial. Para Lacan, no entanto, posto que existe a pulsão de morte, posto que a Coisa falta, a ausência da unidade total se marca no es garçamento definitivo de qualquer ilusão de unidade. É esse sujeito dividido, portanto, que será preciso tentar deduzir do significante e, mais exatamente, da fala; do qual será necessário indicar com precisão como se constitui, não apenas enquanto sujeito dividido, mas como seguro de si e de seu desejo nessa mesma divisão; do qual, enfim, teremos que demonstrar de que modo, um sentido exato, é o sujeito "do inconscien te". 21.
A FALA
É claro que, em primeiro lugar, encontramos o significante, e não a fala. E agora é preciso partirmos do fato de que o homem é o ser falante. Mas não há nisso nada de muito normal. Foi por abstração que o significante apare-
104
Lacan e ajikJsofia
ceu primeiro, para deduzirmos a existência efetiva do inconsciente, que era nosso primeiro problema. Neste momento, porém, quando se trata das con seqüências do significante do plano do ser, convém nos atermos ao ser real, à maneira como realmente se dá o significante. Em outras palavras , sempre no quadro da fala humana. Sem dúvida devemos falar aqui numa anterioridade lógica do significante, já que é do significante que se produz o significado, já que ele tem um efeito de significado. Nem por isso aquilo que é dado deixa de ser a fala, os atos da fala. Não podemos sequer dizer que es sa oposição do significante e da fala seja como a oposição feita por Ferdi nand de Saussure, no Curso de Lingüística Geral, entre a língua e a fala, com a língua aparecendo tão-somente nos atos de fala dos indivíduos huma nos particulares, mas constituindo o horizonte que torna possíveis esses atos de ·fala; com a língua, portanto, supondo a fala, mas também com a fala, inversamente, pressupondo a língua. Pois a língua é um "sistema de signos" (isto é, de pareamentos feitos de um significante e um significado) e, sendo assim, requer que se tenha passado ao plano do significado. Conviria então distinguir aqui a linguagem, a língua e a fala.5 O que é dado não é o signifi cante puro (ao passo que a linguagem é o sistema de significantes) , nem tampouco a língua, mas antes a fala. E nessa fala, o que Lacan lê é a pre sença do desejo e da castração, é o sujeito certo de si mesmo e de seu de sejo. Dirão aqui, talvez: sem dúvida a fala é essa presença do desejo e da castração, mas não qualquer fala, nem qualquer ato de fala. Quando falamos em termos triviais com o carteiro, não se trata de fala. A fala em que reside o desejo é a fala verdadeira. E, para sustentar essa objeção, ;)aderíamos rememorar a distinção feita por Lacan entre a fala vazia e a fala plena. A fala plena é aquela a que se visa como objetivo do tratamento analítico, enquanto a fala vazia é a das atos de fala mais constantes do neurótico, que mantém os mais abstratos e mais falsos discursos para evitar que se chegue ao re calcado (e Lacan evoca, maliciosamente, todos os belos discursos de Dostoievski sobre a estética, que ele não teria interrompido se não tivesse introduzido a possibilidade permanente da escansão temporal - da "sanção" -, ou seja, do "corte" da sessão).6 A fala plena, dirá Lacan, é a que apre senta ao sujeito a revelação de sua verdade, que efetua a 'cxt.. rí O etcx , o desvelamento de que fala Heidegger. Mas ela é apenas um ideal. Na maioria das vezes, nossa fala não está em nossas palavras, a fala que vem de nós não está nos atos de fala. Para Lacan, a fala do neurótico é seu sin toma (e ele chega até mesmo a dizer que o lapso, como ato falho e "rata" de alguma psicopatologia da vida cotiçliana, é uma fala exitosa\ Nada disso pode ser negado, e será conveniente voltarmos a esse assunto quando chegar o momento de abordar a neurose e suas estruturas em geral. Mas é preciso insistir no fato de que toda fala em si mesma, todo ato de fala, é essa presença do deseJO. Inclusive a chamada fala vazia. E não tanto vazia
desejo inconsciente e lei da castração
lOS
quanto esvaziada. E é justamente porque a fala como tal é "plena" (ainda que esse termo, é claro, seja de certa maneira dúbio, posto que a fala faz referência desde logo à castração) que é preciso, em seguida, torná-la vã. No entanto, como conceber que toda fala seja présença do desejo e que existam os discursos da neurose, que exista a chamada fala vazia - realidade incontestável (que é totalmente diversa daquele outro fenômeno que se evo ca quando se trata de "falar para não dizer nada")? Tal pergunta é essencial para a fala. O que não se evidencia é, precisamente, que existe um certo significado próprio inscrito na fala como tal, no ato de fala. Nessas condi ções, entende-se o que vem a ser uma fala "vazia". Trata-se de uma fala tal que seu significado efetivo, aquilo que é dito (pois não há fala sem que algo seja dito), conduz a dissolver, a abolir o significado primordial próprio do ato de fala, exatamente o significado que está inscrito nele. Como fala, o ato de fala efetivamente será, então, presença do desejo, mas haverá, ao mesmo 8 tempo, uma "dissimulação" (qualquer que seja ela) dessa presença. Que vem então a ser a fala? A fala pressupõe, de safda, o Outro pre sente a quem nos dirigimos (que se trata do Outro com O maiúsculo e não do "pequeno outro", logo poderemos compreender). Não se trata realmente do "destinatário" da fala. Falar em destinatário seria retirar do Outro essa presença essencial (existem destinatários das cartas, justamente em razão da ausência); essa presença deve ser tomada de maneira absoluta: o Outro presente é sempre aquele a quem nos parecemos dirigir. Quando Chrysale, em Les femmes savantes, diz repentinamente a Belise, "Sim, minha irmã, é a você que se dirige esse discurso", sabemos que é à mulher dele, Philaminte, que se dirige o que ele diz, a despeito da denegação que ele �e à temida evidência dessa intenção. Mas o que é verdadeiro sobre o discurso não o é sobre a fala: com respeito a sua mulher, pode-se dizer que Chrysale "não pode falar-lhe". Na fala, a presença do Outro é o elemento primordial; ela é abordada sem dissimulação possfvel (num primeiro nfvel necessário, sur gindo as diversas dissimulações somente em seguida e por causa dessa nudez primordial) . Emmanuel Lévinas veria nessa relação de fala a relação ética por excelência com o Outro enquanto rosto, rosto em sua nudez.9 Especifiquemos essa relação com a presença do Outro: não existe fala sem expectativa da fala do Outro, que poderá vir eventualmente, seja como palavra de resposta, ou mesmo palavra que corta a primeira fala. Mesmo quando se está enlevado no próprio "discurso", persiste, enquanto existir a fala, a expectativa desse corte essencial pelo Outro (e, por sua simples possibilidade, ele é real). E, se acontecesse perdermos essa ex pectativa, seria justamente por estarmos presos no discurso, e por ter o ato da fala sofrido uma modificação. A fala é atenção ao Outro, ao que ele vai di zer, ao que pode dizer, ao surgimento possfvel de sua fala, e a todos os si nais que a anunciam (expressões do rosto e outras . . . ). Com muita fre-
106
Lacan e afilosofia
qLiência, sem dúvida, falamos com o Outro sem que ele escute realmente, de modo que chegamos a antecipar com raiva sua distração para recrimi ná-lo por ela: mas a atenção do Outro não é, nesse caso, a mesma que a atenção e a expectativa da fala evocadas acima. Mas é que não mais se trata de uma fala verdadeira: toda fala verdadeira - e, num certo nível, toda 10 fala é verdadeira - se faz ouvir e se faz escutar. Porque o verdadeiro de sejo é sempre respondido com o desejo. Essa é, como veremos adiante, uma das formas da certeza do sujeito. A fala pressupõe esse Outro presente cuja fala (ou cujo silêncio) pode produzir incessantemente o corte (que, co· mo sabemos, é para Lacan o lugar do sujeito). Ela inclui, portanto, uma pre· sença essencial, mas também a dimensão daquilo que Lacan chama de real (que é justamente o corte entre os dois significantes primordiais). Mas se convém, quando existe a fala, que haja o silêncio desse Outro presente, só lhe falamos, por outro lado, porque ele pode responder, porque pode falar. A fala é, essencialmente, diálogo. Falamos com quem pode falar, ou mesmo com quem Já falou. Mesmo quando dirigimos a palavra aos bebês (in-fans), supomos, de certa maneira, que eles logo poderão falar, ou, mais exatamente, esperamos deles alguma reação que indique esse efeito da fala que é o suscitar a fala do Outro (ainda que essa reação não passe de uma indicação muito embrionária da atividade de fala). Essa reversibilidade das posições da fala não deve levar a confundirmos a fala com a comunicação. O Outro na fala é o Outro por ser, em primeiro lugar, desejável. Não lhe pe· dimos que escute, mas falamos com ele. A fala é transcendência. Mas, ao mesmo tempo, inclui-se em meu ato de fala a inversão dessa relação de trans cendência. O que se produz na comunicação é uma identidade daque· les que se comunicam. Se lhe cc munico algo, o outro deve passar a ser co· me eu. A fala inscreve-se na diferença do Outro e aí permanece. Na comu nicação, a alteridade do outro é apenas acidental, já que será disfarçada pelo próprio ato da comunicação; para a fala, a alteridade é essencial. Mas é, por princípio, reversível. O que por certo levanta um problema, pois concebemos a transcendência como uma ultrapassagem que conduz ao desejável, que leva daquilo que falta àquilo que, ao contrário, é pe rfeito. Mas como pode aquilo que foi colocado como perfeito, ou melhor, que foi experime ntado co mo perfeito, o Outro da fala, por sua vez falar em seguida, uma vez que dis semos que essa tomada da fala em reciprocação ou em corte está inscrita de antemão como possível? É que à essencia da fala pertence também a escuta. A escuta é crítica por excelência. Aquele que escuta está na posi ção do que avalia. Decerto dirão que, muitas vezes, escutar é bem próximo de obedecer, ou de se deixar prender pela fala. Escutar, sem dúvida, nunca significa rejeitar, mas sim examinar. E com atenção, com aquela atenção que marca, como vimos, a presença da escuta no próprio interior do ato da fala. Aquele que escuta sempre se acredita na situação do juiz, pensa ser o que dispõe das escalas de medida e da capacidade de avaliar. Essa pre-
desejo inconsciente e lei da castração
107
sença crítica da escuta é capital para apreender aquilo que veremos consti tuir a dialética da fala, na medida em que ali tem lugar a negatividade. En quanto fala, o homem está marcado pela falta - o que talvez não pareça evi dente. Vá lá que o Outro seja desejável, "significante", sem dúvida. Mas que aquele que dirige a fala a esse Outro falte, por quê? Não convém responder que queremos ser escutados, ou que toda fala é uma demanda. Pois, de um lado, a fala é abertura para Outro, e não ascendência sobre o Outro; e, de outro lado, aqui nos prendemos apenas ao ato puro da fala, independente mente de qualquer significado que pudesse remeter ao mundo próprio do Outro e onde pudesse insinuar-se uma demanda. A falta na fala humana aparece na escuta. Talvez evoquem a palavra de Deus. Mas nem toda fala inclui a falta. O que é mister dizer; simplesmente, é que com Deus não se fala. Pode-se falar com Deus na oração, mas nenhum diálogo se desenvol ve . A palavra divina não pode ser escutada, pois cria os ouvidos que podem ouvi-la e é fulgurante, sem a temporalidade própria da fala humana. Dessa fala a que urge nos atermos aqui. Na fala não existe apenas essa presença do Outro a quem se dirige aquele que fala, nem essa escuta crítica, nem esse diálogo. Mas alguma coisa é dita, e o que é dito tem uma significação Na fala, ainda que devamos reconhecer a presença do significante (mas não foi ela que acabamos de encontrar com os elementos fundamentais da situação vivida da fala?), é preciso sublinhar bastante que a fala pressupõe a significação. A fala tem um objeto a propósito do qual algo é significado. Na fala comum, de fato pa recemos poder falar de qualquer coisa. Mas cabe nos interrogarmos sobre o objeto primordial da fala. Se o significado fundamental é o desejo, se aquilo que o significante induz como significado são o desejo e a castração, o ob jeto da fala só pode ser o próprio sujeito - o que, de certa maneira, iria ao encontro da idéia de que nunca se fala senão de si mesmo. Falar, portanto, implica que uma certa significação a propósito de certo objeto seja dirigida ao Outro presente. E poderemos compreender em que consiste a palavra va zia, ou esvaziada, se observarmos que cada enunciado não constitui um ato de fala e que um mesmo ato de fala permanece através de toda uma con versa. Q discurso que aí se desdobra pode então dissimular perfeitamente, pouco a pouco, o significado primordial do próprio ato. Resta um pressuposto fundamental da fala. Falamos somente tendo por fundo aquilo a que já chamamos mundo. Falamos com o Outro e, para que possamos ser entendidos por ele, devemos dizer-lhe aquilo que ele é capaz de compreender. Ora, que pode ele compreender? Unicamente aquilo q ue se dá como sentido, como significação em seu mundo. É exatamente como quando fazemos um sinal a alguém: é preciso nos colocarmos em seu lugar para ver o que ele vê, e é preciso nos indagarmos de quem ele pode re ceber sinais. O significado possível já está nele. Destaca-se de seu mundo. Mas é também verdadeiro para o mundo daquele que fala, é claro. De fato, a
108
Locan e a filosofia
relação de fala, por ser um diálogo, pressupõe um mundo comum aos inter locutores. Um mundo que constitui o horizonte a partir do qual eles podem falar. A fala reassume então um significado que já está ali, naquele mundo. Aquele que fala não constitui um significado, não produz um novo sentido, a não ser pelo próprio fato do ato de fala. Veremos que o sentido da fa�. por tanto, está na afirmação da certeza do sujeito. O horizonte desse ato de fala é o mundo e é também a lrngua, tal como Saussure a opõe pertinente mente à fala. Nesse ponto, entretanto, nao nos encontramos no plano do significado e dos signos, nem tampouco da linguagem e da bateria seja preciso "ser mantido à distância da Coisa" (materna)? O que nos traz a consideração dos fenôme nos da fala é, evidentemente, o caráter mftico da Coisa como objeto absoluto do desejo. Não é necessário que a mãe seja proibida se, enquanto objeto do desejo, ela vier a faltar. O problema se evidencia com clareza quando, na mesma sessão, Lacan propõe as seguintes fórmulas dificilmente conciliá veis: que se pode afirmar que o passo dado por Freud no nfvel do princfpio do prazer consiste em nos mostrar que não existe Bem Soberano; e que, por outro lado, o Bem Soberano que é a Coisa, que é a mãe, que é o objeto do incesto, é um bem proibido, e que não existe outro bem. Proibir a mãe, poder-se-ia replicar, seria simplesmente proibir o movi mento em direção à mãe, revelando-se esta finalmente enganadora. Mas La can sabe perfeitamente que a mãe não é, sem mediação, a Coisa. Sobre a mãe, diz ele claramente que "ela ocupa o lugar dessa Coisa". A Coisa não é a mãe como mulher do pai, presa na rede das estruturas de parentesco: é o objeto primordial do desejo, o Outro inicial (lugar comumente ocupado veremos logicamente por que mais tarde - pela mãe). E, mais profundamen te: a análise lógica da fala requer que o objeto primordial do desejo esteja nesse lugar da Coisa e que o sujeito esbarre em sua falta, a partir do que o significante fálico, e portanto o desejo do Outro, faz com que o desejo se mantenha. Não há então mais nenhum traço da mãe. O desejo do homem segue em qualquer outra direção. Pensemos no pequeno Hans, arrastado em relações de desejo quase universais antes que a tenaz da neurose o re conduza ao i ncesto. Mas se enfim o desejo de fato abre ao homem o acesso à Coisa e a sua falta, a Coisa não é a mãe como mulher do pai e como uma dada pessoa individualizada, e sim o lugar onde se preencherá a falta, o Ne benmensch de que fala Freud. O gozo absoluto não pode então ser proibido: ele é impossfvel. Compreende-se aos poucos que tudo gira em torno da questão da proibição. Será a lei a proibição? Ou será a proibição apenas uma forma da lei? Entende-se também o sentido dessa diferença. Proibir a mãe é agir co-
171
Lacan e a ftlo.sofia
mo se existisse o Bem Soberano, como se, no lugar da Coisa, não fosse a falta o que se experimentasse. De qualquer modo, essas apresentações não deixam de aparecer nos textos de Lacan. Senão, vejamos: "O que é preciso ter em mente é que o gozo é proibido a quem fala como tal, ou ainda, que ele só pode ser dito nas entrelinhas por quem quer que seja sujeito da lei, já. que a lei se funda nessa mesma proibição."70 E quanto à relação entre a lei e o desejo, encontra-se freqüentemente a idéia de que o desejo é, tal como o desejo pela mãe, aquilo que é proibido pela lei: em vez de a lei orde nar que se deseje, o desejo seria aquilo que a lei condena (e que simples mente faz existir por condená-lo - Lacan diz, por exemplo, que a lei que prolbe a mãe impõe o desejâ-la).71 E no entanto, é certo que o pensamento mais profundo de Lacan acha se em outro lugar. Numa seção particularmente densa da Ética, onde ele apresenta o objetivo ético da análise (e o de toda a existência humana) como sendo o confronto com o desejo e com a morte, Lacan afirma que o que a análise articula é que, fundamentalmente, é mais cômodo sofrer a proibição do que expor-se à castração. 72 Para Lacan, existe uma moral que nada tem a ver com a proibição e com o superego. Desde a primeira seção desse se minário ele indagava se o verdadeiro dever não seria ir contra esse supere go. Assim, cabe distinguir, de um lado, a lei da castração tal como está. ins crita na fala, e a atitude ética que requer que nos confrontemos com ela; e de outro, a proibição, que é a forma sob a qual a lei se apresenta no complexo de Édipo; e a atitude neurótica que consiste em fugir ao desejo e preservar se imaginariamente da castração que ele implica. Se o verdadeiro Édipo, o da tragédia: o que "não tem complexo de Édipo", proclama ao final de sua vida o p.f7 cpúvcxt , "antes não ser", essa é, para Lacan, a marca de uma existência humana perfeitamente realizada, onde não se morre da morte de todos, de uma morte acidental, mas da verdadeira morte onde se zomba de seu próprio ser. Como o desejo de Édipo é "saber a palavra final sobre o de sejo", ele está. preparado para transpor o limite. Diante do "herói", que não é outro senão o ser mortal, Lacan coloca aquele que foi o vfnculo de seu de sejo e da morte, e encontra refúgio no Édipo, no complexo de Édipo. É pos sfvel medir ar a renovação decisiva da teoria do inconsciente trazida pela análise lacaniana. Não mais se trata de que a moral seja, muito empírica mente, o efeito da interiorização de uma ameaça (sem falar numa convenção utilitarista pela qual os homens renunciariam ao exercfcio da violência entre si). Lacan reencontra a idéia filosófica de uma moral cujo mandamento se coaduna com o próprio ser do ente humano. A moral não é um feito da neu rose, nada tem de psicológico. Para Lacan, o verdadeiro erro consiste em "renunciar ao próprio desejo", e como o neurótico, o "edipianizado", renun ciou a seu desejo (não que ele não deseje, é claro, e teremos que esclarecer o que se passa com o desejo na neurose), ele é marcado por uma culpa ra-
desejo inconsciente e lei fÜl castraçiio
179
dical. Culpa cuja verdade é dissimulada pela interpretação edipiana (ele se sente culpado por transgredir a proibição em seus sintomas). Há uma lei mo ral perfeitamente separada da proibição proveniente do superego, assim co mo a ameaça de castração aqui implicada nada tem a ver com a castração inscrita na lei do desejo: Lacan enfatiza que a interiorização da lei nada pode fazer com a lei, que o superego pode servir de apoio à consciência moral, mas nada tem a ver com a consciência moral no que concerne a suas exi gências mais obrigatórias. Tal teoria rompe, sem dúvida, com a letra de Freud. E essa é uma das razões por que Lacan não deixou de "reservá-la". Para Freud, de fato, a lei não é outra coisa senão a proibição. A interdição provém, primeiramente, do pai real (o da horda primitiva de Totem e Tabu), que ameaça os filhos com a castração caso eles infrinjam a proibição. Depois ela se interioriza, após o assassinato do pai, na instância psíquica do superego. É então que a lei as sume para o homem um valor que lhe parece totalmente interior. Freud, co mo bom empirista, atribuiu no entanto uma origem exterior à lei, ao afirmar, por outro lado, que o superego era uma estrutura universal e inultrapassável do ser humano, independentemente das circunstâncias psicológicas ou históri cas. Todavia, para fundamentar uma verdadeira universalidade do superego (e do recalque a que ele está essencialmente ligado), teria sido necessária uma outra concepção - não empirista - da linguagem. Nesse caso, a lei que apareceria não teria sido a proibição edipiana, mas a lei da castração, a que se deduz do significante. Pois a proibição edipiana só tem a universalidade da estrutura neurótica, que pressupõe a universalidade radical da lei da cas tração, presente em qualquer estrutura. O próprio Freud sabe que o supere go é uma formação neurótica, um sintoma (fala numa "formação reativa [ou seja, num certo tipo de sintomas] ao complexo de Édipo").73 Mas o ponto de partida neurótico da psicanálise, junto com seu próprio empirismo, impedem nos de ir além da neurose e de pensar precisamente a sublimação. Que é então a proibição em relação à lei? Em que a proibição caracte riza a neurose? A proibição tem, a princfpio, a forma da lei. Parece especifi car-se tão-somente pelo caráter negativo daquilo que comanda. E pode ser aproximada do imperativo categórico de Kant, uma vez que não pressupõe nenhum "projeto" por parte daquele a quem é intimada. Lacan rechaça essa aproximação entre a proibição (do superego) e o imperativo categórico na Ética, mas a efetua, como veremos, em "Kant com Sade". Uma aproxin1a ção inaceitável, contudo, pois não há proibição sem ameaça. O que introduz uma "condição": "Se não queres sofrer o castigo, então. . ." Portanto, mais valeria falar num imperativo hipotético. Só que segundo um modo muito par �cular, de vez que a condição só se prende à relação que se estabelece com aquele que interdita. Daf o caráter próprio da proibição: a relação do
180
Lacan e a filosofia
sujeito com a subjetividade de quem enuncia a proibição: é o essencial. O proibidor dispõe da força e desperta o medo através de sua ameaça; acima de tudo, porém, ele demanda algo ao outro. Dois elementos estranhos à lei da castração. Que demanda o proibidor? Não, como pode parecer, que o sujeito se abstenha de certa ação, mas demanda um desejo. A ação, de fato, é secun dária. Se o sujeito não soubesse que ela é proibida, o proibidor não poderia executar a punição. Esse saber não se refere à ação, e sim àquilo que o proibidor demanda. Trata-se pois, para o sujeito, não de fazer ou não fazer, mas de conformar-se ou transgredir. Poder-se-ia pensar que a escolha é fa cultativa, mas isso não passa de uma aparência, e não há outro bem coloca do pela proibição senão num desejo transgressor. A proibição torna desejá vel somente aquilo que é proibido e que o interditar reserva para si mesmo (já que a proibição só pode valer para o proibidor: nova especificidade da proibição). Ela conduz, portanto, a uma rivalidade do sujeito com o proibidor. Sem que a trangressão se realize, não tanto em razão da ameaça, mas por que a simples oposição afetiva ao proibidor é o próprio lugar do desejo. Para a proibição, o desejo, reduzido unicamente à fantasia, já é suficientemente desejo. E assim, a proibição torna o sujeito sempre culpado. A análise da proi tlição faz surgirem pouco a pouco todos os elementos da estrutura descrita pela teoria psicanalítica sob a denominação de Com plexo de Édipo. E isso porque, se a proibição é uma forma da lei e se a lei só pode estar referida ao pai, a proibição deve vir do pai. E o que pode o pai proibir senão o desejo por aquele mesmo objeto que ele supostamente de seja, e de maneira exclusiva, ou seja, a mãe? Toda proibição remete à proi bição do incesto. Assim, qual a relação a ser determinada entre a lei da castração e o complexo de Édipo? A tese de Lacan é a seguinte: a proibição (e o desejo proibido, que é inseparável dela) recalca a lei da castração. Permanecer em conflito com o pai proibidor é mais fácil do que encontrar-se só diante da morte apresentada na castração. Pois a castração não é a ameaça de cas tração pressuposta na proibição. Ao falar no "pai real" enquanto agente da (verdadeira) castração, Lacan diz que a verdadeira castração não é a cas tração da fantasia, mas a operação real introduzida pela incidência do signi ficante, qualquer que seja ele na relação do sexo. 74 O É dipo faz com que se fixe o mito de que há um objeto do desejo, de que o gozo não é impossível, e sim proibido. É essa a ilusão em que faz crer o desejo incestuoso, e é por isso que ele é recalcador, exatamente como o próprio ato de proibir, do qual ele é apenas a outra face. Não se deve confundir desejo proibido com desejo recalcado. O que é recalcado é a castração e o desejo que ela implica, que não é o desejo incestuoso da neurose. O que é recalcador é a proibição e o
desejo inconsciente e lei da castração
181
desejo proibido. A dificuldade provém do fato de que o desejo proibido é a forma assumida pelo desejo no É dipo. O que confirma a célebre formulação de Lacan de que "o recalque e a volta do recalcado são a mesma coisa". 75 O desejo proibido é, simu ltaneamente, aquilo que recalca e a emergência do recalcado. Mas o essencial aqui é sublinhar que ele não passa da outra face da proibição: deseja-se a mãe para entrar em rivalidade - imaginária, é claro - com o pai. E o ódio daí decorrente, a certeza da "maldade do outro", dis simulam a morte e a castração. O desejo proibido é um desejo que perma nece na fantasia: é o sintoma. Recalcar é amar a proibição que se sofreu, é amar nessa proibição. Amar e odiar a si mesmo, assim como amar e odiar o outro. Que o É dipo constitui um véu para dissimular a castração é algo que Lacan diz muito claramente desde o seminário sobre O desejo e sua inter pretação, quando retoma um célebre sonho de um paciente de Freud, primei ro para ali fazer aparecer o recalque, mas também para mostrar o que de fato se dá com o desejo para além do Édipo. É o sonho de um homem que acaba de perder o pai a quem amava, após uma longa agonia: "Seu pai es tava vivo outra vez e conversava com ele como out rora. Ao mesmo tempo, contudo, sentia de maneira extremamente dolorosa que, não obstante, o pai já estava morto, só que ele não o sabia."76 Lacan acrescenta primeiro, se guindo Freud: "Seu pai já estava morto . . . segundo seu desejo [o do menino] só que ele não sabia que [o menino] desejava isso." Desejo da morte do pai, que estaria recalcado no texto do sonho. Porém Lacan vai mais longe: o pai aqui é o sujeito em que o filho se transformou, e é próprio do sujeito, fadado à ex-sistência, estar morto enquanto significante, e não querer saber. O engo do do rival serve para dissimular a morte e a castração. O mito do assassi nato do pai é o que permite alimentar a ilu são da possibilidade do gozo ab soluto. 77 E a culpa ligada ao desejo de morte eterniza (isto é, imaginariza) o pai. Todavia, é precisamente essencial, para Lacan, não confundir o pai real e o pai imaginário. Essa distinção é capital . Para Lacan, é preciso separar as funções de um e outro desses pais no declínio do Édipo, de modo que não se misturem duas coisas distintas numa só, evocando o pai como castrador e o pai como origem do superego. 78 O pai castrador é o pai real, diz Lacan. Por quê? Se o pai real é castrador, é na medida em que ele "se ocupa" daquela diante de quem a criança rivaliza com ele: a mãe. O que importa não é o aspecto de rivalidade, que remete ao imaginário, mas o caráter efetivo do desejo do pai. Desejando, ele se posiciona como castrado. E é a castração do pai que é castradora para a criança. O pai imaginário é aquele que se gostaria que fosse "realmente alguém", e é também "aquele que, afinal de contas, fez tanto mal a ele, garoto". O pai imag inário é a origem do superego, é o que se interioriza como personagem que deveria ter sido perfeito e digno de amor, personagem avaliado independentemente de seu ser de desejo. Ele é o ob-
182
Lacan e a filosofia
jeto do ódio, aquele a quem é dirigida a perpétua reclamação, que permane ce fundamental na estrutura do sujeito, por ele estar tão mal. E o paradoxo, característico do imaginário, é que, quanto mais qualidades "pessoais" tem o pai, mais se experimenta a falta em relação ao ideal. Daí as observações amiúde feitas por Freud a propósito do superego, dizendo que ele é tão mais cruel quanto mais se fica submetido à proibição por ele formulada como um edito. A proibição, portanto, deve ser distinguida da lei do desejo e da cas tração. A proibição depende do complexo de Édipo e das formações neuróti cas; não fornece a verdade do desejo humano. Para Lacan, os grandes mi tos freudianos, tanto o do Édipo quanto o de Totem e Tabu, remetem à neu rose. Histérica, num caso, e obsessiva, no outro. E Lacan deixa claro que não é por se tratar de produtos neuróticos que a verdade da construção fica em nada contestada. 79 Verdade da construção porque as estruturas neuróti cas são efetivamente destacadas , mas o que é mais profundo no desejo humano, por isso mesmo, também falta. Esse é o primeiro erro possível sobre a lei do desejo, erro do qual se poderia dizer que é a interpretação neurótica da castração. Uma lei proibido ra, que não ordena desejar e assumir a castração, renunciando ao gozo ab soluto impossível, mas que, sendo inteiramente negativa, e justamente por ser negativa, leva à crença ilusória de que hâ um gozo absoluto possível: bastaria a morte do pai para que . . . Mas queremos apontar agora um segundo erro possível - e, desta vez, seria a interpretação perversa da castração: tratar-se-ia então de deixar surgir o que se poderia chamar de "verdade" do superego. A lei da castração seria tomada como uma lei radicalmente positi va, que mandaria gozar. O próprio Lacan diz que, afinal, é isso o que ordena o superego proibidor: "Nada força ninguém a gozar, senão o superego. O superego é o imperativo do gozo Goza!"80 Um apelo ao gozo sexual ab soluto, à não-castração. Ordem impossível de satisfazer, onde Lacan faz com que se veja a origem de tudo o que é elaborado sob a denominação de consciência moral.81 É essa formulação que nos cabe comentar agora, para precisar o que se dâ com o segundo erro acerca da lei do desejo. -
33. LEI DO DESEJO E VIOLtNCIA A INTERPRETAÇÃO PERVERSA DA CASTRAÇÃO
Se a proibição é a interpretação neurótica da lei e recalca a castração, a lei que intima a gozar deve ser considerada como sua interpretação perversa. Também ela é uma tentativa de evitar a castração, não mais através do re calque, mas pela recusa. É como "lei do gozo", porém, que Lacan apresenta a lei no fascinante texto de "Kant com Sade". Nosso propósito é mostrar que o que ali se diz sobre a lei só é válido quanto ao que dela faz a perversão. Para Lacan , Sade (a perversão) enunciaria a verdade do pensamento moral
desejo inconsciente e lei dLz castração
183
de Kant (a neurose) . Ou seja, a crueldade essencial do Outro ao qual a lei está referida. A lei moral, ao exigir a ultrapassagem do prazer e do conforto do sujeito, não seria concebível sem uma violência exercida sobre ele, para maior gozo do Outro (e, finalmente, do sujeito). De l.ITl lado, porém, tal lei não é a lei da castração implicada no significante, que exclui qualquer exercício, efetivo (a perversão) ou potencial (a neurose), de uma violência; por outro lado, o que Lacan diz sobre Kant nesse texto só é válido quanto à interpreta ção neurótica da lei, e não quanto a Kant; por fim, a ética proposta por La can, freqüentemente próxima de Kant, opõe-se tanto à proibição quanto a uma "lei do gozo", e pretende que nos confrontemos com a castração efeti va, fazendo o luto radical de qualquer "gozo puro". A leitura de "Kant com Sade" impõe, por conseguinte, que o situemos em meio a outros textos de Lacan, e portanto, no quadro da teoria do significante. Encontram-se em "Kant com Sade" elementos absolutamente essen ciais do pensamento de Lacan. Primeiro, a ultrapassagem do campo do bem estar e do prazer em nome do desejo, da verdade, da lei. A lei implica (mas de que modo?, eis aí o problema) um confronto com a negatividade radical, e finalmente com a morte. Essa mesma ultrapassagem, Lacan a encontra em Kant e em Sade, no filósofo da moral rigorosa e no escritor das mais espan tosas perversões. Kant, com efeito, contrariando os moralistas clássicos, recusa para a moral o princípio de uma busca da felicidade. A ação não pode ser moral por nenhum objeto que proponha a si mesma, mas apenas pela conformidade de sua máxima à forma pura da lei (a universalidade). Isso, é claro, fundamentado no fato de que, para Kant, o real empírico não passa do fenômeno, não podendo jamais a presença da coisa em si ser garantida ali. Para Kant, portanto, não há moralidade senão na desconfiança de qualquer bem-estar. E Lacan vê na concepção sádica o mesmo combate da lei contra o bem-estar e o conforto da autopreservação. Em La philosophie dans /e boudoir, Sade propõe como regra de uma sociedade absolutamente republi cana (está-se em 1 795) que a abolição da propriedade do homem sobre ho mem se estenda até a de si sobre si mesmo, e que o direito ao gozo seja re conhecido sem limites: "Tenho o direito de gozar com teu corpo, pode dizer me qualquer um, e esse direito, eu o exercerei sem que nenhum limite me detenha no capricho das exações que ali tenho o gosto de saciar".82 Lei oposta a qualquer prazer sossegado (notemos, desde logo, que a leitura la caniana só tem sentido por esse destaque da oposição entre o prazer e o gozo: Sade não é então o apóstolo do prazer desenfreado, e sim da exigên cia de gozo). Lacan mostra que ela não tem outra substância senão sua forma, consistindo o bem na abstenção de referência ao bem-estar pessoal. É uma lei moral, portanto, segundo as próprias e mais rigorosas exigências de Kant. Exceto que, é claro, a lei de Sade pressupõe a submissão ao Ou tro. Mas Lacan observa, apropriadamente, que o imperativo categórico de Kant provém em nós do Outro, da Razão como Outro. E logo sublinha, no
184
Lacan e afilnsofta
fio reto de sua teoria do significante, que Sade desvela melhor o que em rea lidade se passa nessa relação do homem com a lei: "na qual a máxima radi cal é pronunciar-se desde a boca do Outro, o que é mais honesto do que re correr à voz de dentro, já que ela desmascara a refenda comumente esca moteada do sujeito.eJ" Segundo Lacan, o que Sade mostra, e que não cessa de se dissimu lar na concepção kantiana, é a presença, na lei, do gozo do Outro. Não que o sujeito seja "ao Outro" - pois um bem é algo que se preserva, de que se quer poder servir-se. Estamos aqui além de qualquer utilidade. A lei leva o sujeito, aquele que a ela está assujeitado, a fazer a experiência de sua falta de ser, pelo fato de que, para a lei, ele só é como morto. E aí que se atinge o gozo do Outro. A lei impõe ao sujeito passar pela dolorosa divisão que dele separa o objeto (o que é encenado na fantasia). Faltando em Kant, o objeto da lei está em primeiro plano em Sade; ele é aquele que já se submeteu à lei e que vai assegurar sua aplicação, agindo segundo a vontade do Outro; esse é o agente da tortu ra. Ele é, para o sujei to, a terrível presença de sua divisão, mas também aquilo através do qual ele acederá, por sua vez, ao gozo. A lei, tanto em Kant como em Sade, determi na um certo bem vinculado a uma dor infligida ao sujeito, sem que .se leve em conta seu bem-estar e seu prazer. Sade esclarece além de Kant: esse bem é gozo, no Outro enquanto sujeito que enuncia a lei, e gozo preso no sofrimento do sujeito que Lacan diz ser o "sujeito do enunciado". Surge en tão o "fundo mortífero de qualquer imperativo". Finalmente, Sade teria destacado o que está oculto em Kant: a cruel dade do Outro da lei, e o gozo que ele retira por fazer com que o sujeito (mas também este, enquanto real, foi e continua a ser o sujeito da lei) passe pela violência que leva até além do prazer e dos limites de seu ego. Há aqui, de certa maneira, uma proximidade com as concepções de G . Bataille, que si tua tanto o gozo do erotismo quanto o das experiências místicas na ruptura da "descontinuidade do ser"84 que constitui o princípio do ego. Lacan retira argumentos de tudo o que diz Kant sobre o caráter humilhante da lei moral e do prejuízo que ela causa ao amor próprio: ao falar do sentimento "que de corre da consciência dessa coação" [pela lei], Kant escreve que "ele não contém em si, portanto, como submissão a uma lei, isto é, como ordem (o que indica uma coerção para o sujeito sensivelmente afetado), nenhum pra zer; mas enquanto tal, contém antes o desprazer ligado à ação" .85 A propó sito da vontade de goL;O da qual o torturador se faria instrumento na fantasia sádica, Lacan concluf: "Portanto, é efetivamente a vontade de Kant que se 91"\,COntra no lugar que só pode chamar de gozo para explicar que é o sujeito reconstituído da alienação, ao preço de ser apenas instrumento do gozo. Assim, Kant, por ser torturado 'por Sade', isto é, com Sade desempenhando aí a função . . . de instrumento, confessa aquilo que é evidente no 'Que quer ele?' que doravante não faz falta a ninguém."es Ou seja, o gozo que im-
desejo inconsciente e lei da castração
185
plica o sofrimento do sujeito. A vontade de gozo que produz essa divisão ou refenda do sujeito, pela qual ele é sujeito, de um lado, e de outro, afanise ou esvaecimento, ou seja, objeto a. É essa a divisão dolorosa que lhe ordena a lei. Divisão que é o tema da fantasia, donde a efetivação da fantasia na reali dade, que caracteriza o mundo sádico. E é por aquilo que se efetua em Sade permanecer em Kant como divisão totalmente "interior" que se pode dizer que é a verdade da concepção kantiana que é proposta por Sade . Essa é, pelo menos, a apresentação própria de Lacan. Que pensar dessa aproximação? Sem dúvida é necessário, em primeiro lugar, para arti cular corretamente essa concepção, indicar com precisão o que aqui se dá com a lei. O essencial é o relacionamento do tema da lei com o da pulsão de morte. Seria pela percepção filosófica dessa relação (ou seja, também pela da presença de um contra-senso radical no plano do mundo) que Kant teria sido levado a recusar o ponto de vista da felicidade e do prazer moral. Ora, o que se deduz da teoria do significante é a existência de uma lei que intima o sujeito a desejar, e que implica a castração, não como uma violência exerci da, mas como o modo da negatividade presente no desejo enquanto verdade parcial. A pulsão de morte, que não é violência pura, prende-se não ao de sejo, mas à falta do objeto, e a lei da castração não é, de modo algum, aquilo que introduz a morte e a pulsão de morte, e não faz mais do que fixar uma negatividade que a ultrapassa. Mas a lei tal como a apresenta "Kant com Sade" é inteiramente dife rente: lei que afirma o direito ao gozo por todos os meios, e particularmente pela violência. Não que ela esteja implicada ali como simplesmente possrvel e, nessas condições, permitida, e sim como prescrita. Justamente para que desponte o gozo. Essa lei não diz outra coisa senão o que serve de fundo ao imperativo do superego segundo Lacan: Goza! Pois aquele que é assim as sujeitado não é simplesmente o joguete do gozo do Outro, mas, com a divi são que nele se marca na abjeção da crueldade por ele sofrida, entra tam bém, ele próprio, além de qualquer princfpio do prazer, no gozo, advindo co mo objeto separado da fantasia. Por conseguinte, de um lado, é uma lei es tranha à primeira vista, já que parece prescrever o que seria a própria imora lidade, ou seja, usar e abusar do outro livremente (mas, de. fato, trata-se de ir pessoalmente além de qualquer limite do prazer para atingir o gozo); e de outro lado, está em nítida oposição tanto à lei da castração quanto à proibi ção. Lei radicalmente positiva, porquanto convida a um gozo absolu to, ilimitado, ao passo que a proibição aparece como uma lei negativa, e a lei da castração, como uma lei que ordena desejar, mas anunciando a afanise do desejo; porém lei que prescreve a violência, lei de crueldade, ao passo que a proibição não faz mais do que ameaçar, e a lei do desejo e da castra ção modula uma negatividade sem introduzi-la, e sem que se possa falar em violência.
186
Lacan e a filosofoJ
Nessas condições, como interpretar "Kant com Sade"? Parece justo que essa lei forneça a "verdade" da lei da proibição (muito embora também se possa dizer que a proibição fornece a verdade dessa lei de gozo: "SifiiRi ca e coberta de feridas, a mãe continua proibida [em La philosophie dans le boudoir]. Nosso veredicto está confirmado na submissão de Sade à lei";87 porque ele precisa da lei "para nela encontrar a oportunidade de ser desme suradamente pecador"). Por quê? Porque a lei do gozo é a interpretação per versa da lei da castração, assim como a lei da proibição é sua interpretação neurótica. Num caso e no outro, dissimula-se o fenômeno fundamental: a falta do objeto do desejo. Atemo-nos pois à fantasia, IXJSto que nela o objeto é efetivamente separado, mas não desaparece. A perversão, em particular, liga-se à fantasia. Para ela, trata-se sobretudo de que alguém goze com a "dor de existir" (com o risco, e é esse o caso do sadismo, de "lançar de no vo no Outro essa dor. . . " - de modo que é o masoquismo que fornece a forma fundamental da perversão). De tudo se deve poder extrair o gozo. Que não haja negatividade que se perca. A perversão vive nesse mito do gozo absoluto. Mas não se deve ser levado a crer, pela apresentação perversa, que a lei em seu âmago mais profundo :::>eja, afinal, violência. Af reencontrarfamos o discurso empfrico-crrtico mais comum, e a edificação da ética tornar-se-ia impossfvel, ao passo que, justamente, a teoria lacaniana do significante a permite e requer. Em "Kant com Sade", o pensamento kantiano é "interpre tado", retorcido até poder ser apreendido dentro da perspectiva do superego, como formação neurótica, e uma certa visão comum da moral kantiana esta ria pronta para ler dessa maneira a teoria do imperativo categórico. Mas a moral de Kant nada tem a ver com o superego. Não há nenhuma crueldade na lei. E o "desprazer" evocado na citação que lemos da Crftica da Razão Prática, ou até mesmo a humilhação, não são separáveis de um sentimento de "elevação"88 e de "sublimidade"89 ("Mas há tão pouco, ao contrário [Kant sublinhara que o respeito nada tinha de um "sentimento de prazer"], de um sentimento de dor nisso, que, uma vez que se tenha renunciado à presunção [ao ego] . . . é im!XJSSfvel fartar-se de contemplar a majestade dessa lei, e a alma crê elevar-se ainda mais quanto mais vê essa santa lei elevada acima dela e de l"ua natureza frágil"90). Não há tampouco nenhuma proibição: se a moral kantiana condena a mentira, não se deve dizer que a lei proiba. Não há nenhuma ameaça caso se minta. Há simplesmente a contradição na má xima do ato. Quando se é livre, eis como se age . . . A moral de Kant asso cia-se à "ética da psicanálise" e não se relaciona com a interpretação que dela propõe Lacan nesse texto, através do superego e da proibição. Para confirmar a articulação que acabamos de apresentar entre a in terpretação neurótica da lei como proibição, a interpretação perversa da lei como lei de gozo, e a concepção kanto-lacaniana de uma lei que ordena de sejar e pressupõe a finitude (sem proibição), basta que se considere como
desejo inconsciellle e lei da castração
187
são apresentadas, em Lacan e em Kant, as posições morais que correspon dem às interpretações que descrevemos como perversa e neurótica. O prin dpio delas é sempre a afirmação de que se deve buscar um grau absoluto de gozo e felicidade. Já a lei da castração, assim como a moral de Kant, recu sa essa perspectiva. Nos dois mitos em que está implicado o tema da morte do pai, o mito de Édipo e o de Totem e Tabu (onde ele vê, respectivamente, as formações neuróticas histérica e obsessiva), Lacan faz surgirem duas rela ções opostas entre a lei e o gozo absoluto.91 A primeira, segundo a qual se guir a lei é assegurar o gozo para si mesmo, segundo a qual o gozo, em sua profusão, é garantido pela lei: a lei é então primordial a tal ponto que exerce suas represálias mesmo quando os culpados só a infringiram inocentemente (é o mito de Édipo). A segunda, de acordo com a qual a lei decorre do gozo original (da lei produzida em Totem e tabu, que prolbe todas as mulheres do grupo à comunidade dos machos, Lacan salienta igualmente os correlatos de perversão no canibalismo sagrado). Poder-se-ia, numa outra linguagem - a saber, a de Kant -, dizer que há nos dois casos uma relação analftica entre a lei e o gozo absoluto. Ora, para Lacan, é tão falso dizer que o gozo absoluto é obtido seguindo-se a lei quanto dizer, inversamente, que a lei tem sua origem no gozo, e não tem ou tra ordem senão o "Goza!" Encontramos, nessas d1,1as teorias sobre as re lações entre o gozo e a lei, o que trnhamos dito sobre as interpretações neu rótica e perversa da lei. (Poder-se-ia objetar, com justa razão, que os dois mitos são formações neuróticas, respectivamente, histérica e obsessiva, ao passo que nós, e o próprio Lacan, ligamos o segundo a algo da ordem da perversão - mas é que, como veremos, o obsessivo, por todo um aspecto de sua fantasia, reencontra imaginariamente a perversão). Para Lacan, se a lei de fato conduz a um gozo, este é apenas um gozo mesclado. E que lo go iremos precisar como gozo fálico. Portanto, não há mais relação analrtica do que relação sintética entre a lei e o gozo absoluto. Lacan hão é Kant (cf. § 18): a Coisa não é distante "em si" e incognoscrvel, mas impossfvel. De modo que o Bem Soberano, que re sidiria na concordância entre a conformidade à lei moral, na virtude, e a fina lidade, não pode sequer ser objeto de uma postulação moral como a de Kant.92 A despeito dessa diferença fundamental, surge na crrtica de Kant a mesma recusa de concepções que afirmem uma relação analltica entre lei e gozo absoluto, virtude e felicidade. Assim é que Kant combate as morais an tigas cujo fim era sempre a felicidade: o estoicismo, que aqui podemos apro ximar da interpretação neurótica, e o epicurismo, que remete à interpretação perversa: "Dizia o epicurista: ter consciência de sua máxima conducente à verdade, ar está a virtude; e o estóico: ter consciência de sua virtude, eis a felicidade." A lei do gozo pressupõe que o sujeito se torne "instrumento do goro do Outro", segundo a caracterização fornecida por Lacan para a pnrvar-
188
Lacan e a filosofia
são.93 Quanto ao neurótico, ele prefere impor proibições a si mesmo, e se re cusa a "sacrificar sua castração ao gozo do Outro, deixando-o servir-se dela".94 Lacan não fala aqui da castração simbólica que o neurótico recalca, e sim da castração imaginária da fantasia. Mas o neurótico, em face do perver so, caracteriza-se pela insistência no outro aspecto da fantasia: não o objeto a, mas o sujeito ($). Ora - contrariando a divisão implicada na fantasia, ou se ja, a finitude própria da castração simbólica - é o sujeito castrado que, como sujeito da lei, é "imaginarizado", ora é o objeto. O fato de que ambos os termos tornam-se essenciais nas interpreta· ções neurótica e perversa da lei da castração encontra-se, efetivamente, em "Kant com Sade", que confere um lugar destacado à fantasia (e com justa razão, já que se deve, num primeiro nfvel, u ltrapassar a idéia de uma relação "intersubjetiva"). Assim, quando Lacan, após ter sublinhado o lugar do objeto como agente da tortura na fantasia de Sade, retoma a Kant (que sabemos ser por ele interpretado em termos neuróticos), escreve: "o objeto do desejo [não o objeto absoluto] não passa da escória de uma fantasia em que o su jeito não se recupera de sua sfncope . . . Ele vacila de maneira complemen tar ao sujeito no caso geral. É nisso que ele é tão inapreensfvel quanto, se gundo Kant, o é o objeto da lei. Mas aqui desponta a suspeita que essa aproximação impõe. Será que a lei moral não representa o desejo, na situa ção em que não é mais o sujeito, e sim o objeto, que falta ?"95 Em ambos os casos, há a dissimulação do outro aspecto, a potência do imaginário que re· cobre a presença da morte. A verdade do pensamento . lacaniano deve conduzir-nos, com a cas tração, para além da fantasia, em direção ao lugar primário que é o da Coisa. Pois é lá que o homem em seu desejo é colocado diante daquilo que deveria ser o Bem absoluto (a cuja ilu são se prendem as interpretações neurótica e perversa), e então esse Bem absoluto se marca por sua falta. Mas ele não é coisa alguma. O lugar tem uma importância essencial. Dar a rigorosfssima introdução, para esse objeto, do termo Coisa. 34
A COISA
O desejo não tem como objeto o objeto que Lacan denomina de objeto a, que só faz causá-lo e não pode mantê-lo. Tampouco tem ele como objeto o falo, que o mantém, mas pressupõe como já realizado o encontro com a falta do objeto absoluto. A experiência do real como dimensão radical do signifi· cante é o encontro originário com a falta de plenitude. Neste se situa a Coi· sa. Se quisermos partir do significante verbal, ela é o significante encarnado, real. O desejo não é originariamente suscitado por nenhuma outra coiS'a. É só depois, passado o choque com a falta da plenitude, que o significante fáli· co pode se estabelecer, ele que implica a falta do Objeto. Mais exatamente, o surgimento do significante fálico é o mesmo que a experiência da falta. Se
·
desejo inconsciente e lei da castração
189
existe o falo, não existe a plenitude. O encontro com a coisa é também, in separavelmente, o encontro com a castração. É sem nenhum nominalismo, que seria contrário a todo o seu pensa mento, que Lacan introduz aqui o termo "coisa" e fala em "a" Coisa É da es sência da Coisa ser .única, estranha a todo o domfnio das comparações e das normas, ou seja, ao mundo. A cada vez que se encontra uma coisa como tal, o tempo do mundo é abolido antes de ser reinstituído. E cada coisa é a Coi sa. Em outras palavras, o Outro originário do desejo, o Outro real. A mãe (mas não como mulher do pai). A rigor, nem sequer se pode falar na falta do "Objeto". posto que o conceito de objeto inclui uma determinação intramun dana de identidade e continuidade, tal como o de sujeito Trata-se simples mente de "a Coisa". A Coisa, portanto, é simultaneamente um mito, e totalmente diferente de um mito. Ela se deduz, de um lado, de o significante despertar a idéia de uma plenitude absoluta (sem a qual não se poderia falar em desejo) e, de outro, de ele impor, em seu próprio surgimento, a experiência da falta dessa plenitude. A Coisa é uma e não-uma. E desejada como uma no instante mesmo em que se "esgarça", segundo a castração que inflinge a si mesma ao infringi-la. Não é nada além do real do outro sujeito, encontrado quando o desejo de um esbarra no desejo do outro. Lacan diz que a Coisa é "o verdadeiro, senão o bom sujeito, o sujeito do desejo".96 Ou seja, ainda o corpo atravessado pela castração. A Coisa deve, primeiro, distinguir-se do objeto, e precisamente do ob jeto a, posto que não existe nenhum outro. O objeto está necessariamente li gado ao mundo e a sua temporalidade. É aquilo que sustenta o sujeito em sua ex-sistência. E na noção de objeto mais genericamente tomada encon tram-se a antecipação, a identidade e a continuidade que caracterizam o mundo: o objeto do saber, assim, é aquele que permanece idêntico através de diferentes proposições, e que as orienta numa direção comum . A Coisa, ao contrário, na medida em que é o significante encarnado, só pode ser exte rior ao mundo, e o encontro com a Coisa é da ordem do tempo real, aquém de qualquer antecipação. Se a fantasia se constitui a partir do encontro com o desejo do Outro, o objeto que aí se engendra serve de anteparo para um real que é o puro real da Coisa. Assim, Lacan diz na Ética da psicanálise, onde introduz o tema da Coisa, que de um lado existe esse objeto, a Coisa, enquanto Outro absoluto do sujeito, que se trata de enco[ltrar, e de outro aquilo que ele chama, quer de su�s "coordenadas de prazer" (não é ele que se encontra, diz Lacan, mas suas coordenadas de prazer), quer de objeto ou de representações. Uma distinção muito próxima da que faz Kant entre o objeto fenomenal e a Coisa em si. Uma certa realidade permanece acessível ao sujeito e sustenta a atividade de conhecimento, ao passo que escapa algo que, para Kant, se-
190
Lacan e a jüosofia
ria justamente o "em si" da Coisa, e que para Lacan é o significante em sua significância pura, aquilo que, ao mesmo tempo, faz com que se alcance a plenitude e que a afirma impossível. Lacan evoca a Coisa como o limite im possfvel de alcançar, para sempre perdido, da busca e do desejo. Mas a re ferência a Kant se confirma quando se considera o antigo texto de Freud em que se apóia Lacan para introduzir a "Coisa". Freud, marcado pelo neokan tismo de Brentano, assim apresenta o despertar do "conhecimento": há um encontro com o próximo (o Nebenmensch), a partir do qual se podem distin guir, de um lado, os traços do próximo que podem ser reconhecidos pelo sujeito em seu mundo e, de outro, o próximo como Coisa: "Assim, o comple xo do próximo divide-se em duas partes", escreve Freud, "uma das quais se apresenta como uma estrutura constante e, unificada em si mesma, perma nece como Coisa, enquanto a outra se deixa compreender por um trabalho de rememoração, ou, dito de outra maneira, deixa-se levar ante o anúncio de um movimento do próprio corpo .''��7 Logo, F reud sé separa de Kant, já que pa ra ele se produz uma divisão, mas permanece muito kantiano ao dizer que a Coisa é "unificada em si mesma". Sua divisão é uma divisão entre o objeto e a Coisa. Podemos duvidar de que seja essa a concepção concebida por La can ao falar da divisão originária que nos é dada como sendo a da experiên cia da realidade.98 A divisão é a da própria Coisa, onde surge o objeto. ·
Todavia, a introdução e o emprego do termo "Coisa", e, mais exata mente, "a Coisa", têm uma justificação mais essencial do que o destaque dado a um antigo texto de Freud cujas formulações não serão retomadas, e do que a referência a Kant. O "objeto" de Lacan é totalmente diferente do segundo aspecto do "complexo do próximo" evocado por Freud, e também do fenômeno de Kant. Faltam, nestes dois últimos casos, as características do lugar de emergência do objeto, ou seja, a fantasia. Se Lacan fala em "a Coisa", é porque a concepção do tempo implicada pelo significante leva a conferir um lugar preponderante ao conceito de coisa. Tendo emprego per manente fora da filosofia, esse conceito só pode ser secundário para a me tafísica, que se atém ao mundo e ao ser-no-mundo. Sua presença no pen samento de Kant, portanto, é essencialmente diversa do papel que desem penha na"leoria do significante e do inconsciente. Com "a Coisa", Lacan en contra antes, de fato, as análises de Heidegger, particularmente as da confe rência "A coisa". Cabe aqui mostrar que o que Heidegger diz sobre as "coi sas" mais cotidianas articula-se exatamente com as teorias de Lacan sobre "a Coisa" (materna). A Coisa está presente em todas as coisas . O que é, de fato, uma coisa? Oferecem-se de imediato duas determi nações, que levam ao vínculo da coisa com q significante (verbal) como tal. A coisa se caracteriza pelo fato de estar inteiramente na presença sensível. Mesmo quando se evoca uma coisa tão abstrata quanto um dizer qualquer ("Vou lhe dizer uma coisa . . . "), essa coisa está ali, presente no sujeito que
desejo inconsciente e lei d4 castraçiiD
191
fala. Sem nenhuma antecipação nem continuidade, como no caso do objeto. A coisa, por outro lado, é una. Porém sua unidade é totalmente diversa de uma unidade "interna", com um princfpio. Não é a unidade de uma diversida de de propriedades. Um caroço de maçã é uma coisa, se não o considerar mos como caroço e, portanto, em referência à maçã inicial. Tanto qual"1to a maçã, o caroço de maçã pode aparecer como "coisa". Logo, não é seu ser de fruto da macieira que faz da maçã uma coisa, e sim uma certa maneira de se relacionar com ela. A coisa só tem unidade sensfvel. Mas a relação com a Coisa como coisa não depende do homem e não é "constitul'da" pela subje tividade. A coisa não é o objeto. A relação com a coisa deve ser introduzida pela própria coisa, que coloca o homem diante dela. O homem advém então como aquilo a que se chamou sujeito da enunciação. Ao signifi�nte que surge na coisa (a unidade sensfvel no plano da estrutura fonemâtica) cor responde o outro significante, onde se situa o sujeito. Para Heidegger, "fora de sua nomeação, as coisas são chamadas e convocadas em seu ser de coisas".99 Nome e coisa estão, sem dúvida, liga dos de maneira fundamental. Mas o nome tem sempre uma face de signo, e, uma vez nomeada, a coisa vem inscrever-se num mundo onde desaparece como coisa. A coisa, poder-se-ia dizer em todos os sentidos da fórmula, "chama um nome" . Mas estâ aquém da nomeação, no nível do significante puro e sem significado que se mantém na outra face do nome. A concepção heideggeriana do tempo, se de um lado introduz o ato que produz o significa do, de outro exclui o plano de um significante puro. Que é o da coisa. Deixa da sem nome, ou até mesmo vivida como inominável, a coisa resiste melhor a sua dissolução na ordem do mundo (cf. das Unheimliche) . A Coisa, todavia, não recusa o nome, e até pede para ser nomeada. A "estrutura significante encarnada no sensível", que a caracteriza, surge co mo significante no tempo real, mas coloca-se também na temporalidade ima ginária do mundo. É o que podemos chamar de "esquema sensfvel" da coi sa, inteiramente análogo a um nome. Ou ainda, o significante enquanto es crito. Ao passo que o primeiro aspecto da coisa remete ao significante na fala. A coisa situa-se, pois, na articulação do real com o mundo. Heidegger diz ' com precisão: "A coisa unifica o mundo."100 Ela aparece no mundo, mas não lhe pertence. É , poder-se-ia dizer, o umbigo do mundo, onde se marca algo como um nascimento. Como então se efetua essa unificação do mundo? A coisa convoca e remete o homem ao colocá-lo como sujeito. O homem é implicado pela coisa enquanto falo, já que o falo é "o sujeito em sua realidade". Realidade do ho mem que olha a coisa. Mas, ao mesmo tempo, a coisa invoca um nome. Num primeiro sentido, isso significa que a coisa pede para ser nomeada. Num segundo sentido, que ela requer o advento do Nome em geral. Assim, a coisa implica não somente a realidade do homem que se acha em sua pre-
Lacan e a filosofia
19l
sença e a encontra, mas o Nome primordial, ou seja, o Nome-do-Pai, e a nomeação dela própria. O que vai instalá-la, a ela mesma, como sujeito, pela determinação daquilo que foi evocado como "traço unário". A coisa implica, finalmente, sua própria realidade, não sua realidade de sujeito (que seria também o falo), mas sua realidade de coisa. Essa realidade que o sujeito perde como sujeito, ou seja, a de objeto. Assim aparecem os quatro elementos da estrutura significante funda mental, inseparável da emergência do significado e do mundo. Se nos cabe dizer que a Coisa unifica o mundo, é porque o significante introduz ao mes mo tempo a idéia de sua unidade (ela unifica) e o real de seu esquartela mento, que exibe um mundo. Mas a coisa não institui o mundo que ela unifi ca. A instituição remete ao Nome-do-Pai, ao Pai simbólico e à lei. Lacan as sim evoca, como caracterlstica igualmente do pensamento de Kant, a pas sagem da Coisa à lei, com a realidade que ordena vindo finalmente substituir essa realidade muda que é a Coisa. A Coisa se apaga como significante diante do significante-mestre, que inaugura a distância fundamental. Essen cialmente próxima, de início, no estrondo da emergência significante (o Ne benmensch), a Coisa vem tomar lugar no espaço do mundo. Em sua pers pectiva do desejo do incesto, e portanto da neurose, Lacan diz, a propósito dos Mandamentos do Decálogo, que eles "estão ligados àquilo que regula a distância do sujeito à Coisa, sendo essa distância a condição da fala".1 01 A Coisa, no sentido mais cotidiano, é pois o significante que surge como significante, encarnado, no real. Realidade muda do significante puro, se a fala pressupõe o significado. Lacan diz que a Coisa "faz palavra", no sentido de que a palavra ( motus) é aquilo que se cala. Mas, ao mesmo tempo, ela introduz no mundo, por sua referência ao Outro da lei e do Nome. Toda coisa é, a cada vez, a oportunidade do encontro com "a Coisa", uma vez que aí se produz esse surgimento do significante verbal puro. Não em sua determinação espedfica (este significante em vez daquele outro, o que ·remete não mais ao real, porém ao simbólico), mas no corte de sua emer gência, ou seja, o instante da fala. Qualquer das coisas mais comuns, na medida em que nos convida a considerá-la como coisa, é o encontro com o outro sujeito em seu corpo, advindo à subjetividade. Mas se é a coisa que coloca o sujeito, e não o sujeito que coloca a coisa, considerar os objetos do mundo como coisas não pode ser um projeto do sujeito consciente que quer. É portanto "a Coisa", tal como se revela pela análise lacaniana como a ver dade de cada "coisa", e portanto a Coisa materna, que vem até o homem e lhe permite suportar a experiência de "habitá-la como poeta", característica do ser do homem na terra, como diz Heidegger. O que implica o encontro com as coisas como coisas, e o choque com a castração . Cóntudo, na existência comum, não paramos de tentar esquivar-nos dessa presença in suprimfvel da Coisa na fala, ou seja, também das coisas no mundo. =
·
desejo inconscienu e lei da castração
193
A introdução de "a Coisa" por Lacan nada tem de nominalista, e re mete pois a um conceito filosófico que se torna fundamental no pensamento que se segue "a metafísica". A análise de Lacan situa-se no prolongamento da de Heidegger, que põe em relevo o quadripartido da Terra e do Céu, dos humanos e dos divinos, na coisa. Onde já encontramos as quatro causas de Aristóteles e o esquema L de Lacan. Mas a teoria do significante permite atingir a face da Coisa pela qual ela permanece decididamente estranha ao mundo e ao próprio nome, e fazer com que apareça a "verdade" da coisa como "a Coisa" materna. Com Heidegger, Lacan concebe um mais-além do mundo que se separa radicalmente de qualquer possibilidade de mundo por uma diferença de temporalidade . O que não acontece com a "coisa em si" de Kant, que é ausência do mundo oferecido ao conhecimento do homem, mas não de todo o mundo. Porém Heidegger exclui qualquer unidade ontoló gica no nível da estrutura sensível pura, que, ao contrário, implica como ca racterfstica da verdade a teoria do significante. Ora, é isso o que requer o conceito de coisa. Poder-se-ia vê-lo nas análises muito precisas que Hegel faz da coisa. Conceito eminentemente contraditório para ele, pois, para a metafísica que Hegel, como diz Heidegger, leva até sua conclusão, só existe unidade pela essência que é determinação do idêntico que permanece através do tempo, independentemente da diversidade sensível. Hegel vê uma grande contradi ção entre a unidade que se supõe na coisa (mas sem fazer com que essa unidade apareça tal como é para ele, uma unidade "negativa", e da essência que nega o diverso) e, de outro lado, o diverso das propriedades. A cada vez, a coisa é a propriedade. Mas as propriedades são diferentes . Daí o te ma da "Coisa em si", que marca o recuo para fora das propriedades, que caem no não-essencial. Contradição perfeita de um exterior sem interior (as propriedades que em cada ocasião são a coisa), e de um interior sem exte rior (a coisa-em-si). 102 Para a teoria do significante, contudo, o um do ser, caso existisse, estaria justamente no nível do significante puro, da própria exterioridade, da coisa como coisa. A distinção clássica da coisa e de suas propriedades não permite que nos atenhamos à própria coisa. Corre-se in cessantemente o risco de introduzir no conceito de cois� uma continuidade, de fazer dela um "objeto". Hegel tem razão em partir, antes, de que a coisa é a propriedade (como determinação inteiramente sensível), de que a proprie dade é o fundo. Mas, como aquilo que permite distinguir a coisa, as proprie dades são, de fato, o que a coloca em relação com todas as outras coisas num mundo, o que Hegel mostra muito bem. A coisa como tal é então ultra passada. 103 Só se pode deter na coisa um pensamento que não conceba o tempo a partir do mundo. Como a teoria do significante.
194
Lacan e a filosofia 35.
O GOZO
A primeira éaracterística da relação do homem com a Coisa é, para Lacan, o gozo. Ele esclarece que "o desejo provém do Outro, e o gozo está do lado da Coisa ". 1 04 O gozo se produz no instante em que a Coisa aparece no es quartelamento de sua castração, isto é, quando o desejo do sujeito (na me dida em que ele próprio entre na castração - e do contrário a Coisa não po der,i a aparecer) encontra o desejo do Outro presente (que não é o Outro simbólico). Que acontece então? O sujeito advém como significante efetivo para esse "Outro" real, é colocado como o falo . E isso, no mesmo momento em que ele próprio coloca efetivamente a significância do falo. O gozo é a . experiência dessa significância. Gozar, em geral, é colocar o significante como significante. Pois não basta ser segundo um significante para gozar: ser segundo um significante é simplesmente desejar. No encontro com a Coisa, é o falo que é colocado como significante. Aí se produz o gozo sexual do orgasmo, que Lacan denomina de "gozo fálico" e que é a plenitude a que conduz propriamente o desejo como verdade parcial. Daí sua determinação como desejo "sexual". Tal como no caso da Coisa., e de maneira mais direta, a introdução por Lacan do termo gozo na teoria reveste-se de uma importância decisiva. O gozo é gozo do significante como tal e, portanto, da verdade. Dar decorrem duas conseqüências: primeiro e acima de tudo, o gozo deve ser oposto ao prazer, o que torna a pôr em questão o discurso clássico sobre a sexualida de e o empirismo em geral; depois, o gozo se distingue da felicidade, que é a forma sob a qual a tradição filosófica concebe a plenitude . Pois falar em gozo é apreender a verdade no nível do significante, segundo uma concepção do tempo que, tal como acontece com a Coisa, rompe com o conceito do tempo intramundano próprio da metafísica. Lacan se alia, antes , a toda uma tradi ção religiosa, que permaneceu marginalizada na história do pensamento e é ilustrada por Sto. Agostinho: a plenitude aí é gozo, e precisamente gozo apenas de Deus. Mas essa tradição (marginal, que mais não fosse, pela idéia notadamente cristã de uma "criação") pressupõe, sem tê-la trazido para o conceito, uma intuição totalmente diferente do tempo. A conseqüência essencial da introdução do gozo prende-se a sua oposição ao prazer. Pois o prazer é um bem que não implica nenhuma pre sença imediata da verdade e do desejo. O que explica que o discurso tenha feito dele, desde os primórdios da história da filosofia, o único bem, inteira mente relativo, que o ente pode buscar. Assim, Freud começa por postular o princípio do prazo; como determinando a tendência fundamental (o princípio da realidade, de início, não passa de um variante dele). Contudo, levado pe las exigências de sua experiência, ele tem que formular a hipótese de um "mais além do princípio do prazer". Onde Lacan situa o gozo. Não, sem dú-
desejo inconsciente e lei da castração
195
v1da, como gozo em geral, mas como o gozo fálico, que pressupõe a castra ção e, portanto, a presença da pulsão de morte. O gozo é, primeiramente, gozo fálico. Que ultrapassa a ordem do pra zer, a da pulsão parcial e da fantasia, pois é experiência do encontro com a Coisa. Que, por outro lado, como plenitude total e incontestável que é, impli ca a negatividade radical da pulsão de morte. Se esse gozo fálico é a forma primária do bem, Lacan não é Reich e não conclama a nenhuma liberação sexual por exaltação do orgasmo. Porque o gozo fálico é marcado pela ne gatividade, e se reencontra inteiramente no gozo neurótico do sintoma. Há um outro gozo que Lacan chama de "gozo do Outro", pura plenitude, que não pressupõe de imediato a pulsão de morte . Mas ele é exterior à teoria do desejo como verdade parcial, e só poderá ser considerado mais adiante. o gozo se distingue do prazer e chega até a se opor a ele, pois é gozo da verdade. Mas se articula com o prazer de um modo que deve ser apre sentado detalhadamente . Sto. Agostinho, ao sustentar que só se pode gozar em Deus, apóia-se na distinção do uso e do gozo. Diz ele: "Gozar, de fato, é apegar-se a uma coisa por amor a ela mesma. Usar, ao contrário, é restituir o objeto de que se faz uso ao objeto que se ama, se, todavia, ele for digno de ser amado". 1 05 E especifica, a propósito do homem: "Trata-se de saber se o homem deve ser amado pelo homem, por ele mesmo ou por outra coisa. Se for por ele mesmo, gozamos com isso, se for por outra coisa, usamos isso. Ora, a mim me parece que ele deve ser amado por outra coisa"; e, mais adiante: "Ninguém deve chegar a gozar por si mesmo; pois seu dever é amar-se, não por si mesmo, mas por Aquele em quem se deve gozar." 1 0 6 Oposição clara entre o meio e o fim, entre aquilo que não tem unidade por si mesmo e aquilo que é absolutamente uno e verdadeiro.
Mas bastará essa oposição para apreender o gozo? Por �ma dupla razão, não. Por um lado, o prazer opõe-se também ao uso e à utilidade, sem que, no entanto, nem o prazer nem seu "objeto" sejam fins em si . Por outro lado, se nos ativermos ao plano do mundo e de seu. finalismo pressuposto pela distinção agostiniana, a plenitude "final" só poderá, ser determinada co mo felicidade, e não como gozo. O gozo supõe .uma temporalidade diferente da felicidade. Tanto se deve dar razão a Emmanuel Lévinas quando ele su blinha que, em sua relação com os objetos de suas necessidades , o homem goza mais do que "usa", quanto é contestável a identificação que ele então faz entre felicidade e gozo . "A relação da vida com sua própria dependência diante das .coisas", escreve ele, "é gozo, o qual, como a felicidade, é inde pendência. Os atos da vida não são diretos e como que orientados para sua finalidade."1 07 Esse gozo situa-se além do fechamento do mundo do homem e de seu ego. Um gozo sublimatório, que não difere do gozo de ser, tão bem descrito por Rousseau. Pressupõe uma referência ao Outro no nível de uma
196
Lacan e a filosofia
"sacralidade", que o próprio Lévinas evoca.108 E o gozo como gozo está fora do mundo e fora de mim, diversamente da felrcidade. Contudo, deve-se reter um elemento essencial do relacionamento do gozo com o uso, pois ele é significativo do gozo em relação à felicidade. É a presença do tempo. Presença que não chega tanto a opor quanto a aproxi mar o uso e o gozo. Num quadro geral de tempo imaginário (o mundo, que excede o gozo), o uso prende-se à passagem do tempo, tal como o gozo. Não há gozo sem experiência de um fr�mento do tempo. Mas o tempo é aí, radicalmente, tempo real, e em sua positividade. A plenitude do gozo separa se da felicidade pela presença do tempo real. Algo permanece (o "objeto" do uso ou do gozo), em relação ao qual se efetua, no gozo, a experiência do tempo. É a experiência de uma plenitude que se prende ao próprio tempo, muito longe de aboli-lo. Ela se produz no corpo. Sem corpo, como se poderia gozar de algum modo? O gozo é inteiramente corpo, mesmo quando se tra ta, e chegaremos a isso, do outro gozo que Lacan diz ser "mental". O que só faz caracterizar o gozo como gozo do significante . De fato, o significante pressupõe uma temporalidade radicalmente ex tramundana, e uma unidade que não pode ter outro lugar senão o sensível, ou seja, um corpo. Lacan, após haver introduzido a idéia da ''substância go zante", precisa: "Um corpo, isso se goza. Isso só se goza por se corporizar de maneira significante"; e logo depois, "O significante se situa no nrvel ela substância gozante" .109 O gozo do significante não consiste simplesmente em ser segundo o significante, mas em colocar o significante como signifi cante. E a experiência da significância como tal. O tempo real não é outro senão a posição, que não é saber, mas experiência.110 Não pode haver um saber do gozo. O saber pressupõe a emergência do significado e do mundo, enquanto o gozo depende do significante. O gozo é experiência, tal como o sofrimento, sendo o go:z;o e o sofrimento os dois modos fundamentais de to da experiência. Enquanto posição do significante como significante, o gozo corresponde ao terceiro momento lógico do desejo1 1 1 (ou seja, a sua reali zação). Implicará ele um Outro, um "objeto" exterior com o qual se gozaria? Fala-se em gozar com um espetáculo, ou com coisas, e Sto. Agostinho, em gozar com Deus. Mas será possrvel gozar com o que já não é gozo em si mesmo? Quando se goza com Deus, tal como o evoca Sto. Agostinho, não é preciso que o próprio Deus goze. Essas questões deverão ser retomadas. O prazer que, tal corno o gozo, depende da ordem geral do bem, dele se distingue pelo tempo imaginário em que se situa o homem, e pela ausên cia nele de um princípio objetivo, de uma "verdade", o que não quer dizer que ele seja "sem objeto". Ele tem, justamente, o objeto chamado por Lacan de "objeto a". Objeto da pulsão parcial, do qual o prazer é, segundo Freud, uma das características principais. A presença desse objeto aparece ao conside rarmos a situação em que é sentido o prazer. Ainda que o prazer pareça eminentemente "subjetivo", sem nada que o fundamente nem na situação
tkMjo inconsciente e �i da castração
197
exterior, nem no próprio sujeito, onde ele é uma sensação ou sentimento es sencialmente fugaz. Mas há sempre uma determinada relação com a situa ção exterior. O prazer deixa o homem fechado sobre si mesmo e preserva seu mundo. E essa preser-vação é decididamente positiva. O prazer não é puro fechamento sobre si, mas há algo no real que permite esse voltar-se para si. Um tempo imaginário, preservado da invasão do real como puro contra-senso, graças à presença, no real, do objeto. O fato de o homem ser subtraído das garras do tempo pelo prazer é o que mostram, particularmente, os prazeres intensos, tal como um esplêndido presente para uma criança: o surgimento do objeto a sustenta então o sujeito em sua ex-sistência, pre serva seu mundo e, indiretamente, também seu desejo. Aparecendo o obje to, o sujeito pode agora retrair-se em si, mas deve em seguida voltar-se para o objeto que é a condição incerta dessa preservação. O prazer é, pois, inseparável do mundo que preserva, mas também da pulsão parcial, dbnde o retorno em circuito se acha exatamente na análise do prazer. Mundo e pulsão parcial aliam-se no limite da fantasia, que Lacan diz "constituir o prazer próprio do desejo" . 1 1 2 Tal como a fantasia, que é "o avesso do mundo" e o suporta, o prazer preserva esse mundo, mas ultra passa seu finalismo. Aristóteles diz muito bem: "O prazer completa o ato, não como o faria uma disposição imanente ao sujeito, mas como uma espé cie de fim advindo por excesso, tal como aos homens no vigor da idade vem acrescentar-se a flor da juventude." 1 1 3 O prazer é um "suplemento" ao ato intramundano, que preserva o mundo pressuposto pelo ato, mas desde seu avesso. Isso também se aplica aos atos em que o prazer parece ser o único fim, na "vida de prazer" em geral. É apenas aparentemente que se pode fa zer do prazer um fim, mas, quando o prazer se produz, estamos sobre o ou tro lado, o da fantasia, e não mais exatamente no mundo. Os elementos sig nificativos do mundo são sempre trazidos pelo "objeto". O prazer produz-se então como atividade pulsional que contorna o objeto e marca o investimento das superfícies do corpo. Freud fala na descarga de uma tensão, mas foi preciso enunciar certas ressalvas quanto a esse ponto. Ele próprio exprimiu as sutilezas de sua tese e evocou um certo ritmo na descarga. Mas a positi vidade do prazer, mascarada por uma tradição que •vai desde Platão até Freud, e para a qual o prazer é antes de mais nada "cessação da dor" , 1 14 deve ser sublinhada. Indiretamente, sem dúvida, o prazer preserva o desejo. É ainda preciso que se marque a castração, mas ele pressupõe a presença do objeto a, objeto para o desejo . . Podemos agora compreender que Lacan tenha visto no gozo a deter minação primária do "mais além do princípio do prazer". Ultrapassando os limites de seu mundo e de seu ego, do narcisismo onde "ronrona" no prazer, o gozo confrontaria o homem com ele mesmo, o que equivale a dizer, tam bém com sua finitude. Mas nem por isso alguma ordem do prazer puro, ou
198
Lacan e a filosofia
seja, do imaginário puro, precederia o aparecimento perturbador do simbólico e do gozo. Em razão do ponto de vista neurótico aqui denunciado muitas ve zes, os textos de Lacan freqüentemente oferecem essa apresentação. Com a conseqüência de que a pulsão é ligada ao gozo e de que uma nova ambi güidade pode surgir quando Lacan chama o objeto a de o "mais-gozar" (Me hrlust). É o que acontece com a pulsão: "O caminho da pulsão é a única fonna de transgressão que se permite ao sujeito em relação ao principio do prazer . ... O acossamento do princ(pio do prazer pela incidência da pulsão parcial, ar está por onde podemos �nceber que as pulsões parciais, ambí guas, estão instaladas no limite ( ... ) da manutenção de uma homeostase."115 Essa homeostase é, para Lacan, a do vivo enquanto preserva sua unidade contra a morte. Mas não hâ unidade imaginária inicial (biológica) que a ordem "propriamente humana" do simbólico viria atravessar. Lacan não pode, com sua teoria do significante, retomar o mito freudiano (abandonado a partir de Além do Princípio do Prazer) de um ego original indiferente ao exterior e funcionando para manter a homeostase, e que aos poucos distingue no exte rior aquilo que traz e sustenta o prazer e aquilo que suscita desprazer. O objeto é, efetivamente, aquilo que, da Coisa, permanece prisioneiro no cam po do princípio do prazer, porém constituindo-o. O prazer é compreendido e ordenado a partir do desejo e do gozo, e não o inverso. Por ser objeto para o desejo, e enquanto tal vestígio da Coisa, o objeto a pode ser enunciado co rno "mais-gozar", porém não é "objeto de gozo" . 116 Nenhuma outra relação se pode estabelecer com ele, a não ser a pulsão, com o prazer que é efeito dela. O gozo que vai além do princípio do.prazer, no sentido em que Freud toma essa ultrapassagem- na pulsão de morte-, é o gozo sexual, ou gozo fálico. É quando o desejo do sujeito encontra o desejo no Outro que surge a Coisa, e é nesse instante que se produz o gozo. O Outro se faz coisa ao posicionar o sujeito como o falo, e o sujeito acolhe em si, ao mesmo tempo que sua própria significação como falo, a presença da morte. É simultanea mente que ele tem acesso à Coisa e à castração. Plenitude do gozo, mas reservada ao próprio falo, que é, segundo Lacan, o que goza propriamenteplenitude inseparável da "suspensão" do resto do corpo. O gozo fálico é de fato realização do desejo, mas realização radicalmente falha e parcial. En tretanto, ele é o lugar primordial onde se comprova para o sujeito a "instân cia" de uma plenitude absoluta que só aparece em sua falta. Lacan propõe que no ato genital, que a psicanálise transforma no centro de qualquer reali zação da felicidade, nesse único momento, um ser pode estar para outro no lugar simultaneamente vivo e morto da Coisa. Uma possibilidade polarizado ra, mas que só pode ser pontual. 117
desejo inconsciente e lei da aJStração 36.
199
A PULSÁO DE MORTE
A emergência da pulsão de morte é o segundo aspecto do encontro do ho mem com a Coisa. No instante do gozo, a Coisa falta. O lugar do objeto do desejo se esvazia e produz-se a "afanise" ou desaparecimento do desejo. A pulsão de morte exibe-se então como uma verdadeira pulsão, mas sem ne nhum objeto que seja da ordem do objeto a. Aquilo cujo circuito ela faz não é o objeto, como nas pulsões parciais, mas o vazio da Coisa. Que se encontra no próprio interior do sujeito, escavado pelo gozo, na medida em que, como gozo fálico, ele se separa do corpo do sujeito. Poder-se-ia dizer que a pleni tude da turgescência fálica se dá em detrimento do corpo, que ela toma ca vo. O "enchimento" do falo, a concentração do ser nele, provoea no corpo uma "depressão". O sujeito, então, não passa da Coisa enquanto esvaziada. A pulsão de morte não é nem violência, nem tendência efetiva para a morte, mas o modo essencial pelo qual se presentifica no homem a negativi dade implicada pelo significante. Não se trata de negatividade pura, e a rela ção com o significante é pressuposta. É quando o sujeito coloca em si o sig nificante fálico em sua significãncia, e portanto goza através da Coisa, que se manifesta a pulsão de morte. Mas ela já é implicada pelo significante a partir do qual o sujeito é como sujeito desejante, ou seja, o traço unário e a identificação simbólica (S2). ·
Determinemos mais exatamente essa relação da pulsão de morte com o significante. Primeiro, o significante S1 aparece no real- é a Coisa; o su jeito aclvém como o outro .significante S2, que traz em si a negatividade e a castração. Mas, enquanto seu desejo vai para a Coisa, o sujeito não é su jeito, e sim ser falante, e o S2 que ele sempre é não faz experimentar a ne gatividade Uá que é justamente a falta no lugar da Coisa que irá "revelá-la") . Depois vem o esquartelamento d a Coisa, o sujeito é reconstiturdo como su jeito pela posição do significante nele em sua significãncia, e goza. Contudo, no mesmo momento produz-se a pulsão de morte, que estava implicada no significante do sujeito como tal (S2), havendo esse significante permanecido no processo. Não há apropriação do significante fáliCQ em sua significãncia sem que seja pressuposto um outro significante tal que, desde logo, traga em si a negatividade da pulsão de morte. Mas esta, até então "potencial", só se produz propriamente com o gozo. Vemos, portanto, seu vfnculo com o significante, mas segundo um modo especifico. Pois devemos distinguir: 1) o significante enquanto posto em sua significãncia (o gozo); 2) o significante enquanto "tomado por objeto do desejo" (o significante primário S1 , que é Ini cialmente a Coisa, e depois o Pai simbólico); 3) o significante do sujeito co mo tal, que traz inscrita nele de antemão a experiência da negatividade e da pulsão de.morte; 4) o significante a partir do qual o ser falante deseja a Coi sa, ou seja, o significante do sujeito sem essa experiência da negatlvidade.
200
Lacan e afilosofia
É o significante que cava o vazio em torno do qual ele se ordena. Li gando a pulsão de morte ao desejo dentro de uma certa "vontade", Lacan diz que ela é vontade de destruição, vontade de começar de novo, vontade de criação a partir de um nada que o significante inflige àquilo que é. 1 1 8 Com efeito, é a partir do vazio, da falta da Coisa, que se efetua a emergência de um sujeito pelo significante. Criação do desejo a partir do vazio. Mas o vazio se deduz do próprio significante, e precisamente sob as aparências do signi ficante enquanto se repete. A repetição é a característica essencial desse modo do significante que impli� a pulsão de morte.1 1 9 Pois o que se repete é o contra-senso, mas um contra-senso que abre, ao mesmo tempo, um es paço de sentido segundo o tempo real. E foi na repetição que a teoria psica nalítica pôs em destaque a pulsão de morte. A idéia de uma pulsão de morte parece tão comum que nos podería mos perguntar por que terá ela criado tantas dificuldades. Experiência, pura e simplesmente, da "dor de existir", diz Lacan, tendência a se desfazer do far do de ser, reviramento contra o próprio desejo. Lacan evoca, na Ética, o 11� .,oúvCXL (antes não ser!) de Édipo chegando ao fim. Mas isso contraria muito a evidência própria do mundo e do ser-no-mundo. Insistindo no papel da pulsão de morte no domínio de Sade e na "evidência original" da dor de existir para os budistas (por exemplo), Lacan assim escreve sobre todos os que contestaram a noção da pulsão de morte: "Não se deve esperar nada, nem mesmo desespero, contra uma asneira, em suma, sociológica [ou seja, o utilitarismo social])."t 2o A teoria psicanalítica descobre a pulsão de morte a partir dos fenôme nos de pura repetição com que é incessantemente confrontada: repetição do sintoma, repetição na transferência. É em Além do Princípio do Prazer, em 1920, que Freud formula a hipótese de uma tendência própria à repetição, que iria necessariamente além do princípio fundamental qoe ele propusera classicamente para o psiquismo, ou seja, a busca do prazer: repetição, de fato, não do que provocaria o prazer, e sem nenhuma intenção de corrigir o passado, mas repetição pura, onde ele vê a expressão de uma pulsão que se opõe à vida e a sua abertura para o novo. A busca do prazer, na medida em que implica, para Freud, a descarga de uma tensão e o retorno a um es tado anterior, seria habitada pela pulsão de morte. Com a qual, entretanto, se mesclaria a pulsão de vida, ao menos para a manutenção de um certo nível de tensão vital. Pode-se duvidar de que a pulsão de morte seja efetivamente um movi mento em direção ao desaparecimento da vida e de qualquer organização. Mas os fenômenos de repetição não podem, sem dúvida, ser apreendidos sem algo como uma "pulsão de morte". Falta em Freud a noção do signifi cante, para evitar o biologismo da pulsão de morte. O que se repete é um significante. Toda repetição, seja ela de um gesto ou de um acontecimento, é
desejo inconsciente e lei da castração
201
repetição de uma certa estrutura, mas que rx>demos precisar como "signifi cante" se considerarmos a situação da repetição. A repetição é um contra senso, certamente, mas em relação a liTl sentido cujo espaço ela abre ao mesmo tempo em que o denega, em relação a um. novo absoluto que rx>deria ter sido plenitude absoluta. A repetição não é nem reexame, nem hábito de recomeçar: nela não se fica fechado no contra-senso, não se perde o senti do pouco a pouco, não se conhece nenhuma intenção de fazer melhor. O tempo real, com uma positividade pura, é pressuposto por aquilo que se re pete, mas pressuposto como aquilo cuja falta se experimenta. A teoria do significante permite ver no que se repete um significante, decerto não o sig nificante que surge como significante (e ocupa o lugar do Objeto que irá apa recer em seu vazio), mas o outro signficante enquanto marcado, de imediato, por uma negatividade, que é justamente a da pulsão de morte. A qual, no entanto, só explode com o gozo. A repetição é inseparável do encontro com a Coisa, na medida em que esta "essencialmente é encontro faltoso", como diz Lacan. 1 21 Encontro contingente do significante S encarnado no real,1 22 donde a referência de 1 Lacan à 7 ÚXTI do livro 8 da Física de Aristóteles: é uma contingência feliz, que poderia ter sido querida pelo homem, porque caminha no sentido de seu desejo.1 23 Mas o encontro é faltoso, e a repetição marca o que Lacan chama também de "perda do gozo", que se prende ao vazio da Coisa e à pulsão de morte. O objeto a aparece nesse ponto. Na medida em que ocupa o lugar da Coisa, ele leva o homem a crer que com o gozo sexual se oferece um gozo absoluto. Ele é, a um só tempo, aquilo que só ganha sentido pela pulsão de morte, e aquilo que introduz as pulsões parciais, causa o desejo e relembra o gozo. Marca a ausência do gozo absoluto e alimenta seu mito. Para Lacan, é no lugar dessa perda introdutora da repetição que surge a ficção do objeto perdido.1 24 A repetição supõe, portanto, a pulsão de morte, mas também a proximidade essencial do gozo, fura da qual ela perde todo seu sentido. O mais além do princípio do prazer é, simultaneamente, a pulsão de morte e o gozo. Em que deve essa pulsão de morte, que provoca com o gozo o en contro faltoso com a Coisa, caracterizar-se precisamenle como uma pulsão (e não como um "instinto", a despeito da tradução freqüente- criticada, mas às vezes retomada por Lacan- do Trieb fr&udiano)? O essencial numa pul são é sua temporalidade, que a distingue imediatamente do des ejo; é seu objeto; e é finalmente o papel da superfície do corpo, onde se haviam situado as fontes das pulsões parciais. Todos esses elementos são reencontrados na pulsão de morte. O "objeto" não é o objeto a, e .::orno o objeto a é o único objeto, poder-se-ia adiantar que a pulsão de morte não tem objeto. Mas o que ocupa o lugar dele é o vazio da Coisa, cujo circuito é feito pela pulsão de morte antes de ela retornar à superfície, conforme a reversibilidade caracte rística de todas as pulsões. Superfície que, para começar, é interior, já que o ·
Lacan e a filosofia
l02
vazio da Coisa se cava ro próprio corpo do sujeito, o que constitui a condi ção de qualquer pulsão. Se retirarmos da Coisa aquilo em função de que ela suscita o desejo, ela passa a não ser mais do que a presença, no exterior, do mesmo vazio que está também no interior do sujeito na pulsão. Daí Lacan dizer que ela é aquilo que de dentro do sujeito é levado para fora. 125 Deve mos frisar, contudo, que a P.Uisão não é anterior ao desejo e que, ao contrá rio, é preciso deduzir a pulsão de morte e o vazio interior e exterior do signi ficante que coloca o desejo, antes de mais nada, e da Coisa como o desejá vel. Todos os elementos da pulsão de morte reúnem-se ro grito, já evo cado a propósito da pulsão invocadora. O grito é a voz, privada daquilo por meio do qual ela pode ser objeto para o desejo do Outro. Voz que não é nem articulada e imperativa, nem sequer modulada. A propósito de um quadro de Edvard Munch, intitulado o grito, Lacan fala dessa imagem onde a voz se distingue de qualquer frase moduladora, diferindo o grito até mesmo das for mas mais reduzidas da linguagem pela simplicidade - faltam-lhe a implosão, a explosão e o corte. 1 26 O grito não é primeiramente apelo, mas faz surgir o silêncio. Não que o grito seja suportado pof este, sendo o silêncio o fundo, mas sim o inverso. O grito constitui o sorvedouro onde o silêncio se precipi ta, diz Lacan. E evoca em seguida o nó formado pelo silêncio entre algo que é um instante antes de se apagar e a Outra Coisa onde a palavra .pode fa lhar: é esse nó que ressoa quando o grito o cava. O "buraco do grito" é um buraco interior, mas é também o da Coisa. A pulsão de morte penetra nesse buraco interior, retomando em seguida à superffcie. Assim, o grito cava o corpo - e, ao mesmo tempo, ressoa no espaço onde a Coisa falta. É nesse nível do grito, diz Lacan, que aparece o Nebenmensch [A Coisa] - buraco intransponível, marcado 110 interior de nós mesmos, e do qual nos conse guimos aproximar com dificuldade. A p!Jisão de morte é sem objeto, porque nela o sujeito se transforma no nada que é a Coisa "esvaziada", e não pode mais suscitar nenhum desejo. É aí que a falta do Objeto absoluto é experi mentada como falta de qualquer otfJeto.1 27
NOTAS 1. 2. 3. 4.
S, S, S, S,
X. XI, p. 142. XVII. XI, p. 167. (Ed. brasileira, p. 174.) 5. lbid., p. 60. (Ed. brasileira, p. 63.) 6. lbid. 7. lbid., p. 61. (Ed. brasileira, p. 63.) B. lbid., p. 162. (Ed. brasileira, p. 168.) 9. lbid., p. 164. (Ed. brasileira. p. 170.)
desejo inconsciente e lei da castração
203
1 0. lbid., p. 95. (Ed. brasileira, p. 1 01 . ) "O objeto a é algo de que o sujeito, para se constituir, se separou como órgão. Isso vale como sfmbolo da falta, quer dizer, do falo, não como tal, mas como fazendo falta. É então preciso que isso seja um objeto- primeiramente, separável- e depois tendo alguma relação com a falta." 1 1 . lbid., p. 1 53. (Ed. brasileira, p. 1 60.) 1 2. lbid., p. 1 63. (Ed. brasileira, pp. 1 69·170.) 13. lbid., p. 1 77. (Ed. brasileira, p. 1 84.) 1 4. lbid., p. 1 78. (Ed. brasileira, p. 1 85.) 1 5. C!.S, IX. 1 6. S, XI, p. 163. (Ed. brasileira, p. 1 70. ) 1 7. lbid., p. 1 60. (Ed. brasileira, p. 1 66.) 1 8. lbid., p. 1 50. (Ed. brasileira, p. 1 56. ) 1 9. S. Freud, Métapsychologie, trad. francesa, Paris, Gallimard, "ldées", 1968, p. 21 . [Trad. brasileira in Artigos sobre Metapsicologia, Vol. XIV da Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Rio de Janeiro, lmago.] 20. S, X. 2 1 . C!. cap. 111, §§ 21, 22, 23 e 24. 22. O Outro aqui considerado por Lacan é a mãe, que é supostamente o sujeito que tem um mundo. A necessidade de modo algum questiona- já que ela é falta do ines sencial por definição - a dominação do sujeito, sua unidade imaginária e sua suficiência essencial (c!. p. 00). 23. S, XI, p. 96. (Ed. brasileira, p. 1 0 1 . ) 24. E, "SSDD", p . 81 7. 25. lbid. 26. Com respeito à relação pulsão-desejo na perversão, c!. § 59. 27. C!. S, XI, p. 1 65 (Ed. brasileira, p. 1 72): "Sublinho que a pulsão não é a perversão." 28. S, XI, p. 79. (Ed. brasileira, p. 83.) 29. J. Supervielle, Les amis inconnus, Gallimard, "Poésie", 1 978. 30. S, XI, p. 79. (Ed. brasileira, p. 84.) 31 . lbid., p. 74. (Ed. brasileira, p. 78.) 32. S, X. 33. S, XI, p. 1 78. (Ed. brasileira, p. 1 84.) 34. lbid. 35. S, XI, p. 96. (Ed. brasileira, p. 1 02. ) 36. M. Blanchot, Le livre à venir, Paris, Gallimard, "ldées", 1 959, pp. 9-1 9. 37. P. Soupault, Cinquante-deux contes de tous les pays, Paris, Club Français du Livre, 1 953. 38. S, XI, p. 35. (Ed. brasileira, p. 38.) 39. S, VI. .
40. S. Freud, Essais de psychanalyse, "Le Moi et le Çal', trad. francesa, Paris, Pa lite Bibliothéque Payot, 1 972, p. 226. [Trad. brasileira, "O Ego e o ld", Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, V oi. XIX, Rio de Janeiro, lmago.] 41 . S, VI. 42. S, XI, p. 220. (Ed. brasileira, p. 229.) 43. S. lsaacs, Le développement de la psychanalyse, "Natura et fonc� on du fan tasma", trad. francesa, PUF, 1 966. [Trad. brasileira, "A Natureza e a Função dà Fantasia", in Os Progressos da Psicanálise, Rio de Janeiro, Zahar, 1978.] 44. E, "DC", p. 637. 45. G. Óeleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1 969, pp. 245-252. 46. E, "DC", p. 637.
Lacan e a filosofia
204
47. S, X. 48. S. Freud, Cinq psychanalyses, trad. francesa, Paris, PUF, 1954. [A citação de Freud aparece, em l fngua portuguesa, em "H istória de uma N eurose Infantil", Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Vol. XVII, Rio de Janeiro, lmago.] 49. E, "TPs", p. 554. 50. E, "IT", p.216. 51. S, XI, p. 245. (Ed. brasileira, p. 258. ) 52. E, "KS", p. 769: "A reciprocidade, relação reversível por se estabelecer sobre uma linha simples, para unir dois sujeitos que, por sua posição 'recíproca', tomam essa relação como equivalente, dificilmente tem oportunidade de se colocar corno tempo l ógico de alguma transposição do sujeito em sua relação com o significante." Cf. também a p. 774, onde Lacan fala em "uma identidade que se fundamenta numa não-reciprocidade ab soluta". 53. S, XI, p. 41. (Ed. brasileira, pp. 43-44.) 54. lbid., pp. 58-59. (Ed. brasileira, p. 61.) 55. S, X 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
"SPh", p. 692. VIl. S, XI, p. 152. (Ed. brasileira, p. 159. ) E, "SSDD", p. 823. No sentid o exato de um gozo sexual absoluto. Cf. § 51 e cap. VIl. lbid., p. 822. E, "TPs", p. 583. Voltaremos a esse ponto nos §§ 43-44, a propósito da escrita, e nos §§ E,
S,
58-59. 64. lbid., pp. 554- 555. 65. S, XVII. 66. E, "SSDD", p. 820. 67. S. Freud, La vie sexuelle, "Sur la sexualité féminine", trad. francesa, Paris, PUF, 1969. [Trad. brasileira "Sexualidade Feminina", Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, Vol. XXI, Rio de Janeiro, lmago.] 68. E, "ROL", p. 683. 69. lbid., p. 684. 70. E, "SSDD", p. 821. 71. S, X. 72. Será que a verdadeira análise, a que prepara alguém para se tornar analista, uma vez chegado o seu término, não consiste, indaga Lacan, em confrontar aquele que a sofre com a morte como realidade da condição humana, devendo a função do desej o per manecer em sua relação fundamental com a morte? 73. S. Freud, Essais de psychanalyse, "Le Moi et le Ça", trad. francesa, Paris, Pe tite Bibliothêque Payot, 1972. [Trad. brasileira, "O Ego e o ld", Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, V oi. XIX, Rio de Janeiro, lmago.] 74. S, XVII. 75. S. I, p. 216. (Ed. brasileira, p. 222.) 76. S. Freud, "Formulation sur les deux principes du cours des événements psy chiques", trad. francesa, Psychanalyse à /'Université nº 14, março de 1977, p. 195. [Trad. brasileira, "Formulações sobre os dois princfpios do funcionamento mental", Edição Stan dard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, V oi. XII, Rio de Ja neiro, lmago. ) 77. S, XVII. 78. S, VIl.
desejo inconsciente e lei da castração 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97."
205
S, XVIII. S, XX, p. 10. (Ed. brasileira, p. 11. ) S, XVIII. Formulado por Lacan, E, "KS", pp. 768-769. lbid.
G. Bataiile, L'érotisme, Paris, col. "10/18", Introdução. E. Kant, Critique de la raison pratique, trad. francesa, Paris, PUF, 1943, p. 85. "KS", p. 775. lbid., pp. 789- 790. E. Kant, Critique de la raison pratique, trad. francesa, Paris, PUF, 1943, p. 85. lbid. , p. 93. lbid., pp. 81- 82. S, XVIII. Ct. a existência de Deus corno postulado da Cn1ica da Razão Prática. E, "SSDD", p. 823. lbid., p. 826. E, "KS", p. 780. E, "ROL", p. 656. S. Freud, Projet d'une psychologie scientifique, citado in M. Satouan, Qu'est-ce que /e structuralisme?, Paris, Seuil, 1960, p. 258. 98. S, Vil. 99. M. Heidegger, Acheminement vers la paro/e, trad. francesa, Paris, Gailimard, 1976, p. 24. 100. M. Heidegger, Essais et conférences, trad. francesa, Paris, Gallimard, 1958, p. 215. 101. S,.Vil. 102. Dar o que diz Hegel, e que contraria Kant "A coisa-em-si pura, enquanto abstração da coisa, é uma definição contrária à verdade" (Science de la logique, "Logique de l'essence", trad. francesa, Paris, Aubier-Montaigne, 1964, p. 130). 103.G.M.F. HEGEL, Phénoménologie de I'Esprit trad. francesa, J. Hyppolite, Pa ris, Aubier-Montaigne, t. I, cap. 2. ' 104. E, "TF", p. 853. 105. Sto. Agostinho, A Doutrina Cristã, citado por T. Todorov in Théories du symbole, Paris, Seuil, 1977, p. 39. 106. lbid. 107. E. L évinas, Totalité et infini, Haia, Nijhoff, 1971, p. 84. 108. lbid., pp. 125-127. 109. S, XX, p. 26. (Ed. brasileira, p. 36.) 110. Ct. , com respeito ao gozo mlstico, S, XX, p. 71 (Ed. Brasileira, p. 103): "Eles o experimentam, mas não sabem nada dele." 111. Ct. a dedução da pulsão fálica, ligada, segundo Laca h, ao "gozo no Outro", § 29. 112. E, "KS", pp. 773- 774. 113. Aristóteles, Ethique à Nicomaque, trad. francesa, Paris, Vrin, 1967, X, 4, 1174b. 114. Platão, Filebo. 115. S, XI, p. 167. (Ed. brasileira, p. 174. ) 116. Ct. § 51. 117. S, Vil. 118. S, Vil. 119. .Ct. S, XVII. 120. E, "KS", p. 777
206
Lacan e afilosofia
J 21 . S, XI, p. 54. (Ed. brasileira, p. 57.) 1 22. O "significante encarnado no real" que é a coisa deve ser distinguida do feti che, ou seja, do Nome-do-Pái (51 em seu outro aspecto) transformado em objeto (cf. § 41 ). 1 23. CF. S, XI: "O que se repete, com efeito, é sempre algo que se produz- a ex pressão nos diz bastante sua relação com a tiquê- como por acaso", p. 54 (Ed. brasileira, p. 56.) 1 24. S, XVII. Essa situação do objeto a levou Lacan a chamá-lo de "mais-gozar". 1 25. S, VIl. 1 26. S, XII. 1 27. O significante que provoca esse esvaziamento do corpo é, para o corpo que ele "envolve" (isso se aplica a qualquer "hábito"), como a túnica de Nessa. À semelhança dela, em seu aspeck> de objeto a ele fascina. Mas o esperma do gozo fálico com que o centauro a besuntou queima Hércules e o "impele-à-morte".
terceira p�rte
O Desejo Inconsciente e o Imaginário do Discurso
37.
INTRODUÇÃO
Como pode a teoria do desejo inconsciente manifestar-se num discurso? Hâ nisso uma contradição entre a idéia do inconsciente, que remete ao signifi cante e à càstração, e o discurso, que se situa, antes de mais nada, no pla no do significado, e pretende introduzi( nele t.ma coerência perfeita. Todo discurso, qualquer que seja a tese por ele sustentada (até mesmo a da falta de coerência do discurso), reúne uma dversidade de proposições que con vergem para uma tese fundamental única. Assim, devemos falar, no que tange à teoria do inconsciente, numa ilusão constitutiva do discurso. Mas is so não o impede, de maneira alguma, de existir e ser sustentado por um su jeito, nem de afirmar, quando for o caso, a tese do desejo inconsciente. "Não hâ universo do discurso", diz Lacan, mas isso não quer dizer, como ele logo deixa claro, que a teoria seja impossível e que o discurso não se sustente. A tarefa deve consistir, agora, em demonstrar de que modo o discurso pode ser compatível com o inconsciente. Ao dizer e ao dito do discurso corres pondem as duas seguintes dificuldades: 1) Como pode o sujeito falante, que é enquanto sujeito o efeito do significante e dele sofre a castração, ter lugar no dis,curso e sustentá-lo? 2) Como pode o discurso enunciar realmente o inconsciente, sem negâ-lo no momento mesmo em que o afirma?
À primeira dificuldade devemos responder com t.ma teoria das estrutu ras psíquicas, que chamaremos de "existenciais", e com a evidenciação da sublm i ação. Explicitemos essa dficuldade. O fenômeno do discurso impõe a
idéia de uma dimensão esj)edfica, que podemos considerar como sendo a do imaginário. Uma relação com o outro que não pode ser de desejo nem de pulsão, e que Lacan evocou como senQo a da demanda. De fato, não se
208
Lacan e a filosofia
trata de uma plenitude real, que como tal suscitaria necessariamente o de sejo. Mas a plenitude está presente, ainda que como imaginária, e isso exclui a pulsão. Para aquele que formula a pergunta, o outro que responde através do discurso se dá como perfeitamente uno em seu ser e como aquele que sabe. Há, portanto, uma relação real com uma plenitude, que não podemos sequer dizer que seja vivida como real (o que provocaria o desejo), posto que algo é demandado - nesse caso, o saber - para si mesmo. Trata-se de uma plenitude decididamente imaginária, mas que vale como tal para o su jeito, porque ele se identifica com ela. Ora, entre essa dimensão imaginária da demanda e o desejo, a articulação se afigura problemática. O desejo im� plica a castração e a falência de qualquer plenitude, enquanto a demanda se justifica através da plenitude imaginária. Se '-!-·:>ermos tentar resolver essa dificuldade, não nos deveremos ater à oposição geral entre a demanda e o desejo. O imaginário não existe em si, nem independentemente do significante. Ele é, ao contrário, uma das diz-menções que se deduzem do significante, tal como o simbólico e o real. Criticando a redução do significante ao simbólico, da qual ele próprio não está inocente, Lacan diz claramente que o semblante, ligado ao imaginário, não é outro senão o significante em si mesmo.1 Nessas condições, diferentes mõdos do imaginário e figuras diversas da demanda se deduzem da estrutu ra significante quadripartida que é constitutiva do inconsciente. E, em cada ocasião, as articulações da demanda com o desejo conduzem a diferentes estruturas existenciais. ôentre as quais a neurose, é claro, que está pre sente em alto grau no contexto da prática psicanalítica, mas também a su blimação, que continua a ser, para a teoria do inconsciente, o grande ponto problemático. Como fim almejado pelo tratamento analítico, a sublimação é a estrutura em que o sujeito falante pode assumir um lugar no discurso e sus tentá-lo em seu nome. A contradição entre a demanda e o desejo, ou ainda entre o discurso e a fala, é ar mitigada (por mais que não se resolva) pela emergência de uma nova relação do homem com a linguagem, que é a es crita.
À segunda dificuldade responderemos através de uma teoria dos dis cursos, dentre os quais o discurso analítico será o único capaz de enunciar o inconsciente como tal. O problema se coloca nos seguintes termos: como enunciar a existência do inconsciente, sem, pelo próprio ato do discurso que diria o inconsciente, negar o conteúdo daquilo que se enuncia? Pois não é por se dizer "o inconsciente existe" que se sustenta um discurso cuja tese seja realmente a existência do inconsciente. É preciso ainda poder pensar plenamente essa afirmação, e levá-la até o fim ·sem contradição. Ora, todo discurso pressupõe uma coerência perfeita e se apresenta como exibindo um saber constJ'Tlado. Quanto à idéia do inconsciente, ela implica uma falta de saber radical, que concerne ao próprio sentido do ato de enunciação do
desejo inconsciente e imaginário do discurso
209
discurso. Parece, pois, que sustentar um discurso sobre o inconsciente co
mo tal é impossível. A solução para essa dificuldade reside numa consideração mais pre
cisa do que é um discurso. Um discurso não é simplesmente um dito, nem mesmo um dito cujo dizer pudesse ser posto em evidência: um discurso é uma situação. E é no contexto global de uma situação de discurso que o discurso sobre o inconsciente como tal torna-se concebível. Com efeito, o que é preciso para que o discurso que enuncia o inconsciente não negue em seu ato o inconsciente que afirma? Que ele desperte no outro que questiona o significante puro, irredutível - aquilo que Lacan denomina de significante mestre. Para esse outro, o discurso se afigura então como fazendo advir, através do desejo que está nele, um significante que ele não pode dominar de antemão num saber. Nenhum outro modo do significante poderia fornecer a presença radical do inconsciente em relação ao discurso, do ponto de vista do outro. É tão-somente desde o lugar do outro que um discurso sobre o in consciente pode ser confirmado, caso produza no outro o significante puro. O limite inconsciente do saber é então posto em ação. Esse discurso é o discurso analítico, e a situação que ele constitui não é outra senão a própria situação do tratamento analítico e da transferência. Daí a afirmação de Lacan de que o destino da idéia do inconsciente depende dos analistas, e sua obs tinação em falar aos analistas e em tentar uma formação de analistas. De fato, qualquer outro discurso que não seja um discurso sustentado desde o lugar do analista na situação anaiRica nega o inconsciente. O discurso ana lftico não é nem ciência do inconsciente, que ignoraria o sujeito do incons ciente, nem saber especulativo, para o qual o sujeito não mais poderia ser sujeito do inconsciente, mas antes uma situação em que o ditó do incons ciente é sustentado pelo efeito de seu dizer no outro. Esse discurso tem lu gar numa teoria de discursos que se deduzem, em sua diversidade ordena da, da estrutura quaternária da situação de discurso (aquele que sustenta o discurso, o outro, o efeito do discurso sobre ele, e finalmente, o dito) e do deslizamento, sobre essa estrutura, da cadeia significante fundamental. O discurso que, .do ponto de vista do outro, exibe um saber consumado e se sabe a si mesmo é um desses discursos. Lacan o deflO/Tlina de "discurso do senhor", e vê sua forma suprema no discurso filosófico, que não poderia, portanto, enunciar o inconsciente e a verdade do significante. Por certo não nos poderemos ater a essa concepção e a essa "rejei ção" da filosofia. Nosso objetivo continua a ser o de mostrar que a teoria do desejo inconsciente pode ser retomada num discurso filosófico, o que será tentado na Quarta Parte. Mas primeiro é preciso mostrar, precisamente, de que modo Lacan foi levado a essa contestação.
210
Lacan e afilosofia
NOTA 1 . S, XVIII. No sentido de o estruturalismo reduzir o significante dele uma "coisinha boa domesticada", Lacan não é estruturalista.
ao
simbólico e fazer
v As Estruturas Existenciais
38.
INTRODUÇÃO
Como pode o sujeito do inconsciente, para o qual não existe objeto senão o sexual, ligar-se ao discurso e a sua verdade? A teoria psicanalftica responde a essa pergunta, classicamente, com a idéia da sublimação. Mas o que se diz a esse respeito carece, na maioria das vezes, de precisão e de articula ção sistemática. Nossa intenção, aqui, é mostrar que a sublimação se deduz muito exatamente, como estrutura psíquica ou como estrutura existencial especifica, da teoria do significante e da dimensão imaginária pressuposta pelo fenômeno do discurso. Podem-se ocupar diversas "posições subjeti vas"1 em relação ao desejo e à castração que ele implica, comumente de terminadas como psicose, neurose e perversão, às quais é preciso acres centar a sublimação no sistema de estruturas existenciais que deve agora ser proposto.
A idéia de "estruturas" psíquicas impõe-se de imediato à teoria psica nalítica, posto que, como o sublinhou Lacan, o discurso analftico é insepará vel de uma certa prática, que é a do tratamento. A psicanálise tem a ver com as afecções psíquicas a que chama neuroses. Foi a partir da consideração dos sintomas neuróticos que Freud introduziu a hipótese do inconsciente. E são os sintomas neuróticos que a prática analítica afirma serem "sensíveis" à relação de transferência que se estabelece entre o sujeito e o analista. O ponto de partida da psicanálise está numa teoria das neuroses. Mas numa teoria que logo supõe um exterior à neurose, uma outra possibilidade de ser, que o tratamento teria como finalidade fazer advir. Foi para essa possibilida de de ser que se introduziu o termo sublimação. Também se evidencia para Freud, pouco a pouco, que existem afecções psíquicas que, em relação ao tratamento, acham-se na posição de escapar radicalmente a seus poderes; ele então distingue das neuroses (chamadas "transferenciais").as psicoses, 211
lU
Lacan e ajimojiD
subtraídas à transferência. Quanto à perversão, ela levanta LITl problema particulannente delicado para Freud, pois, ao mesmo tempo, ele vê nela a presença �firmada de elementos caracterfsticos de toda a sexualidade hu mana e, apesar disso, não pode impedir-se de ligá-la à neurose como um fe nômeno "patológico". De fato, é por razões teóricas fundamentais que a per versão cria assim um problema para a primeira teoria psicanalrtica, a de Freud. Diversas possibilidades de ser ordenam-se então em torno do trata mento analftico: a perversão, que lhe fJ estranha, a psicose, sobre a qual ele deveria agir, mas não pode, a neurose, sobre a qual ele pode agir, e a subli mação. Que estas eram verdadeiras "e��ruturas" psfquicas é o que deixa en trever a maneira como foram caracterizadas a partir do tratamento e da transferência. E Freud nunca deixou de tentar situar as determinações es truturais precisas, consistindo a emergência da segunda tópica numa reto mada das contribuições das análises anteriores, que tornou possíveis novas considerações sobre a estrutura. Quanto às estruturas existenciais, a única oposição que Freud procurou especificar foi a existente entre a neurose e a psicose.2 Quanto à perversão, n�da, a não ser dizer que a neurose é seu "negativo". E a sublimação, finalmente, não é de modo algum apresentada como Lma estrutura. Se a teoria psicanalftica propõe distinções de estruturas psíquicas fundamentais, mas sem poder forneeer de imediato uma apresentação sis temática dessas estruturas, a principal razão disso se encontra na concep ção original do inconsciente, fortalecida pelo que chamamos de "ponto de partida neurótico". Falta a evidenciação do lugar do inconsciente, ou seja, o significante. Daí as conseqüências já denunciadas: falta de um pensamento rigoroso sobre o desejo, confusão do desejo com aquilo que dele aparece na perversão, e interpretação da neurose como um conflito entre o desejo e a proibição. Não se pode propor uma teoria das estruturas psíquicas, e por tanto conceber plenamente a perversão, quando se está fundamentado na dualidade dos processos primários e dos processos secundários, do princí pio do prazer e do princípio da realidade. Quando se enxerga o inconsciente, de um lado, e a razão, a vontade e o finalismo, do outro. Quando se postula como instância o que não passa de uma fantasia do neurótico, ou seja, o mundo como totalidade, o ego, o domínio sobre si mesmo. Poder ater-se ao mundo (e fugir do inconsciente) é uma ilusão (e o próprio princípio de todas as ilusões).
Nessa hipótese, não se pode mais apreender a perversão como uma entidade e, por isso mesmo, a sublimação é inconcebfvel. Assim, Freud pressupõe um fechamento inicial do ego, funcionando de acordo com o prin cípio do prazer. Sobreviria então a entrada invasiva da realidade no domínio do ego, e a psicose rejeitaria uma realidade dolorosa demais, reconstituindo
·
desejo incons�nte e imaginário do discurso
213
uma realidade adequada às exigências do prazer. A perversão acolheria es sa realidade e manteria vigorosamente o objetivo do prazer, devendo toda a realidade servir para o prazer maior. Já a neurose veria nela uma contradi ção e tentaria em vão, em nome de um "princípio de realidade", subjugar a exigência primária do prazer. O _ideal seria então a vitória perfeita do princípio de realidade, o racionalismo perfeito que, como bom herdeiro dos iluministas e de um certo positivismo, Freud atribuiria à idade da razão e ciência da hu manidade. É ar que se encontraria a sublimação. Mas, salvo por algum mora lismo totalmente exterior, praticamente não vemos em que se poderia con denar a perversão, nem sequer caracterizá-la. Dentro da perspectiva que é aqui a de Freud, nenhuma moral pode fundar-se, a não ser uma moral utilita rista que vise ao máximo de prazer possível. Mas como convencer o per verso de que ele teria mais prazer levando uma existência diferente? E a su blimação, na qual nos submetemos mais perfeitamente ao princfpio de reali dade (cujo fim é se111pre o prazer), só aparece, enfim, como uma forma dis simulada de neurose, na qual, em nome de pretensos prazeres intelectuais ou de desvios engenhosos para obter um prazer garantido, falta-nos o pra zer primordial e mais vivo. A exigência crrtica de Freud, que lhe mostra re calques em inúmeras esferas onde se pretenderia encontrar a sublimação, e o discurso empirista de que ele provém, e para o qual a finalidade do homem só pode ser o prazer, tornam dificilmente aceitável a idéia de uma sublima ção verdadeira. Vê-se, pois, que o destino teórico da sublimação e o da per versão estão ligados. Somente o caminho aberto por Freud com Além do Princípio do Prazer permite, desde que aí se introduza o significante, apre ender a perversão e a sublimação como entidades e estruturas determina das. O real que se dá não é mais o real do mundo, a "realidade", à qual o perverso está tão bem adaptado que mal se sabe por qual morbidez ele seria afligido, salvo por um moralismo vão, mas sim o real da Coisa e da castra ção, que, mais ainda do que o neurótico, ele evita, prendendo-se à efetiva ção intramundana da fantasia. A sublimação se abre para esse real. Lacan destaca o significante e o elemento estrutural em que se produz o homem como sujeito do desejo inconsciente, ou seja, a estrutura quadri partida da cadeia constitutiva do inconsciente. Mas o "ponto de vista neuróti co" da teoria psicanalrtica impede a apresentação sistemática das "posições subjetivas da existência" enquanto estruturas. Pois o imaginário é pressu posto como uma ordem própria, independentemente do significante. Contu do, Lacan preparou o caminho para uma teoria sistemática das estruturas existenciais, especificando, por exemplo, o processo fundamental em ação na psicose para evitar a castração: a foraclusão, que corresponde ao recal camento neurótico; s.ituando a neurose e a perversão em sua relação com a fantasia; e colocando o problema da ética, que conduz a uma teoria da su blimação.
214
Lacan e a filosofia
A teoria das estruturas existenciais baseia-se em
nárias
identtficações imayi
com os quatro lugares significantes da cadeia do inconsciente. Em
cada situação, é claro, a castração é evitada de uma maneira ou de outra, já que se trata de uma identificação "imaginária"; e nunca se pode falar propria mente em assunção do desejo, num acordo entre o desejo e o registro da demanda. Mas as identificações imaginárias ordenam-se de tal maneira que aos poucos se faz o luto da presença de uma plenitude efetiva, faz-se uma abstração cada vez maior de si mesmo como vivo. Pode-se portanto falar, na su blimação, de um confronto do homem com a verdade de seu desejo. Psicose
Perversão (objeto, e primeiramente a mãe)
(falo)
Neurose
Sublimação
L-------_J
(sujeito, e primeiramente o pai real)
(Outro, e primeiramente o pai simbólico)
Lugar da identificação imaginária nas diferentes estruturas existenciais.
Ao considerarmos a cadeia do inconsciente,3 o primeiro lugar
falo,
é
o do
do "sujeito em sua realidade, como tal foracluído no sistema"4 (e Lacan
prossegue: "e que só entra ao estilo do morto no jogo dos significantes" mas é por causa dessa morte necessária que o psicótico se recusará a go zar). Em relação
à
castração, essa é a posição que a "dissimula" mais radi
calmente, pois nela se
é o falo,
que desta feita não pode ser castrado. Identi
ficar-se imaginariamente com o falo caracteriza a é o da
mãe.
psicose.
O segundo lugar
Do objeto primordial, segu ndo Lacan. A evitação efetua-se aqui,
antes de mais nada, porque a mãe não pode ser castrada de nada que tenha tido. Mais essencialmente, a mãe tem, de maneira evidente, uma falta do la do do falo, que o homem pode preencher.
É
à perversão que remete uma
identificação imaginária com esse lugar: a falta encontra aí meios de se ma nifestar, mas como preenchível. O terceiro lugar
é
o do
pai real,
ou do Ideal
do Ego. A castração aí se mostra mais em sua essência. O homem tem o falo. Mas tê-lo não equivale a sê-lo. Possuí-lo só implica que ele
é separado.
P rova da finitude constitutiva da neurose. Mas o neurótico ainda dissimula de si mesmo a verdade da castração e acred ita poder ser, em termos absolu-
desejo inconsciente e imllginário do discurso
215
tos, o sujeito da lei que o assujeita. E isso, para conservar seu falo para si. Se o perverso se coloca essencialmente como objeto, o neurótico é o sujei to. Mas, assim como o perverso age como se não fosse também sujeito, o neurótico gostaria de escapar da afanise ou evanescência do sujeito (e do desejo) implicada pelo objeto. O que constitui a experiência efetiva da cas tração. O neurótico aceita ter uma falta que nada pode preencher, mas não que haja uma falta nele mesmo. O quarto lugar, finalmente, é o do pai simbó lico. Não se trata do lugar de um ser de carne e osso. " . . . o Pai simbólico, enquanto intima essa Lei, é de fato o Pai morto", diz Lacan.5 Malgrado o as pecto de identificação imaginária que persiste, identificar-se com a referência e com a lei enquanto pai simbólico pode ser apresentado como uma espécie de "assunção" da castração, já que a castração marca, em primeiro lugar, a presença da finitude e da morte no homem. Tornar-se a referência para o outro, ainda que se deva pagar um preço por isso, é ingressar no domínio da sublimação. 39.
A NEUROSE
A neurose é, necessariamente, a primeira estrutura existencial que a teoria do inconsciente deve encontrar. Freud vê nos sintomas que a caracterizam (em seus estilos fóbico, histérico ou obsessivo) o efeito de um conflito psr quico, e explica as particularidades da neurose através de um processo a que dá o nome de recalque. Esse processo, com efeito, é essencial para a neurose e só é válido para ela. Desejo e castração são aí muito precisa mente "recalcados", em vi.sta da identificação imaginária com o pai real co mo sujeito da lei. Mas, como já evocamos (§ 32), é necessário distinguir o desejo recalcado e o desejo que sofreria a proibição no conflito neurótico, conhecido sob a denominação de complexo de Edipo. O conflito edipiano não contém em si nenhuma dinâmica psíquica que o tratamento devesse despertar para escapar da neurose, mas é ele próprio um sintoma; o desejo incestuoso que sofre a proibição é o que recalca o "verdadeiro desejo". O logro do conflito e da rivalidade permite evitar o confronto com a castração em sua verdade. Nossa intenção aqui é, ef/1 primeiro lugar, retomar a teoria do recalque a partir da concepção lacaniana do significante: o inconsciente não deve ser confundido com o recalcado, e então o recalque aparece como caracterizando eletivamente essa estrutura existencial determinada por seus sintomas e denominada neurose; o conflito com o interdito r é o modo segun do o qual o desejo, travestido, é aceito na neurose. Em seguida, pretende mos mostrar como as três formas clássicas da neurose - a fobia, a histeria e a neurose obsessiva - deduzem-se da estrutura neurótica geral e do lugar significante onde o desejo pode ser encontrado. Em cada situação, a neuro se transforma o significante do desejo em sintoma, o que constitui o recal que.
216
Lacan e afilosofia
Através de sua ·noção de recalque, portanto, Freud introduz o grande conceito que permite pensar a neurose. Mas, ao mesmo tempo, ele o articula com o inconsciente de tal maneira que as determinações do inconsciente e do desejo que valem para a neurose se afiguram definitivas e fundamentais: o inconsciente seria o recalcado, e o desejo incestuoso, o desejo essencial do homem. A concepção do inconsciente baseada no significante leva a se encarar o recalque de outra forma. Para Freud, recalcar é "desviar e manter longe da consciência".6 Ele distingue duas espécies de recalque: o recalque propriamente dito e o recalque originário. Eis aí uma distinção sinalizadora de uma dificuldade. No "recalque propriamente dito", uma "representação" provém do inconsciente e se propõe no pré-consciente ( = o mundo), mas não é assumida e se vê reenviada ao inconsciente. Ar escapa a qualquer controle por parte do pré-consciente e se transforma segundo as leis do pro cesso primário, para reaparecer sob a forma de sintoma. O inconsciente e o recalcado se afiguram, nesse momento, separados. Mas Freud propõe um "recalque originário": quando da constituição do domínio do pré-consciente, nem todos os conteúdos representativos do inconsciente original seriam as sumidos, e alguns, portanto, seriam originariamente desviados. Por conse guinte, não haveria nenhum inconsciente que não fosse recalcado, afinal. Mas, porque essa distinção? Não deveria o recalque propriamente di to, sendo ele "propriamente dito", ser o único recalque? Toda a concepção freudiana do inconsciente obriga a se postular um recalque originário. Para ele, há no psiquismo do homem um pólo que é caracterizado pelo princípio de realidade e pelos processos secundários - é o mundo como totalidade, e o ego -, e um outro pólo que é o inconsciente, com os processos primários e o puro jogo do principio do prazer. O primeiro se constitui a partir do segun do, através, justamente, do recalque "originário". A concepção mais rigorosa do inconsciente, que Lacan propõe com o significante, mostra que não há entre o inconsciente e o mundo uma relação necessariamente excludente. De fato aparece no mundo, sem ser dele excluído, mas sem tampouco per tencer-lhe, o ato da enunciação, com o sujeito por ela implicado. Há uma aparição do significante no mundo, mas ele não tem que ser assumido ar, nem reconhecido, nem integrado. Permanece inconsciente, e estranho ao mundo e a sua temporalidade, esse impossível e esse real "sobre o qual se funda uma certeza':7 Eis ar um inconsciente não-recalcado, por conseguinte, e que funda o mundo e o pré-consciente. Não há mais necessidade, então, de outro recalque senão o recalque propriamente dito. E a idéia de um recal que encontra toda a sua especificidade: tenta excluir do mundo esse incons ciente que nele aparece, porquanto ele contestaria a plenitude sem falhas e a totalidade suficiente do mundo. Como deve a teoria do significante conceber o recalque? O recalque tem por objeto o significante.8 Lacan esclarece que o sujeito se apaga e de saparece no nível do processo de enunciação.9 Classicamente, esse desa-
desejo inconsciente e imaginário do discurso
217
parecimento de um significante seria acompanhado, na maioria das vezes, por seu ressurgimento sob outra forma. Sabemos que Freud introduziu o re calque para explicar os sintomas neuróticos, ligados, segundo ele, a uma "volta do recalcado". O recalque faria desaparecer o significante do ato de enunciação e o significante recalcado ressurgiria no sintoma. Mas essa con cepção das relações entre o recalque e o sintoma não pode ser mantida, se não hâ um "mundo" capaz de se constituir realmente como um todo exclusi vo. O momento que separaria o recalque da volta do recalcado deixa de ser concebível, e uma noção como a de "recalque bem-sucedido" toma-se fran camente absurda. Um mundo puro, desembaraçado de qualquer marca do inconsciente pelo recalque, é algo que não pode existir. Todo recalque é "bem-sucedido", mas não é outra coisa senão a presença do próprio sinto ma. É o sintoma que permite efetuar o recalque. Daí a fórmula de Lacan: "o recalque e a volta do recalcado são a mesma coisa".10 Que é, de fato, o sintoma? É o significante inconsciente, e que sempre aparece no mundo, mas aparece corno devendo ser excluido dele. Relacio nar-se com o significante no sintoma realiza o recalque. Não é sequer ne cessário sustentar que o significante se torna irreconhecfvel sob a aparência do sintoma, já que, como significante, mesmo verbal, ele não pode ser "re conhecido" nem assumido, o que sempre se dá num "mundo". O sintoma é o significante, presentificado como excluído. É o real, aqui vivenciado preci samente como o i-mundo. 1 1 Não se pode imputar um sintoma "objetivo" à neurose. b sujeito neurótico quer seu sintoma como tal, pois é através dele que se efetua o recalque. Não é a psicanálise que faz com que se veja o sintoma (e, finalmente, o significante) ali onde se acreditava haver apenas o insignificante, mas é o próprio neurótico que se relaciona com o sintoma como tal. Ter sintomas é recalcar. E satisfazer à exigência principal da es trutura neurótica. A dificuldade reside em que o neurótico, em seu discurso, age como se pedisse uma só coisa no tratamento: que o desembaracemos, ou que ele seja desembaiaçado de seu sintoma, para aceder a um "mundo puro". Aqui, é preciso ser prudente e distinguir o recalcamento, característico da neurose, de outros processos que são válidos para outras estruturas. Através do sintoma, o significante não é radicalmente rejeitado do mundo co mo contraditório a ele, mas antes aparece nele, simplesmente, sob a apa rência do excluído. Nenhum neurótico vive seus sintomas como normais ou insignificantes, e nenhum os ignora. O neurótico sabe, sabe que existe o in consciente. Mas engana a si mesmo, acreditando que seu saber pode esca par ao inconsciente. Vigilância essencial (e inútil) do neurótico, sobre quem Lacan diz o que constitui sua dignidade é que ele quer saber o que há de real naquilo de que ele é a paixão, o efeito do significante. 12 O recalque, portanto, não é aquilo que produz os sintomas, a fortJori aquilo que os produziria como conseqüências contingentes e lamentáveis,
218
Lacan e a filosofia
mas, antes, efetua-se nes e pelos sintomas. Poder-se-ia até mesmo dizer que o sintoma é recalcador; mas, na realidade, o recalque deve ser apreen dido a partir daquilo que lhe confere sentido, de seu principio numa identifica ção imaginária que sustenta o ser do sujeito. O recalque pressupõe, através do sintoma, uma determinada relação com o desejo e a castração. A plenitu de do mundo {necessariamente imaginária) é afirmada, contrariamente ao significante e ao desejo. Mas não há nenhuma contradição radical entre o mundo (e o ego), de um lado, e o desejo, de outro. O desejo aparece no mundo, simplesmente corno exclufdo. A identificação imaginária aqui encon trada permite urna presença da falta e da finitude. De uma falta que nada po de preencher, posto que o significante, excluldo no sintoma, não deixa de aparecer no mundo. Mas de uma falta que não diria respeito ao sujeito: este tem corno tarefa excluir aquilo que postulou como o mal, e que sabe ser as sim. A identificação imaginária constitutiva da neurose é uma identificação com o pai real enquanto sujeito da lei, o qual advêm então como pai imaginá rio. O desejo que permanece presente através do sintoma não é mais o desejo original - este sofreu o recalque -, mas antes o desejo caracterlstico da neurose, que é o desejo incestuoso. Desejo presente como exclufdo: é o desejo proibido do complexo de Édipo. Não voltaremos a examinar aqui o problema da proibição, que foi apresentada como a interpretação neurótica da lei da castração (cf. § 32). Sublinhemos, simplesmente, que a proibição pressupõe o saber. Saber aquilo que não deve ser. Saber do neurótico, que se ilude com a possibilidade de escapar do inconsciente que ele denuncia. Esse saber é inseparável do sintoma, do qual é a outra face: a dÕ signifi cado e do mundo. Quando Lacan afirma que o sintoma é a presença da fala do neurótico, que desertou o.. discurso e o significante verbal, podemos es tender isso, esclarecendo que essa fala é a própria fala proibidora. Proibir, malgrado as aparências, é sempre proibir-se, é introduzir uma relação de ódio pela lei e pelo Outro da lei, que só adquire sentido na neurose. É odiar e, ao fazê-lo, evitar imaginariamente a castração, segundo o modo que é próprio da neurose. A proibição é o significado do sintoma neurótico. O pai edipiano não proíbe a mãe (o que a torna desejável como mulher do rival paterno) por ela ser efetivamente o objeto de seu desejo e por reservá-la pa ra si, mas, ao contrário, porque ele não a deseja como a Coisa e está preso a seu desejo neuróticc pela própria mãe. Mais uma vez, proibição e desejo proibido não passam de ::luas faces de uma mesma coisa. Entrar em conflito a propósito do desejo ou ter um desejo que suscita conflitos é a neurose. O recalcamento é dinâmico, sem dúvida, mas sua dinâmica não é da ordem do conflito. Através do recalcamento, um certo trabalho de luto implicado pela castração é evitado, tanto no sujeito como no outro. Se quiser ultrapassar a neurose, será de fato preciso que o sujeito faça esse luto e pare de acusar o outro por seu sofrimento.
desejo inconsciente e imaginário do discurso
219
Dessa teoria geral da neurose podemos deduzir os modos possrveis de estabelecimento de sintomas neuróticos, e portanto, as formas da neuro se. Existem três delas, e apenas três, na ordem em que as alinhou a psica ' nálise desde o inicio: a fobia (ou histeria de angústia), a histeria (chamada conversiva) e a neurose obsessiva.13 Com efeito, se considerarmos a ca deia significante fundamental do inconsciente, o significante do desejo (o Nome-do-Pai) só pode ser encontrado em três lugares: o do objeto, o do su jeito e, finalmente, o do Outro que é o espectador da cena do mundo na qual o sujeito entra em relação com o objeto. O lugar do significante fálico é o de um significante essencialmente não-verbal. Há três lugares significantes pa ra o significante do desejo, mas esse significante em si é sempre, no temãrio simbólico em que os personagens jogam o jogo da fala, o pai simbólico. Seu deslocamento nessa mesma estrutura ternária acarreta o deslocamento dos outros personagens, quais sejam, a mãe e o pai real.14 Assim, é preciso dis tinguir os lugares possíveis do "drama da existência" - o objeto, o sujeito e o Outro (o espectador) - e os personagens que os ocupam: a mãe, o pai real e o pai simbólico, nessa ordem. A identificação imaginária do neurótico sem pre se efetua no lugar do sujeito, donde as diferentes formas de neuroses. Histeria
Fobia
Neurose obsessiva
____rp;;i1_ I simb6lic0-. 1
�
(objeto)
mãe pai real (sujeito) (Outro)
mãe
L](ob�W) pai real (sujeito)
�· (Outro)
O lugar da identificação imaginária do neurótico está grifado O lugar do desejo, e portanto, do sintoma, está emoldurado
No caso da fobia, o desejo do pai como pai simbólico é encontrado na realidade, no lugar do objeto. O sintoma próprio da fobia leva a evitar esse encontro com o significante do desejo. O Pequeno Hans15 experimenta a angústia de sair de sua casa e deparar com um cavalo, ou ainda de deparar com a imagem de um cavalo num livro. Lá está o significante paterno, nesse cavalo aterrorizante. E a interpretação neurótica da castração vê nele urna ameaça de violência. O terror diante dos cavalos realiza então o recalca mento do desejo primordial - o que equivale também a deixá-lo ser como excluido -, e o sintoma de Hans é também seu desejo. Quem está no lugar do sujeito é a mãe. Sendo fóbico, Hans é sua mãe, simplesmente na medida em que a mãe é o sujeito em seu encontro com o desejo e o significante do desejo. Hans é arrastado para a fobia pela descoberta da castração materna
Lacan e afilosofia e em decorrência da relação da mãe com a castração: a mãe manifesta fobi camente sua angústia imediata em face do desejo do Outro, introduzindo Hans por exemplo, no leito conjugal, e com isso "proibindo-se" o ato do de sejo. No lugar do espectador, a quem o sujeito oferece a visão da fantasia implicada no sintoma, encontra-se o pai real. Aquele que, no caso de Hans, toma nota de tudo o que o menino diz e faz a propósito daquilo que ele pró prio chamava de sua "tolice", para em seguida comunicá-la a Freud. Já evocamos anteriormente a estrutura da histeria (cf. § 26). O objeti vo da histérica é, segundo Lacan, assegurar a permanência do desejo (con tra qualquer afanise), "fazendo desejar''. A histérica se apresenta como a lei (e portanto, o falo) diante do pai real na posição do objeto. Lacan diz da his térica que ela precisa do parceiro castrado,16 ou ainda, que "o desejo da histérica é sustentar o desejo do pai"; 1 7 menciona, além disso, seu desejo de ser a procuradora, sua paixão por se identificar com todos os dramas senti rnentais.18 O sujeito histérico se dá comq o pai simbólico e o falo (o que ex plica os sintomas de conversão, que são igualmente falicizações do corpo). Não se trata mais do encontro do desejo do Outro, como na fobia, mas de encontro, através do desejo do Outro e da lei, daquele que deve submeter se à lei e desejar. A histérica chama o homem à ordem: ele não é o pai sim bólico, mas apenas seu representante. Dar decorre a já mencionada derisão do representante da lei, bem como aquilo que Lacan denomina de "o lado Sem-Fé da intriga histérica" . 1 9 Sendo a princípio mulher para a tradição psi canalnica, a histérica parece zombar de si mesma como objeto na comédia do desejo, mas o essencial é que, por seu corpo falicizado, a histérica é a lei . Se, segundo Lacan, o mito do Édipo é o que Freud colheu da histérica, é preciso, sem dúvida, interpretar o assassinato do pai como a castração exi gida em nome da lei. Édipo encontra seu pai e é seu direito matá-lo (castrá lo) . Édipo é a histérica. Aparece como o falo bom e a lei . De sorte que os te banos o chamam e a mão da rainha viúva lhe é oferecida. Mas a rainha é sua mãe e a rivalidade incestuosa se realiza, introduzindo a catástrofe. Lacan observa que, durante algum tempo, tudo funcionou bem: os teban0s estavam muito felizes, e foi de Jocasta que teve de vir a reviravolta. Seria por que ela o teria sabido ou por que o teria esquecido? pergunta Lacan.20 A histérica dá a ver à mãe, na posição do espectador, do Outro, essa relação do pai com a ordem do desejo. Mas, por isso mesmo, parece tratar o pai real como seu objeto. Dar as ilusões de Freud quanto ao amor de Dora por seu pai, pelo Sr. K. e, finalmente, por ele próprio, Freud. O verdadeiro objeto do de sejo edipiano é o Outro para cujo olhar a intriga é urdida e a cena é montada: para Édipo, sua mãe, Jocasta, e para Dora, a divina Sra. K. Na neurose obsessiva, não há nenhum encontro possível, nem com o significante, nem pelo significante. O desejo do Outro está no lugar do es pectador do mundo, fora da cena. Com a conseqüência de que nenhuma outra ação tem realmente interesse. O mundo é vazio e inútil. Somente a lei,
desejo inconsciente e imaginário do discursó
221
ao se repetir de maneira obsedante no sujeito, é um lugar significante. Tais são os sintomas obsessivos: impulsos, ordens absurdas; e, no plano da ação, as ações inúteis que Freud caracteriza pela "anulação retrospectiva" (como o homem dos ratos, que retira uma pedra do caminho por onde deve rá passar a carruagem de sua amada, e depois a recoloca, porque aquilo "é demasiado tolo"). Lacan sublinha, naturalmente, a inutilidade de um mundo de que se acham ausentes, rejeitados por uma castração imaginária que as sume uma forma diretamente agressiva, os sinais do desejo do Outro. O que se faz marcar na dúvida, que é propriamente obsessiva. Dessa rejeição de corre a impossibilidade que, no obsessivo, bloqueia a manifestação de seu próprio desejo.2 1 O único encontro possível do mundo, mas que é também o encontro com o espectador além-mundo, é o encontro - a ser evitado acima de tudo - com a morte. E há a idéia de que é preciso resguardar-se para o dia em que se começará a viver, em que se será libertado da ordem que faz sentir seu peso (no homem dos ratos, saldar a dívida). Mas, é claro, não se fará coisa alguma para libertar-se, e a morte de um senhor já morto (cf. o pai do homem dos ratos) nunca se produzirá. Essa ilusão permite sustentar uma existência que se tornou sem objetivo "intramundano", pois o sujeito "anula de antemão tanto o ganho como a perda, ao abdicar desde logo do desejo que está em jogo" .22 O problema do obsessivo é de reconhecimento, uma vez que ele não tem nada a obter na existência, pois nela tudo é equívoco. Do lugar onde se situa como pai real, e portanto como homem (capaz de ge rar um filho numa mulher, mas com a incerteza da paternidade - cf. o ho mem dos ratos e a escolha de uma dama estéril), ele busca fazer-se reco nhecer pelo pai simbólico no lugar do espectador. É o pai morto, a quem o homem dos ratos abre a porta para, ao mesmo tempo, mostrar-lhe seu pênis em ereção e mostrar que está empenhado em trabalhar.
40.
A TRANSFERÊNCIA
O processo psicanalrtico se apresenta, em primeiro lugar, como uma terapia das neuroses. Seu fim primordial é o desaparecimento dos sintomas neuróti cos. Como toda prática, ele visa a um "estar melhor". Mas a que pode levar? Quais são seus poderes? A "nova aliança" contratada por Lacan com o sentido da descoberta freudiana consiste em evidenciar que "o inconsciente é a soma dos efeitos da fala sobre um sujeito"23• Lacan frisa particularmente o aspecto, esquecido por demasiado tempo desde a talking cure [cura pela fala] de Anna 0., de que aquilo por cujo intermédio o tratamento pode produ zir uma mudança é a fala. O tratamento analítico é uma relação de fala, com os efeitos daí decorrentes. O que Lacan chamou posteriormente de "ato analftico" é o ato de fala. A situação que permite que a fala se faça ato é a da transferência.
222
Lacan e a filosofia
A transferência pode ser caracterizada segundo os três aspectos que se seguem. De um lado, as possibilidades que abre ao ser do sujeito. Aquilo a que a transferênciã pode conduzir o sujeito é a sublimação. A protéção dO ódio desaparece e o sujeito deve sofrer a solidão e finitude radicais implica das pela castração. A ética da psicanálise está voltada para a emergência dessa outra estrutura existencial onde o recalcamento do desejo fica sus penso. De outro lado, o modo pelo qual se pode efetuar o acesso à sublima ção. O desejo do analista desempenha aqui um papel preponderante, e cada tratamento é, para o analista, a experiência de seu desejo. Ou bem ele se deixa seduzir pelo amor neurótico que lhe é prodigalizado pelo analisando, fechando-se o acesso à sublimação - a "resistência do analista" leva ne Gessariamente ao fracasso do tratamento -, ou bem sua fala interpretativa continua a aparecer para o sujeito como presença do significante, e então o próprio sujeito pode advir à ''fala verdadeira", deixar surgir um inconsciente que não esteja recalcado. E o último aspecto da transferência: aquilo pelo qual ela fornece as condições de tal dinâmica existencial. A transferência, nesse sentido, é uma possibilidade essencial da neurose (e que se produz igualmente fora do tratamento) . É que, para além da identificação imaginária própria da neurose, e que é válida tanto para o sujeito como para o outro, mantém-se a relação fundamental de demanda ao Outro. Demanda de amor que, na perversão ou na psicose, não mais se pode dizer, porque o outro não suporta a fenda do desejo na demanda. Persiste, no caso da neurose, uma relação de demanda de amor a um Outro presente, atuada nas transfe rências. O analista fica então, não no lugar do Outro simbólico, como por muito tempo pensou Lacan, mas no lugar da Coisa. A apresentação poste rior da teoria do discurso analrtico mostrará isso com muita clareza. Desse lugar da Coisa, é claro, o analista não tem quê corresponder ao amor do analisando, o que reduziria esse amor ao que ele é na neurose - um "arnó dio" ("hainamoration"), mistura de amor e ódio -, mas que suporta a presença do desejo do analisando por ele no cerne desse mesmo amor, a ponto de possibilitar o surgimento do significante do desejo inconsciente fora do sin toma e de qualquer recalque. O sujeito acederia à sublimação. E, da parte do analista, isso pode ser algo como o amor verdadeiro, mas que permita ao sujeito ficar na solidão em que ele possa efetuar o trabalho do luto que é in separável da sublimação. Portanto, é a neurose que possibilita a transferên cia, pois mantém uma relação de fala a fala (que não constitui, de imediato, uma relaÇão de sujeito a sujeito). Foi isso que o Lacan inicial apresentou rruitas vezes como uma relação "dialética". O objetivo da análise é, com efeito, que a fala do analisando, congelada no sintoma, advenha no discurso, só que nunca "reconhecida" e "integrada", mas antes como significante pre sente num quadro intrarnundano de significados do qual ele nunca poderá se destacar.
desejo inconsciente e imoginQrio do discurso
Precisemos desde logo o vfnculo entre a transferência e a neurose no tratamento analrtico. A transferência, "fenômeno em que estão incluídos jun tos, o sujeito e o psicanalista",24 é uma repetição, em torno do analista, de uma estrutura e de uma situação da infância. Sabemos que Freud compre endeu a importância "terapêutica" da transferência, comprovando a insufi ciência da rememoração dos acontecimentos passados. Era preciso que eles fossem revividos no contexto da situação analftica. E, de qualquer mo do, Freud observara que, através da rememoração, a repetição se produita necessariamente. Repetição de toda a estrutura neurótica e dos próprios sintomas. Entretanto, se quisermos apreender em que sentido a transferên-= cia pode inaugurar uma dinâmica psfquica, devemos ultrapassar o fato em si da repetição. "Se a transferência é apenas repetição", diz Lacan, "ela será repetição sempre da mesma rata".25 Cabe então insistir num certo aspecto daquilo que se repete, e que é a relação de demanda, cujo fundo é a deman da de amor. O analisando dirige uma demanda ao analista. Desde logo, problemáti ca: "O que é que pode, no final das contas, levar o paciente a recorrer ao analista para lhe pedir algo que ele chama saúde, quando seu sintoma - a teoria nos diz isto - é feito para lhe trazer certas satisfações?"26 E Lacan propõe exemplos onde o que é de fato demandado é uma justificação para o desdobramento pacifico do desejo neurótico. Mas a demanda assume seu sentido pleno na transferência: o analista é aquele que pode assegurar a saúde e a felicidade (entre outras coisas), porque ele sabe. Lacan fala então do "sujeito suposto saber" e esclarece que, "desde que haja em algum lugar o sujeito suposto saber, há transferência",27 Ele é o pai imaginário com quem o analisando está imaginariamente identificado, o sujeito que sabe. Ora La can evoca o saber absoluto hegeliano, ora afirma que o analista só é su posto saber aquilo que decorre do inconsciente e do desejo do analisando. Esse sujeito suposto saber, a quem o analisando dirige sua demanda e com quem se identifica, não é outro senão o rival do conflito edipiano, odiado, sem dúvida, mas também e em primeiro lugar amado.2e É no nfvel do amor de transferência, ou seja, o amor em sua forma mais comum (se não única), que deve ser encontrada a possibilidade de uma modificação estrutural. Ou, mais exatamente, o amor é o fechamento do inconsciente, o bloqueio da possibilidade de mudança. Mas pressupõe, ao mesmo tempo, o advento de uma abertura, da qual ele é justamente o novo fecho. Dar a afirmação de La can: "O amor, sem dúvida, é um efeito de transferência, mas em sua face de resistência.''29 Uma face que forneceria a verdade da transferência: "O que Freud nos indica, desde o primeiro tempo, é que a transferência é essen cialmente resistente. A transferência é o meio pelo qual se interrompe a co municação do inconsciente, pelo qual o inconsciente torna a se fechar."30 Mas então, como conceber uma dinâmica existencial na transferên cia? Como encontrar, no próprio cerne da transferência, aquilo que fará com
224
Lacan e a filosofia
que se escape da neurose, se a resistência, neu rótica, é sua essência? Ou será que é do exterior da transferência que viria a "saúde"? Mas, nessas condições, porque dar um lugar considerável à transferência? Para Lacan, a saída positiva é possível porque, no amor, existe o desejo: a tarefa do ana lista seria, através de seu próprio desejo, livre das captações do imaginário neurótico, fazer vir à luz o desejo no sujeito. A partir do amor. Eis ar uma te se essencial, sem dúvida alguma, mas que parece dever ser completada, para que possa aparecer aquilo que a transferência contém de dinâmico. De um lado, é certo que o desejo deve advir no tratamento como estando livre do recalque. Mas o Outro que efetivamente o suscita (o analista) não é o Outro simbólico, e sim a Coisa. Por outro lado, não se pode supor que o tra tamento consista em desfazer-se do imaginário em benefício do desejo, e não se pode tratar senão de ir em direção a uma outra identificação imaginá ria - a da sublimação. Essa passagem depende, antes de mais nada, do que acontece no Outro da demanda de amor e do amor, essencialmente implica do no amor de transferência. O Outro do amor é novamente a Coisa, a partir do momento em que o desejo vai em direção à Coisa, pela simples razão de que a plenitude é nela situada pelo significante (verbal, é claro). Para intro duzir o sujeito na sublimação, a Coisa deve suportar a questão onde se afir ma o ser-separado do sujeito, e que é a forma assumida pela demanda na sublimação. "O que me constitui como sujeito", diz Lacan, "é minha ques tão",31 e especifica ainda: "A questão do ser, ou, melhor dizendo, a questão pura e simples, a do 'por que eu?', pela qual o sujeito projeta no enigma seu sexo e sua existência."32 Nossa tese pode apoiar-se no que Lacan irá dizer sobre o discurso analítico, que é eminentemente induzido pela situação ana lítica. Nela, o analista está no lugar da Coisa, mas só ocupa esse lugar gra ças ao saber que é suposto nele. Um saber muito particular, que é o do in consciente no plano teórico apenas na medida em que aí falta radicalmente ao analista o saber sobre o significante do desejo, tanto no sujeito como nele mesmo (embora seja o mesmo significante) . O saber do analista, então, de modo algum faz dele o "sujeito suposto saber" da face neurótica da transfe rência. Mas é o "depósito de sublimação" sem o qual o analista não poderia advir no lugar da Coisa. A transferência é tão-somente a condição necessária da mudança da estrutura existencial. Portanto, da mudança. Mas o que permite sua utiliza ção efetiva, embora isso nem sempre baste para o acesso à sublimação, é o desejo do analista. No tratamento, nem tudo depende do analista. Mas se, por seu desejo, ele não se furtar às seduções do amor transferencial, não haverá nenhuma chance de que o neurótico escape da neurose. Daí a céle bre fórmula de Lacan de que "a única resistência verdadeira na análise é a resistência do analista".33 Não que o próprio analisando não conheça a re sistência, mas a resistência do analista é a única que importa na análise. De
desejo inconsciente e imaginário do discurso
225
um lado, porque torna inútil essa empreitada. De outro, porque, na análise, não se deve fazer caso das resistências do sujeito. Lacan sempre combateu a técnica denominada de "análise das resistências": deter-se nas resistências do sujeito é fortalecer o analista na posição do superego inquisidor e cruel o que, afinal de contas , remete à resistência do analista. Para que o trata mento possa ter eficácia, é preciso que o próprio analista tenha ingressado na via da sublimação, sob a forma de uma análise em que tenha feito a expe riência do inconsciente.34 Como espécie particular do luto que deve ser su portado por quem quer que pretenda aceder à sublimação, o analista sofre, por sua posição na situação analítica, aquilo que Lacan chama de "de-ser". Um desejo do analista que possibilite a saída da neurose se dá a esse pre ço. Basta reencontrarmos o "desejo de Freud", que Lacan justificadamente situa na origem do discurso analítico e dessa forma nova e marginal de su blimação que é a prática analítica. Daí a referência interrogativa ao "desejo de Freud", que nada tem de psicológica. O desejo do analista se manifesta no tratamento, antes de mais nada, pela interpretação, e até como interpretação. Se partirmos do ponto de vista do sujeito neurótico, diremos com Lacan que, mesmo que ele tenha a im pressão ou a certeza de que o analista está enganado, chega um momento, na maioria das vezes, em que atribui a tal comportamento ou fala do analista uma intensão secreta.35 É a própria presença de transferência. O sujeito faz do analista o "sujeito suposto saber", a quem não escapa aquilo que ele ig nora. Para o analisando, tudo o que vem do analista é então do registro da interpretação . Ele procura saber o que acredita que o outro sabe, mas tam bém o espera na curva, pronto a lhe mostrar que suas interpretações não se sustentam e que · ele não merece sua dignidade de sujeito suposto saber. Uma inversão comum do amor em ódio e da admiração em desprezo. Mas justamente tal ponto de vista sobre a intervenção analítica e sobre a inter pretação está essencialmente errado. A interpretação não se coloca, em primeiro lugar, no plano do dito. E a exatidão da construção, que edifica ao menos tanto o analisando quanto o analista, é secundária. O próprio Freud dizia que os "erros" do analista nada tinham de muito grave,36 ele que, no entanto, bem mais do que fariam os analistas lacanianos, propunha fre qüentemente construções e interpretações do caso. É que o plano em que deve emergir uma verdade não é o do dito, mas o do dizer. Querer fazer cons truções decorreria, no contexto do tratamento, da resistência do analista. Freud, aliás, não via nisso mais do que hipóteses. A interpretação é, antes de mais nada, uma fala, e a fala é emergência do significante. Decerto, há sempre o dito também, e a sublimação pressuposta do analista deve condu zir a uma exatidão daquilo que é enunciado pela interpretação. O mesmo, pouco a pouco, acontece com o analisando. Diz o próprio Lacan: "A inter pretação não é aberta a todos os sentidos. Ela não é, de modo algum, não importa qual. É uma interpretação significativa, e que não deve faltar."37 Mas
226
Lacan e a .filosofia
o essencial para o advento do sujeito é o significante, o "não-senso signifi cante". A fala do analista como significante é produzida desde o lugar do analisando, para "iniciar" nele a produção do significante e, finalmente, fazer surgir o Nome-do-Pai em sua presença, a princípio oculta, de significante constitutivo do sujeito. É impressionante como, na análise, o que retarda, além do caráter incerto do discurso, são as metáforas que ocorrem tanto ao analisando quanto ao analista. Fazer psicologia, ainda que analítica, interro gar-se sobre as relações com o pai, a mãe ou o tio, nada fazem por adiantar o tratamento, mas apenas levam a deixar-se arrastar, o que pressupõe um trabalho, no jogo dos significantes. O trocadilho, para Lacan , tem valor de interpretação . A finalidade do tratamento é converter o sintoma em trocadi lho, no domínio daquilo que Lacan denomina de "alíngua" .Js O que advém então é sempre o inconsciente. A análise não resseca os pôlderes do inconsciente, não faz com que o inconsciente se torne cons ciente. O próprio analista não "escapa" ao inconsciente. Suspender o recal que não é abandonar o inconsciente. J.-D. Nasio diz muito bem, a propósito do psicanalista: "Quando interpreta - e somente nesse momento -, ele não sabe o que diz", e esclarece: "É preciso ainda que ele saiba o que faz para se 'permitir' não saber o que diz."39 O que vem colocar com muita exatidão o problema ético da prática da psicanálise.
A questão da ética impõe-se à psicanálise porque ela é uma prática social e porque, como qualquer prática, busca um certo estar melhor, um Bem. Mas essa questão se coloca para.ela de maneira muito particular. Com efeito, a ética pretende dar um objeto à vontade e nos situa no âmbito do mundo e do projeto (é aí que se pode dizer que o analista "sabe o que faz", em razão da prática que assume). Já a psicanálise se fundame!lta, antes de mais nada, na afirmação da existência do inconsciente, que, rigorosamente pensado, põe em dúvida o ser-no-mundo do homem. Como articular in consciente e ética? Mostremos o que é efetivamente o bem para a psicanáli se, como o analista se relaciona com esse bem que pode advir no sujeito, e como o sujeito, finalmente, pode aceder a ele. Aquilo a que se dirige o tratamento analítico é o confronto do sujeito com a castração. Esse confronto só pode efetuar-se no contexto de uma outra estrutura existencial que não a neurose, na sublimação. Não se trata aqui de apresentar a sublimação como estrutura, mas simplesmente de su blinhar o que pode e deve acontecer no tratamento. Lacan assim descreve seu processo: "É dessa idealização que o analista tem que tombar para ser o suporte do a separador . . . essa travessia do plano da identificação é pos sível. Cada qual daqueles que viveram até o fim comigo, na análise didática, a experiência analrtica, sabe que o que eu digo é verdade . . . depois da dis tinção do sujeito em relação ao a, a experiência da fantasia fundamental se
desejo inconsciente e inulginário do discurso
227
torna a pulsão."40 O analista deve portanto suportar, acima de tudo, descer da idealização inicial através da qual fora o "sujeito suposto saber", o pai imaginário, e advir como objeto para o desejo do sujeito. Mas o analista nun ca é simplesmente o a. Ele é a Coisa, da qual o a é apenas um dos aspec tos; e, sem o saber que nele supõe o sujeito,41 de nada lhe serviria transfor mar-se no objeto. Quanto ao analisando, ele é introduzido na experiência da fantasia fundamental (que não é a fantasia do neurótico, cf. § 39) pela emer gência do significante de seu desejo fora do recalcamento. Mas a fantasia é apenas o suporte do desejo, e não aquilo que o mantém. E o tratamento acha-se então num ponto decisivo. É por ter estado na posição da Coisa que o analista pôde suscitar a produção, pelo sujeito, do significante de seu de sejo. Mas isso pressupõe o choque com a castração, do qual o sujeito pode rá tentar fugir: justamente, reduzindo o analista ao estado de objeto a. O de sejo então se apaga em benefício da pulsão. A pulsão se manifesta como esse cerne da transferência, inseparável do desejo humano, que é a sexua lidade. Se a transferência é a "atualização da realidade do inconsciente", La can deixa claro que "essa realidade é sexual" 42 Mas a castração se marca pelo fato de que o analista não está à disposição pulsional do analisando. Não há saída perversa. E o analista aparece novamente como a Coisa, soli citando ainda a emergência do significante . Essa é a experiência da castra ção na análise: ela se apresenta como a do corte radical que separa o objeto da Coisa, da qual, no entanto, ele é também a única presença. Mas essa ex periência só é suportável a partir de uma outra identificação imaginária. Su portá-la é então entrar na sublimação. O que pressupõe a posição do ana lista. Parece, pOis, que o analista "quer o bem'' do analisando . Pois ele sabe qual é sua prática e, nesse sentido, "sabe o que faz". Mas engajar-se numa prática que se sabe poder fazer com que o paciente chegue a um certo bem não implica que se queira efetivamente seu bern. Nenhuma vontade pode querer enunciar o significante, guiar o analisando através da fala interpretati va. O analista "não sabe o q ue diz". Não é nem senhor do desejo, nem se nhor de seu desejo. Mas não nos podemos contentar em afirmar que ele seria o executor do destino que o analisando vem buscar quando não consegue mais viver convenientemente desviando-se do destino da castração. Pois não é o analisando que está na origem do tratamento analítico, mas algo que é preciso colocar, antes, do lado do analista: o discurso analítico, iniciado por Freud. Reencontramos o desejo de Freud. Na medida em que o analista está no lugar da Coisa, do Outro a quem se dirige a.demanda de amor, a passa gem a uma outra identificação imaginária depende da maneira como ele mesmo suporta a experiência da castração. Suportar essa experiência é, como mostraremos mais adiante, um dom - um dom de amor, mais do que de bondade, porque o analista aí encontra também seu gozo da Coisa. Mas esse dom de amor não impede, em absoluto, que também o analisando deva
228
Lacan e ajilosojin
fazer a experiência do sofrimento e do apagamento do Outro. A sublimação a que ele é conduzido é a solidão. É preciso ainda que o próprio analisando entre no caminho do trabalho de luto que é imposto pelo confronto com a castração. O desejo do analista não basta. Não que seja preciso recorrer a uma vontade autônoma do anali sando, pois a idéia de um sujeito da vontade é rejeitada pela hipótese do in consciente. E, por outro lado, o próprio sentido da neurose, tal como a psi canálise fez dela a experiência, pressupõe que não nos podemos furtar à neurose por nenhuma decisão autônoma. Veremos, no entanto, que a teoria do inconsciente não exclui necessariamente a liberdade. Mas é pelo Outro, pelo dom de amor implicado no desejo do analista, que o ato de liberdade é possível. Não se trata de querer, nem tampouco, por motivos ainda mais fortes, de querer a vontade, mas antes de querer não querer, como propõe Heidegger.43 Deixar acontecer a emergência do significante. A ética da psicanálise conduz, portanto, a algo inteiramente diverso de uma forma complacente e razoável de perversão, como se crê com dema siada facilidade. Não se trata de que o sujeito, renunciando ao recalcamento e à proibição neuróticos, aceite fantasias e pulsões de essência pretensa mente perversa, na medida em que elas permitiriam a manutenção de rela ções normais com o outro. A anâlise ignora, ou deve ignorar, segundo La can, esse racionalismo moralizante. Ele denuncia, na Ética, a inclinação generalizada a reduzir as origens paradoxais do desejo, a mostrar sua con vergência para fins de harmonia, com o objetivo de apaziguar a culpa,44 do- ·. mesticando o gozo perverso em nome de sua universalidade e de sua fun ção. Toda a perspectiva neurótica que não cessamos de denunciar, entre outras razões, conspirou para confundir o desejo com a perversão, tornando a sublimação inconcebível como estrutura e finalidade da ética. 41.
A PERVERSÃO
Para a primeira teoria do inconsciente, a de Freud, a perversão não pode ser concebida como uma entidade, a fortiori como uma estrutura. Com efeito, se admitirmos que a perversão é uma transgressão da lei ou da norma, ou ainda da natureza, toda a concepção freudiana da sexualidade, com as chamadas pulsões parciais e a própria tese do inconsciente, farâ com que a perversão apareça como o dado fundamental do "desejo" humano. O próprio Lacan diz que "a perversão mal acentua a função do desejo no homem" .45 O incons ciente nela estaria a descoberto,46 e não teria sofrido outro recalcamento que não o recalque originário. Poder-se-ia então objetar, justamente, que a per versão seria um modo arcaico da relação do homem com suas pulsões ( cf. a célebre fórmula segundo a qu,al a criança é um "perverso polimorfo") e se explicaria por uma fixação. A transgressão seria, de fato, uma regressão pa-
desejo inconscienle e imaginário do discurso
229
ra aquém da unificação das tendências pelo ego organizador de um "mundo" (de acordo com as normas). Mas, por um lado, tudo o que é caminha em di reção ao prazer, e o princípio da realidade não passa de um desenvolvi mento do princfpio do prazer. A unificação das tendências pelo ego só pode justificar-se pela garantia de um prazer superior. O perverso duvida disso e chega ao prazer mais depressa e mais instantaneamente do que os outros. Como convencê-lo de que está errado? Por outro lado, ele se afigura, com bastante freqüência, o mais bem "adaptado" ao mundo e ao princípio de rea lidade, o mais eficaz no encontro dos meios para seu prazer. E se qui sermos, antes, ver na perversão uma transgressão de uma norma moral, o empirismo de Freud só poderá propor uma moral exterior e inútil. Ou bem a unificação das pulsões na "genitalidade" é um engodo da "idade adulta", ou bem é um conformismo, sinal de um enfraquecimento da tendência primordial para o prazer. A teoria lacaniana do significante permite postular de maneira total mente diversa o problema da perversão, capital para a ética. Se não existe um mundo puro a que a lei organize perfeitamente, a transgressão perversa não mais pode ser determinada, simplesmente, como transgressão da lei. Lacan mostrou, em "Kant com Sade", que o perverso não está de modo al gum "fora da lei" e n ão ignora o outro como tal. Muito pelo contrário, ao fazer se "instrumento do gozo do Outro",47 ele está assujeitado a sua lei. Mas existe a lei que comanda a transgressão, e que é ela mesma transgressora. A lei ordena "fazer a lei", porque somente a lei pode transgredir. O que equi vale a dizer que .o significante da lei deve aparecer no real, como um objeto. É o fetiche. A presença do fetiche no cerne de todas as perversões é obser vada por Lacan, que, ao falar da função que o objeto a recebe do simbólico, nomeia a "de fetiche na estrutura perversa como condição absoluta do de sejo".48 Uma estrutura própria da perversão, plenamente comparável às outras estruturas existenciais, pode ser descrita a partir da evidenciação e da de terminação do fetiche. O fetiche corresponde, na perversão, ao sintoma na neurose. Se a perversão é tão difícil de abarcar como fenômeno "patológico" (uma vez que o é ainda mais do que a neurose), é porque o fetiche surge no mundo de maneira totalmente diferente do sintoma: nunca presente como exclUído, mas antes "oferecido ao uso", ou, mais exatamente, recebido co mo aquilo que faz a lei. Mas, quanto à lei fundamental da castração, ninguém pode pretender erigi-la, posto que ela é a lei do Outro, do pai simbólico es sencialmente ausente.49 O fetiche, na medida em que "faz a lei", realiza, não o recalcam�nto, mas a renegação da castração e elo significante do dese jo, Raramente, mas de modo significativo, é a renegação evocada por Freud sem ser articulada numa estrutura da perversão. Lacan pouco a menciona. Vemos nela o processo característico da perversão. Quanto à identificação imaginária que dá. sentido a todos os fenômenos da perversão, trata-se da
230
Lacan e a ftlosojiLJ
identificação com a mãe como objeto primordial. É a plenitude imaginária da mãe que a transgressão causa prejuízos e, ao prejudicá-la, ela a pressupõe. Mais ainda, ela lhe traz aquilo que supostamente a preenche, ou seja, o falo cuja castração é renegada, já que ele está no fetiche. O paradoxo da trans gressão é que ela é um mal, certamente, mas um mal que se apaga como tal porque traz o gozo. Na perversão, o mal radical é renegado. A transgressão é o único meio de produzir, com qualquer mal, um bem. Mas equivale tam bém a introduzir a violência exercida sobre si mesmo e sobre o outro no de sejo. A ética da psicanálise não pode visar a um acordo com a perversão, que, de qualquer modo, é estranha à transferência. O que vem mostrar de maneira muito evidente sua forma última, cujo papel foi tão sublinhado por Freud: o narcisismo que, juntamente com o masoquismo e o sadismo, cons titui as formas estruturais da perversão. Voltemos à relação elo perverso com a lei. Ela é comumente caracte rizada pelo termo transgressão. O perverso, no entanto, poderia sustentar que seu comportamento absolutamente não é transgressor, que ele sim plesmente busca seu prazer, sem levar em conta supostos obstáculos mo rais: não haveria nele nenhuma intenção expressa de desobedecer à norma, ou de infringir a proibição, ou de agir contra a "natureza", ou ainda, de violar o mundo do outro. Mas isso equivale a supor duas coisas que a teoria do significante recusa: que o homem seria levado pela busca do prazer, e que a lei só teria existência fictícia. Se há uma lei, a idéia de transgressão é con cebível ; e ela se impõe no caso daqueles que pretenderiam ser guiados ape nas pelo prazer, ou seja, pela "perversão": dizer que não há lei já é transgre dir a lei. A transgressão se realiza através de um ato. Mas não basta agir de modo diferente do que é ordenado pela lei ou previsto pela "natureza" para que se fale em ato transgressor. Não há transgressão sem uma lei proibido ra que supra a proibição de uma ameaça de castigo (a "natureza" só pode ser transgredida como "lei da natureza"), nem sem que o ato transgressor se produza com o conhecimento daquele que proíbe. Transgredir é sempre provocar. Mas, sendo assim, das duas, uma:· ou o outro exerce precisa mente o castigo que havia anunciado, e nesse caso a transgressão perde seu sentido e o desejo de transgredir se apaga, ou o outro é posto "fora de si", desencadeando-se sua violência. Isso é o que seria buscado pelo ato transgressor: que o outro trans-grida sua própria lei, vá "além de si" , perca seus limites. A lei inicial aparece nesse momento como aquilo que era: uma lei que era violência ela própria e, portanto, transgressão. Ela de fato incitaria o sujeito a transgredir, para poder deixar desencadear-se sua violência. Lei transgressora. Isso é compreensível, porque somente uma (nova) lei pode transgredir (uma lei), negando à lei por ela pressuposta antes de si seu ca· ráter de lei . A lei sou eu , diz a nova lei, e, ao fazê-lo, transgride a própri
(x)", necessariamente universal. Ao não-todo, portanto, deve acrescentar-se a outra fórmula, 3 x. «1> (x), sem a qual ele perde seu sentido, pois recairia no domínio da contradiÇão. A contingência pressupõe o impossível; a Coisa, enquanto aparecendo no mundo onde vem se inscrever, supõe a Coisa como radicalmente fora do mundo. De um lado, a mãe, e de outro, a virgem, ou o falo (conforme a identidade destacada pelo psicanalista Fenichel, Madchen = falo, freqüentemente citada por Lacan) . A mãe é a mulher que consuma a referência paterna. A virgem é a mulher intacta (para o sujeito) que, enquanto falo, convoca a desejar, mas que, por causa de toda a sua plenitude imaginária, surge como a Coisa no real puro, fascinante e terrificante. Depois de afirmar que aquilo a que remete o 3 x. «1> (x) é, propriamente, fazer com que a virgem fale,47 Lacan evoca a menção de Freud ao tabu da virgindade, segundo o qual seria preciso um padre ou um homem "santo" para a primeira relação sexual de uma mulher. Mãe ou falo, a mulher "é sem tê-lo", já que, como mãe, ela "é" sem precisar "ter" e, como virgem, ela o é. Já o homem "não é sem tê-lo": ou b tem, en-
desejo inconsciente e imaginário do discurso
283
quanto pai real, ou não o tem, mas nesse caso não "é", embora se possa di zer que ele ex-siste - é o pai simbólico. A mulher é a Coisa sob esses dois aspectos: palavra pura, de um lado, significante antes de qualquer emergên cia do significado, e escrita falante, de outro; impossibilidade e contingência. Ser-mulher, tal como ser-homem, ganha sentido no contexto da sublimação. Enquanto escrita falante, a mulher está plenamente na sublimação, à qual o homem só pode aspirar. Ela "tem a graça", liberdade suprema, ao passo que o homem está indissoluvelmente ligado aos possfveis e ao simples "livre-ar brtrid' (através do qual pode aceder à sublimação, mas em se perdendo co mo "homem"). Essa escrita falante é fala, no próprio ato de enunciação do significante do Nome-do-Pai, mas não fala pura da Coisa primordial, signifi cante em seu fulgor antes do surgimento concomitante do Nome-do-Pai e do significante fálico. E nquanto é essa fala pura, a mulher está decididamente fora da castração e da subjetividade, e portanto, da sublimação. Mas então, aquém da identificação simbólica, ela não tem inconsciente. É apenas como mãe que a mulher tem um inconsciente.48 O fato de não haver relação sexual aparece agora de maneira sufi cientemente clara. No ato de amor, o homem não entra em "relação" com um elemento, equivalente aos outros, do conjunto das mulheres, mas sim com a Coisa, com a mãe. "A mulher só entra em função na relação sexual", diz La can, "enquanto mãe".49 E, mais adiante, especifica: "[O homem] pode crer que aborda [a mulher] ... Só que o que ele aborda é a causa de seu desejo, que eu designei pelo objeto a. Af está o ato de amor. ... O ato de amor é a perversão polimorfa do macho, isto entre os seres falantes".50 O homem aborda a mulher enquanto objeto a, mas o que encontra, no momento do go zo sexual, é o objeto prolongando-se em sujeito, é a Coisa. É porque a mu lher, no mundo, surge do real, essencialmente contingente, singular, incom parável e única, que o homem como homem se caracteriza por passar de uma para outra. Por exemplo, Don Juan, a quem Lacan faz alusão: "Vocês não vêem que o essencial no 'mito feminino de Don Juan é que ele as tem uma a uma?".51 E prossegue, evocando o "catálogo" do Don Juan de Mo zart: "Se há mil/e e tre delas, é realmente porque podemos tomá-las uma a uma, o que é o essencial". Mas não é Don Juan que prepara a lista; para ele, em cada ocasião, é a Coisa; ele não conta, está preso no presente do de sejo onde dá sua palavra, sua promessa (ou seja, o significante, o que é preciso dar; e, por n ão mantê-las no "mundo", ele não engana ninguém). Quem conta é Leporello, fascinado pelas explorações e pelo desejo em Don Juan.52 Inversamente, é porque o homem não passa de um lugar-tenente particular do pai simbólico, um dentre todos os homens - que, como castra dos, são todos equivalentes -, que a mulher como tal pode prender-se ao homem que ela tem. Se não há relação sexual, no sentido rigoroso de uma relação entre o homem e a mulher, é porque, na situação única que se pode chamar de relação sexual, não existe "a mulher", e sim uma mulher, que ao
Locan e afilosofol
mesmo tempo é única, a Coisa. E, na medida em que podemos falar em "a mulher", ao considerarmos que é próprio de "toda mulher" poder ocupar o lugar sem universalidade da Coisa, a "relação sexual" não pode então es crever-se: o "x" de "a mulher'' surge conforme a contingência, não se ins crevendo na lei (corno relação ou "nexo" universal). É nesse caso que se pode dizer que "a relação sexual é a própria fala", fórmula esta que ganha sentido em seu contexto quando Lacan afirma: "Não há relação sexual tal como a defino, ou, se vocês quiserem, a relação sexual é a própria tala." Como relação entre o homem e a mulher, a "relação sexual" não pode se escrever, porque é imaginária. Como relação entre o homem e a Coisa, a relação sexual não pode se escrever porque é o real da fala pura, o impossr vel. A situação da Coisa como o Outro real é um dos pontos mais delica dos do pensamento de Lacan. Fora do seminário sobre A Ética da Psicanáli se, ele praticamente só evocou a Coisa (que muitas vezes escreve então como "a-coisa") por alusão. Sempre significativamente, porém, em particular quando fala sobre o Outro. Convém insistir na teoria da Coisa como Outro real, caso o psicanalista deva aparecer como vindo ocupar o lugar da Coisa. A Coisa se estabelece demonstrativamente na escrita dos limites da escrita da ciência. A-coisa, diz Lacan, não se mostra: ela se demonstra. É "a mu lher·, e é também "a verdade". Mas em que sentido, então, é o "Outro real"? Na maioria das vezes, Lacan afirma que a mulher não pode ser o Outro, pois ela é justamente o que se inscreve em seu "gráfico" como S(�) - ou seja, o significante de que não existe o Outro, de que o Outro é barrado. Onde en contramos a oposição entre a Coisa e o Outro, apresentada na fórmula já citada: "pois o desejo vem do Outro, e o gozo está do lado da Coisa."53 Mas Lacan também tem que reconhecer, ao final de uma sessão de seminário onde se interrogou particularmente sobre o Outro, que, ao postular esse Ou tro, o que ele propôs concerne apenas à mulher: é ela que nos dá do Outro a ilustação a nosso alcance.54 Na medida em que enuncia o Nome-do-Pai e introduz na castração, a mulher não é o Outro; ela é a letra, a escrita falante que faz referência a um Outro radicalmente ausente, o significante de que não existe o Outro. Essa escrita falante por certo não é a fala pura, mas, ainda assim, é tala, significante (S2) que enuncia o significante-mestre S1 . Mas a mulher é, ao mesmo tempo, fala pura, presença da verdade ("eu, a verdade, falo"), significante primordial cuja negatividade ainda não foi com provada: a Coisa enquanto Objeto do desejo, que necessariamente se apa gará como imaginário. A mulher, então, é o Outro,55 e o sujeito por vir é o segundo significante. É por estar identificada com o Outro simbólico e subli me que a mulher pode aceder a esse lugar do Outro real. Do qual devemos dizer, ao mesmo tempo, que ele se apaga corno Outro e deixa apenas LITl vazio (o da página): o Outro é então colocado corno o Outro simbólico, au-
desejo inconsciente e Í11UJginório do discurso
285
sente ele próprio, essencialmente um lugar - agora, o da verdade. Daí a difi culdade das formulações de Lacan, que visam ao Outro simbólico, mas va lem primeiro para o Outro real, que se apaga como Outro e se torna o lugar vazio onde se efetua o ato de escrever. 50.
O AMOR E A TRANSFERtNCIA
O saber psicanalftico não é simplesmente um saber teórico. E tampouco é um instrumento para o analista. Ele instaura a situação analítica, onde a su blimação se torna possível. Enquanto escrita falante, faz do psicanalista a Coisa materna, que convoca o sujeito ao lugar do pai simbólico. E faz advir nele o significante. O que não equivale a outra coisa senão amá-lo. Sobre o saber analftico, Lacan diz que ele é a "carta de amor".56 Primeiro porque aí se trata de uma questão de amor: "Falar de amor, com efeito, não se faz ou tra coisa no discurso analftico."57 Mas também e sobretudo porque o saber analftico é amor e suscita o amor. Pois o amor é "o que vem em suplência à relação sexual".58 Relação da Coisa com o Outro simbólico, relação do su jeito com a Coisa como Outro real. Para Lacan, o amor certamente é "rela ção de sujeito a sujeito",59 e talvez pareça que tal relação devesse ser sepa rada da relação do sujeito com o Outro, como desejo. Mas amar é colocar o outro sujeito como significante, colocá-lo como o Outro. E quando Lacan evoca, a propósito do amor, a importância dos signos do sujeito, opondo sig no a significante, ainda assim sustenta que "seu signo é susceptível de pro vocar o desejo".60 Mas o que suscita o desejo é sempre o significante. É próprio da letra revelar simultaneamente o signo, já que ela aparece no con texto do mundo e do significado, e o significante. O sujeito visado pelo amor não tem outro signo senão a letra. Se o amor se relaciona com os signos do outro sujeito, é enquanto significantes. Amar é colocar o outro corno Outro, deixar advir nele o significante. Assim, é o amor que, na situação analítica, torna possível a passagem à sublimação. Ele é ato, então. No entanto, longe de ser o que permite o acesso à sublimação, não será antes o amor aquilo que o impede? Não deve o analista resistir às se duções do amor do analisando e conservar uma perfeita neutralidade, sem responder à demanda de amor? Não terá Lacan afirmado que o amor é "a face de resistência" da transferência? É verdade que a transferência é amor e é neurose. Mas não é enquanto amor que o amor transferencial resiste à passagem à sublimação. O amor pelo analista, que corresponde ao amor deste último pelo sujeito, encontra sua origem no saber do analista, que faz dele a Coisa. Mas o analisando não quer - é essa, justamente, sua neurose - entrar na identificação com o pai simbólico que o analista abre diante dele. Dar sua "tentativa" de seduzir o analista pelo amor transferencial. Para evitar a relação com a castração implicada na sublimação. Assim, pode-se falar
286
Lacan e a jil.osofia
em sedução na medida em que o psicanalista é desviado de um trabalho (trabalho este que, ao mesmo tempo, como diz Lacan, espera-se dele na análise).6 1 Que é que se revela sedutor no amor transferencial? É que o analista seja enganado por um amor onde é imaginariamente identificado com o pai real (o que finalmente conduz ao "pai imaginário"), conforme a identificação própria da estrutura neurótica. Mas, se ele é propriamente ama do, isso não se dá em função dessa identificação imaginária, dessa "ideali zação", mas porque ele permanece, para o sujeito, como a Coisa. Não de vemos confundir amor e idealização. O amor vai sempre em direção ao Ou tro, simbólico e ausente, ou real, e é a Coisa. No amor transferencial, o que se ama no outro é sempre o significante, mas como sintoma. De maneira ge ral, o neurótico ama no outro o sintoma, seu sintoma. E é esse sintoma que ele procura reencontrar no analista, através das formações do inconsciente que aparecem durante o tratamento. Mas, se o amor transferencial volta-se também para a Coisa, e se não é, enquanto amor, o lugar da resistência, como pode produzir-se a resistência? O amor, mesmo na neurose, conduzi ria à sublimação: amar o outro é sempre colocá-lo como significante. Mas, se o deixamos identificar-se com o Outro simbólico, não lhe permitimos completar essa identificação. O que seria produzir a escrita falante, sublimar e advir como a Coisa de maneira não-neurótica. No momento em que ten tasse aceder à sublimação, o amor se transmudaria em ódio. O sujeito teme essencialmente perder o amor do outro, e o ódio vigia para impedir que o ou tro escape. O amor neurótico não funciona sem o ódio. É o "amódio" ["hai namoration") de que fala Lacan. Mas o ódio não se inscreve no amor neuró tico enquanto amor. Há uma dinâmica interna da neurose. O amor se blo queia, não conduz a uma sublimação efetivamente possfvel, mas faz sim plesmente advir no lugar do Outro simbólico. O que é "imaginarizado" na neurose é o pai real, o homem. Aquele que escreve sem jamais produzir a escrita falante, aquele que sabe, mas com um saber que não encontra seus limites e, portanto, nunca se refere à verdade, e por isso mesmo carece de sua própria verdade. É o "sujeito suposto saber" do amor transferencial, se parado de sua verdade, de sua parte feminina que está no sintoma. Essa é, pois, a situação da transferência. Para permitir ultrapassar a transferência e possibilitar a sublimação, o analista deve efetuar incessantemente seu pró prio trabalho de luto, abrir, por sua interpretação equfvoca e enigmática, um espaço para a fala do analisando. Responder às seduções da transferência com uma recusa a se deixar tomar por senhor, e ao ódio, com um amor, um outro amor diferente do da neurose. Esse outro amor é de estrutura, mas prolonga o amor neurótico. É ele que faz ato. Na relação analftica (assim como na relação sexual) realiza-se o ato. O ato é um significante, produzido como tal a partir de outro significante. As sim como na escritura lavrada em cartório, ou no crime, que se vêm insere-
fksejo incon.scienle e imaginário do discurso
287
ver na memória dos homens, mas somente na medida em que encontram sua origem num outro significante, presente naqueles que os produzem. Não nos podemos contentar em dizer que o ato "é um significante que se repete", pois o que importa é o modo dessa repetição. O sintoma também se repete, e sua repetição não faz ato. Lacan completa sua fórmula sublinhando a rup tura que o ato introduz: "Ele é instauração do sujeito como tal, o que quer di zer que, de um ato verdadeiro, o sujeito surge diferente em razão do corte, sua estrutura é modificada ... " Instauração do sujeito como tal porque se pro duz um significante a partir de outro significante, e porque, segundo Lacan, um significante é aquilo que um sujeito representa para outro significante. O novo significante representa o sujeito, como o ato criminal para aquele que o perpetrou, mas também para os outros. E o diffcil no ato (isso é patente no crime) é que é preciso estar à altura do ato que se realizou, mostrar que se o refaria se a situação fosse a mesma, que não se cessa de tornar a querê-lo, de querer, como diz Nietzsche, seu eterno retorno: é nesse sentido que ele é "um significante que se repete". O ato é a entrada efetiva numa outra estru tura, a própria sublimação. Não simplesmente a instauração do sujeito, mas o surgimento do sujeito como diferente. É o próprio sujeito, constituído en quanto sujeito pelo significante, que produz o ato, como significante, e acede à sublimação. Acesso que sempre se efetua numa situação cujo modelo é fornecido pela relação analítica. E é como ato ele escrita ou de fala que o "a to" pretendido pode ser propriamente um ato. O crime jamais se rea.liza co mo ato, e a "passagem ao ato" não passa elo malogro do ato verdadeiro. Quanto à relação sexual, ela é plenamente ato, na medida em que leva a fa zer surgir a Coisa. A partir da pulsão e do desejo, "faz-se" o amor. Mas a Coisa se apaga, e a mudança se dá repentinamente: a escrita s6 está pre sente aí como "traço" unário, o que não é a escrita no sentido próprio elo termo sublimação; e a produção, ao mesmo tempo que do traço unário, do significante fálico, permite apenas "contar os cortes".62 O ato que introduz uma modificação decisiva da existência humana é da ordem do ato psicana lítico. Daí o que diz Lacan: o discurso do analista nada mais é do que a lógi ca da ação.63 Corno se consuma o ato psicanalftico? Ele é ato de fala, próprio do analista. Ao qual deve corresponder o ato de escrita do analisando. Eis aí uma tese paradoxal, já que o analisando é aquele que fala, ao passo que o analista se cala a maior parte do tempo. Vamos reencontrá-la no que Lacan diz sobre os conteúdos latentes que devem advir na prática analítica: para o analisando $. é seu saber S2 , aquilo que ele não sabe ao mesmo tempo que o sabe, e esse saber não é outra coisa senão o inconsciente; para o analis ta, é a interpretação que ele deve fazer como S , para dar um sentido a esse 1 saber S2 descoberto no sujeito.64 Mas a interpretação elo analista não é, de imediato, a prova de que a fala seja um feito do analista. Lacan explícita que o significante paterno S é produzido pelo sujeito,65 e que o sujeito é o ver1
288
lAcan e a filosofia
�adeiro "interpretante", enquanto o analista nada faz senão ajudá-lo a inter pretar. De fato, que se passa na interpretação analftica? O analista tomou notas, aquilo que o analisando disse escreveu-se nele, a partir do que lhe ocorre subitamente a idéia de um dito, de um significante que dá sentido a essa escrita. Mas, ao enunciar o significante interpretativo, ele se põe no lu gar do analisando, e faz, diante de todo o dito do analisando, o que este po deria fazer, ou seja, evocar o significante fundamental do Nome-do-Pai, que dá sentido ao simbólico. É o sujeito que deve enunciar o significante. É em seu discurso que o significante deve poder ter lugar, de tal sorte que se evite a fonnação do sintoma. "É na medida em que uma interpretação correta ex tingue um sintoma", diz Lacan, "que a verdade se especifica como sendo poética".66 Ela é ato nesse sentido. Mas, se a fala deve ser enunciada no lu gar do analisando, ela é fala do analista. A fala é um fato estrutural: há o ana lista, como significante S , e '? analisando, no lugar do significante-mestre s, , 2 colocado como significante. E enquanto Coisa que o analista fala. Mesmo e sobretudo em seu silêncio. É sua fala efetiva, ao contrário, que pode marcar sua resistência e levar ao fracass0. Quando ele interpreta, é no lugar onde se desenrola a fala efetiva e onde se trata de evitar que o significante verbal se apague em benefício do sintoma. A interpretação justa é enunciada no lu gar do analisando, como que pelo analisando. Mas é ato do analista. Não se ria possrvel sem a situação analítica e o lugar do analista. Devemos até mesmo dizer que é a situação analftica que é interpretativa, através do saber analrtico e daquilo que ele evoca no outro. Quanto ao analisando, sem dúvida ele também se transfonna na Coisa, quando enuncia a interpretação justa e quando o sintoma se dissolve. Mas ele não pode advir como a Coisa, no lu gar d9 analista, senão graças à escrita. E a escrita que ele produz é, primei ramente, não falante. São as chamadas associações "livres". Somente a escrita (e a sublimação) permite deixar que se dê a fala. Como analisando, o sujeito é aquele que escreve, que acede ao saber. Sua temporalidade ele analisando não é a abertura ao Outro na fala. A fala surge nele, no entanto, pela escrita falante, mas então se abandona a relação analrtica inicial. A es crita é também um fato estrutural. O analista é a página onde o analisando escreve. O analista é a parte mulher, a fala, ou até mesmo, no contexto da transferência, o sintoma. o analisando, nesse mesmo contexto, é irreduti velmente o homem. O ato do analista é fala. Não foi ele quem produziu a escrita falante, a "obra". Dar o valor, mas também os limites, da interpretação para o analista. A interpretação é essencialmente poética, não só porque extingue o sintoma e faz ato, mas porque é metáfora e se une à poesia no sentido mais comum. No lugar do significante aprisionado no sintoma, ela faz aparecer o signifi cante verbal colocado como significante, graças ao equfvoco e ao trocadilho. "Não temos outra coisa senão isso como anna contra o sintoma", diz Lacan, "o equívoco . ... É unicamente pelo equívoco que a interpretação funciona."67
duejo inconsciente e imaginário do discurso
Assim sendo, a interpretação é tão metáfora quanto a metáfora puramente verbal que coloca um significante verbal em lugar de outro significante verbal tido como permanecendo "presente por sua conexão (metonfmica) com o resto da cadeia".68 Pois o que constitui a metáfora não é mais do que o sur gimento do significante como tal em ligação com o discurso - o que se efe tua, primeiro e radicalmente, na metáfora do Nome-do-Pai, que todas as metáforas posteriores evocam e de onde retiram sua eficácia. As metáforas "verbais" no discurso do analisando, assim corno as intervenções do ana lista, já são, por isso mesmo, uma interpretação. Todavia, por pqética que seja, a interpretação não cria a obra na análise (e particularmente para o anaUsta) . Não tanto pelo fato de que "o analista só intervém por uma verdade particular",69 particular ao sujeito e a sua história. Com efeito, é a partir des sa verdade inteiramente particular que o criador elabora sua obra. E o ana Usta intervém graças à "llngua" e aos jogos de significante que ela contém, que são comuns. Mas a análise persiste como um fenômeno de fala, e a es crita não se exibe nela até a obra. Ela é supostamente do analista, mas a suposição basta. O analista é o sacrificado pela análise, aquele que começa uma obra para um outro (o sujeito), e que passa muito mais de um analisan do a outro, de uma verdade particular a outra, abandonando esses fragmen tos .de obras que não são suas. 01.1anto ao analisando, a análise certamente é para ele ato de escrita, mas a obra não se pode concluir na análise. Por que o dom de amor do analista está institucionalmente limitado (a análise é um fenômeno social) à resolução do sintoma. A escrita, na análise, é o ato do analisando, e isso tem como conse qüência que o discurso analftico, apesar de suportar a posição do analista, só possa ser elaborado e manifestado pelo analisando: "O discurso analrtico existe porque é o analisando que o sustenta",7° diz Lacan. E por seu ensino, que nunca deixou de procurar aprofundar o discurso anaUtico, ele afirma, da mesma forma, que este só encontra sua dinâmica pela posição do analisan do. A maneira do discurso de Lacan, jamais acabado como escrita, deduz se dar. E corno é unicamente por ser tomado como tendo passado pelo tra balho de analisando que o analista pode ocupar seu lugar -em relação a um outro analisando, Lacan está autorizado a sustentar que "não há, contraria. mente ao que se emite, nenhum impasse entre [sua] posição de analista e o que [ele faz] aqui [nos semináriosf'.11 A fala, na análise, é a do analista, e nenhuma fala pode ser enunciada ali que não provenha dele. Mas somente o analisando, que não "fala", pode sustentar o discurso analftico. Dar a fórmula lacaniana de que a essência da teoria analltica é um discurso sem fala. O saber do analista, assim, é o que toma possrvel o acesso do sujeito
à sublimação. É, igualmente, o saber a que chega o sujeito na sublimação.
Deve ser distinguido do saber que teria um "sujeito suposto saber",72 pois
todo saber de sujeito é, necessariamente, um saber que não depara com li-
290
Lacan I! ajilosofio
mites, um saber da ordem da escrita da ciência, saber separado de sua ver dade. Deve distinguir-se também do saber neurótico que constitui a verdade desse saber da ciência. Evocando um amor que não pode ser outro senão o amor neurótico da transferência, Lacan diz que "a mulher só pode amar no homem a maneira com que ele enfrenta o saber com que ele alma",73 e opõe esse saber com que ele aima ao saber com que ele é. O saber com que se "alma", e que é preciso enfrentar para aceder à sublimação, é o saber impli cado pelo sintoma, o saber inconsciente da neurose, que leva a reconhecer no outro o objeto do amor neurótico. O saber com que se é é o saber do analista, o saber da escrita falante, fora de qualquer recalque. Mas também ele ama e desperta o amor. "Todo amor", diz Lacan, visando ao amor trans ferencial, "se baseia numa certa relação entre dois saberes inconscien tes".74 Isso vale igualmente para o "outro amor". Não obstante, é certo que o amor comum é o amor neurótico, e que ele surge no encontro elos "signos enigmáticos" da Coisa materna da neurose. "Não hâ ar [na contingência do amor] outra coisa senão encontro, o encontro, no parceiro, dos sintomas, dos afetos, de tudo o que em cada um marca o traço do seu exnio, não como sujeito, mas como falante, do seu exRio da relação sexual."75 Onde Lacan separa bem o sujeito, que não pode ter outro saber senão o da ciência, e o ser falante, a Coisa, cujo saber é a verdade. O saber com que se alma é re conhecimento e identificação (do outro e com o outro) através do sintoma. Entretanto, na medida em que é amor, ele é relação com o outro corno Outro. Simplesmente, a identificação pelo sintoma sela o limite do amor neurótico e a presença do ódio em suas bordas. O amor neurótico, assim como o "saber com que se alma", não pode separar-se desse ódio. Dar o titulo de um dos últimos seminários de Lacan: L'insu que sait de J'une-bévue s'aile à mourre* (1976-1977). "S'aile à mourre" é porque o neurótico "alça võq" na exaltação do amor, mas para finalmente morrer por ele, dilacerado pelo ódio. "L'insu que sait de J'une-bévue" é o saber do saber inconsciente (unbewusst) do outro: aquele que ama é amado, tal como aquele que sabe é sabido, diz La can . 76 Mas, se a análise tende a reduzir esse saber com que se alma para fazer advir o saber com que se é, ela esbarra nos limites da sublimação, no recalcado ''fatal". É ar que encontra sua justificação última a fórmula lacania na de que "uma mulher é um sink>ma para todo homem": o feminino que lhe permanece para sempre exterior, e que ele ama corno a sua neurose.
•
Uma possfvel tradução para esse tllulo seria "O n4o-sabido que sabe do engano se ele
va na aporrinhação", mas vale lembrar que ar se faz também presente, por homOfonia, outra frase: "O n4o-sabido que sabe do ill(X)nsciente á o amor". (N. da T.)
uma
desejo inconsciente e imaginário do discurso 51.
291
O INCONSCIENTE E O OUTRO GOZO
Todo saber é gozo. Gozo essencialmente diferente do gozo sexual, pois nele não se mesclam o gozo e o sofrimento. Gozo puro, por conseguinte, "constitutivo do ser falante" enquanto gozo do significante verbal. É a esse gozo que o tratamento analítico faz aceder, separando-o do gozo sexual com que ele se confunde no sintoma, ele próprio sendo sempre, ao mesmo tem po, gozo e sofrimento. É o gozo do Outro, ou ainda, da mulher. Sem que se possa fazer dele o fim buscado por qualquer "ética" (o que seria supor um "saber do gozo"), ele aparece como aquilo que dá o sentido da sublimação. Que todo saber verdadeiro seja gozo, portanto, é o próprio fato do in consciente. O inconsciente só tem sentido e verdade para um sujeito como gozo. Porque a consciência é prova77 da verdade daquilo que tem sentido no mundo.78 O inconsciente é que a comprovação da verdade não se pode fa zer no mundo. O que vale, se não para os conteúdos particulares e intra mundanos do saber, pelo menos para o próprio saber. O gozo é essa com provação. Ela é inconsciente em sua verdade, o saber enquanto não pode saber de si, o saber "não sabido". Somente a comprovação do inconsciente como gozo poderá legitimar um discurso que pretenda realmente enunciar o inconsciente. Há, portanto, um outro gozo que não o gozo sexual. Lacan o determina como gozo do Outro. É o gozo preso no significante verbal. Todo gozo é, de fato, gozo do significante, enquanto o significante é colocado como tal.79 Mas o significante é, a um só tempo, significante verbal e significante não-verbal, ou seja, esse significante (o falo) que se articula com o Outro sincrônico do tesouro do significante (verbal). Dar os dois gozos, que surgem ao mesmo tempo na fulguração da Coisa, quando ela enuncia o significante da lei e faz a apresentação ao valor significante do falo. O chamado gozo do Outro é gozo da fala e da escrita ("o escrito é o gozo", diz Lacan) . Gozo específi::o do saber, já que saber é colocar um elemento do mundo como significante e que, por outro lado, só há fala humana a partir de uma escrita, a escrita fa lante caracterfstica da Coisa.80 Esse gozo do Outro é diferente do gozo fáli co, não apenas porque se acrescenta a este e se acha preso a uma outra espécie de significante, mas porque é essencialmente diferente: é gozo puro, diversamente do gozo fálico. Lacan não sublinha esse ponto, embora ele seja capital para a teoria do significante: o significante verbal realmente pro voca a ilusão da presença do objeto absoluto, e a prova da falta não é su posta, mas fica por fazer. No caso do significante-mestre, do Nome-do-Pai como significante do Outro simbólico, a prova da falta nunca se efetua, ou pelo menos não se comprova que o objeto desejado como absoluto é enga noso. Ele falta, simplesmente porque não está ali. Está essencialmente Alhu res. A fórmula S(�) quer dizer primeiramente, para Lacan: "Significante de
Lacan e a jilosojiD
292
uma falta no Outro, inerente a sua função mesma de ser o tesouro do signifi cante."81 Mais tarde, porém, ele a apresenta de outra forma: "O Outro, esse lugar onde vem se inscrever tudo o que se pode articular do significante é, em seu fundamento, radicalmente Outro. É por isso que esse significante, com esse parêntese aberto, marca o Outro como barrado - S(�)."82 O Outro pode ser considerado segundo dois aspectos irredutrveis e radicalmente li gados: há o Outro sincrõnico, marcado pela falta� mas o falo, com o qual ele faz uma articulação significante, não pode ser constitufdo como o significante não-verbal sem que, ao mesmo tempo, ele próprio, pela posição do Nome do-Pai, advenha como Outro puro, que não é marcado por nenhuma falta. O S(IJ, que vimos ser a "carta de almor" e também a mulher, coloca como significante esse Outro sempre Outro, que permanece exterior a qualquer escrita e que, justamente, ex-siste ( 3 x. (x)), já que a produziu como significante. O gozo do significante verbal é, portanto, gozo puro, ao passo que o gozo fálico é mesclado de sofrimento, porque o falo é um significante em que está implicada a negatividade (como pulsão de morte). Lacan co menta que Freud descobriu algo sobre o gozo através do masoquismo;83 ar, porém, ele está ligado ao sofrimento: é um modo do gozo fálico. Esse vrnculo com o sofrimento caracteriza o gozo como sexual, já que · é próprio da se xualidade humana acionar o aparelho das pulsões (e portanto, a pulsão de morte). E o gozo sexual é necessariamente fálico, uma vez que o falo se distingue, entre os objetos a, por ser o único a ter valor significante. Lacan o chamou, com justa razão, "fora do corpo"84: o falo, como todos os objetos, vem a mais no corpo - elemento exterior, "órgão" enquanto instrumento85 com que se goza para dele extrair o gozo. É ele que se enche e conhece a "plenitude", enquanto o corpo, o "resto" do corpo, se esvazia e permanece "em sofrimento". Esse gozo é o do sujeito. O verdadeiro gozo do corpo (em bora todo gozo seja corpo) é o gozo do Outro. É pelo gozo do Outro que o corpo pode ser propriamente chamado de "substância gozante":86 Aqui, po rém, é preciso distinguir bem o gozo perverso, onde se goza com esta ou aquela parte do corpo como fetiche, e o gozo do Outro, que é o gozo do cor po "no corpo" (cf. o tftulo do S XX, Mais, ainda*), mas que Lacan também ca racteriza como gozo mental. B7 Gozo mental porque os significantes verbais são corpo, mas não um dado corpo particular. É através deles, no entanto, e através da plenitude que eles produzem como gozo, que o corpo particular pode advir enquanto corpo, numa "unidade" (donde a disposição do gozo do Outro na intersecção dos crrculos do real e do imaginário, nos nós borro meanos do seminário RS/). Esse gozo, Lacan o determina também como "gozo do ser"BB ou "gozar a vida".ss
• O lflulo original do seminário é "Encore", foneticamente idêntico à e x p re ssão "en
corps"
(no corpo). ( N . da T. )
desejo inconsciente e imaginário do discurso
193
O gozo do Outro é gozo da mulher. "Por ser não-toda", diz Lacan, "ela tem, em relação ao que designa de gozo a função fálica, um gozo suple mentar."90 Gozo da Coisa, visto ser ela que, enquanto escrita falante,9 1 co loca o significante paterno como significante. Mas o Nome-do-Pai é o "signi ficante do Outro como lugar da lei". Parece que deverfamos concluir dar que o gozo do Outro é o gozo que se toma no Outro, e precisamente que a mu lher, enquanto é "o que tem relação com esse Outro",92 experimenta colocar o Outro como significante na metáfora paterna. Certos textos de Lacan, até o seminário Mais ainda ( 1 972- 1 973), levam a essa interpretação do '.'gozo do Outro". Mas, conhecendo esse gozo, que é por definição plenitude que sus cita o desejo, a mulher é também o Outro, o Outro real. O gozo do Outro é então o gozo que caracteriza o Outro, e não mais o gozo que se toma no Outro. Ora, uma das teses essenciais de Lacan é que não há Outro do Ou tro. Dar a nova contestação, nos anos posteriores, do "gozo do Outro", na medida em que ele poderia ser concebido como gozo tomado no Outro corno objeto: "Não há gozo do Outro - genitivo objetivo".93 É verdade que o gozo experimentado no ato de escrever, pelo q ual o sujeito advirá no lugar do Ou tro real, da Coisa, mas no qual ele ainda não é a Coisa, é verdade que esse gozo de escrever é um gozo próprio daquele que se identifica com o Outro simbólico e produz a letra como significante, por um ato que deverramos chamar de "criador". A Coisa tornou seu esse gozo. Nessas condições, quando Lacan levanta a questão "E porque não interpretar uma face do Ou tro, a face Deus, como suportada pelo gozo feminino?",94 convém entender, não que o gozo da mulher sirva de base à existência de Deus enquanto go zo tomado de Deus como objeto, mas antes, que o gozo feminino é o gozo do próprio Deus, aquele que Deus experimenta e que é o modo de sua ple nitude.ss O que não quer dizer que, para Lacan, seja possrvel fazer de Deus um "ente" efetivo cujo ser seria a verdade absoluta. O gozo do Outro é gozo puro, mas essencialmente relativo, pois só aparece ligado à castração.96 "Deus é a mulher tornada toda",97 propõe Lacan. Mas o "não-toda" pelo qual a mulher escapa em alguma coisa à castração não pode, ele próprio, ser tornado "todo": o "todo 'não-todo"' está excluído. O gozo do Outro só pode ser um gozo "suplementar". O gozo do Outro se distingue radicalmente do gozo fálico, mas não pode ser conhecido sem que se passe pela prova desse gozo, e pela cas tração que ele implica. Assim, é no ato sexual, mas também no tratamento analftico, onde se trata sempre de sofrer a ausência da relação sexual. Con tra essa ausência, o neurótico se protege através de seu sintoma. Mas com a conseqüência de que o gozo do Outro não pode separar-se, para ele, do gozo sexual. E ele carece inelutavelmente do gozo puro de cuja existência "sabe demais". Isso que sabe a mulher (a Coisa) - e é por isso que ela é a verdade para o sujeito - é que há um gozo com o qual é preciso defrontar-se
294
Lacan e a filosofia
primeiro, e pelo qual se atinge o real além do semblante, as coisas além das palavras. É o gozo fálico. Um gozo "solidário de um semblante" (o nome e o traço unário), mas que conduz também para além do semblante, em direção ao real e, ao mesmo tempo, à verdade. O homem tem que encontrar a an gústia no ato sexual. É mais fácil para o homém, diz Lacan, enfrentar algum inimigo no plano da realidade do que enfrentar a mulher: se ela representa a verdade para o homem, é porque encarna esse saber irredutfvel de que, por mais que o gozo e o semblante se equivalham numa dimensão de discurso, nem por isso são menos distintos na experiência - unicamente através da qual o semblante recebe verdade.98 Fora dessa prova da castração (emi nentemente no encontro com a mulher), o gozo do Outro, como gozo do "semblante", é um engodo.99 Isso é o que se produz na neurose. Por seu sintoma, o neurótico goza com a lei, mas sexualmente. Os sintomas são a atividade sexual dos neuróticos, dizia Freud. E, ao mesmo tempo, sua "fala", acrescenta Lacan. No significante do sintoma confundem-se o falo e o signi ficante paterno recalcado. O pai real, aquele que tem o falo, é ao mesmo tempo a lei, sob a aparência da interdição. O gozo do Outro não pode então separar-se do gozo fálico e se apaga enquanto tal. Com o saber neurótico, implicado no sintoma, e que é, como vimos, um saber real, não se pode go zar como tal, justamente porque ele se produz com o sintoma, que é primei ramente gozo fálico. Se, como diz Lacan, "o sintoma é a irrupção dessa anomalia em que consiste o gozo fálico, na medida em que ar se expõe a falta fundamental que qualifico de não-relação sexual",1 00 ele mantém igual mente uma relação com o Outro do amor e permite "a ilusão de que a rela ção sexual pára de não se escrever".1 01 Mas, em tal amor, que seria relação sexual e evitaria a solidão da castração, o gozo puro permanece como um horizonte impossível de atingir. O tratamento analftico é o lugar onde se pode efetuar a separação dos dois gozos, que Lacan esclarece ser curta e limita da. 1 02 A interpretação do sintoma é sua conversão em gozo mental, que libe· ra para t.m gozo sexual que não seja mais o do sintoma, mas o do encontro (faltoso, é certo) com o Outro como Outro sexo. A emergência do gozo puro caracteriza a sublimação e lhe confere sentido. O saber que aí se produz é um saber com o qual se goza. O saber com que não se goza é o "saber" da ciência, que, convém lembrarmos, não é plenamente um saber, uma vez que só se transforma nisso no contexto da neurose, e para um sujeito que a ciência abole de seu campo. Todavia, mesmo com o verdadeiro saber neurótico não se goza propriamente. O gozo do Outro aparece com o saber sublimatório corno escrita falante (notada mente o materna da psicanálise), o que é implicado pela prova da castração e pelo ''trabalho do luto": "O saber vale justo quanto ele custa, ele é custo· so", diz Lacan, "pelo que é preciso, para tê-lo, empenhar a própria pele, pois que ele é diffcil, difícil de quê? - menos de adquiri-lo do que de gozar de· le."1 03 A ciência alimenta a ilusão de um saber que se poderia adquirir pela
desejo inconsciente e imo.ginário do discurso
295
troca, que se comunicaria. O verdadeiro saber não se comunica. Esperar por ele pressupõe uma experiência dolorosa, condição do gozo. Assim é com os "criadores", "esses seres de que a letra se faz", segundo a fórmula de Lacan, que então evoca Marx e Freud: "por toda parte onde não os en contramos, esses saberes, tê-los feito entrar na própria pele por duras ex periências, isto acaba a seco." 104 Se gozamos com o saber como saber verdadeiro, é porque não pode haver saber absoluto. Pelo menos no sentido de um saber que soubesse a si mesmo - pois o saber é absolutamente um saber. A verdade da Fenome nologia do espírito, de Hegel, é o posicionamento progressivo de toda a arti culação significante que o saber supõe. Mas o lugar do Outro simbólico a partir do qual se desdobra toda essa escrita lhe permanece externo, ex-siste a ele� 05 A "consciência" só pode então incidir sobre os elementos signifi cantes articulados no saber, e é prova da intersignificância, mas no contexto do mundo e de sua temporalidade. O próprio saber, baseado no significan te1 06 e decorrente de uma temporalidade diferente da do mundo, não pode ser sabido. Isso o caracteriza como saber inconsciente e resulta da própria idéia do in-consciente, que é prova da verdade do significante, e portanto, gozo. Assim, o não-saber do saber nada tem de negativo. O saber que não se sabe nem por isso é menos absoluto. Lacan diz que o Outro sabe, e tam bém que não sabe. Donde não se deve concluir que ele "sabe que não sa be". E que o sujeito teria que visar a uma sabedoria socrática. O não-saber não pode ser objeto de um saber, e não se tem que "assumir" essa situação. O Outro "não sabe que sabe" e, nesse não-saber, o único que é radical, ele goza. Gozo que experimentamos, que sabemos experimentar, mas do qual nada podemos saber por uma "experiência" qualquer. O gozo do Outro é dedutivamente determinado, do mesmo modo que a Coisa não se mostra, mas se demonstra. Lacan fala nele como esse gozo "que estou a ponto de fazer vocês abordarem pela via lógica, porque, até nova ordem, não há ou tra". 1 07 Gozo constitutivo do inconsciente, como o enuncia esta fórmula onde se resume toda a teoria lacaniana do inconsciente: "O inconsciente não é que o ser pense, como implica, no entanto, o que dele se diz na ciência tra dicional - o inconsciente é que o ser, ao falar, goze e, acrescento, não quei ra saber de mais nada. Acrescento que isto quer dizer - não saber de coisa alguma."108
52.
OS QUATRO DISCURSOS
Não há saber do inconsciente. O inconsciente é o saber e, por definição, é um saber que não sabe de si. Somente o discurso pode enunciar o incons ciente e assim determiná-lo como saber não sabido com o qual se goza. Somente o discurso, a despeito da ilusão que suscita, e justamente por ser
2%
Lacan e a filosofia
sempre especulativo, pode formar o conceito elo inconsciente, conceito es peculativo que concerne ao próprio ato daquele que o enuncia enquanto tal.109 Mas um discurso só enuncia realmente o inconsciente quando não desmente seu dito por seu ato. Um discurso sobre o inconsciente deve não apenas dizer o inconsciente e apresentá-lo como saber e gozo, mas implicar e provocar a prova desse gozo. Tal discurso é o discurso analftico, que ins taura a situação do tratamento pelo saber que inclui, mas deve distinguir-se dele como "discurso". Como então conceber esse discurso sobre o incons ciente? Como, mais radicalmente, conceber o discurso em geral, que traz a ilusão especulativa a partir do inconsciente, que a denuncia? Lembremos que todo discurso pressupõe uma questão, que remete fi nalmente à indagação filosófica sobre o ser.11o O que a questão busca é o saber sobre o ser. Mas esse saber é fundamentalmente problemático, de pende da possibilidade efetiva do pensamento, e a questão não mais teria sentido se o pensamento, de certa maneira, não faltasse. Essa falta do pen samento, como lugar primordial do ser-um, é a falta da plenitude, ou ainda, do gozo. O discurso encontra sua origem na falha do gozo, e qualquer que seja a tese que sustenta, até mesmo a tese de que não existe plenitude, ele aparece, enquanto discurso, coiT'o dizendo: Eis aqui o que é preciso fazer para conhecer o gozo. Não há discurso senão do gozo, começa Lacan, mas depois parece reservar essa fórmula para o discurso do senhor (que, diz ele, confia no trabalho de uma verdade oculta) . 1 1 1 Mas o discurso do senhor não é outra coisa senão o discurso que assume plenamente o que decorre do fenômeno do discurso. Todo discurso, por enunciar em resposta à questão uma tese sobre o ser em geral e supor a atividade do pensamento, afirma-se como saber especulativo, saber do gozo. A partir do inconsciente, não podemos senão recusar o saber espe culativo como ilusório. Mas nem por isso o discurso deixa de existir. Ele or dena toda uma situação onde se encontra a estrutura fundamental do in consciente, mas num nível de articulação significante que não é o da fala. Lacan diz, a esse respeito, que sem fala ele pode subsistir muito bem, que as enunciações efetivas são secundárias em relação à presença constante de certos enunciados primordiais.112 Mas a tese, característica do discurso, e que reúne todos os enunciados, não' é mais do que um dos quatro elementos constitutivos da estrutura do discurso. Há primeiramente o outro, sem o qual o discurso não se produziria. O outro não é simplesmente aquele a quem o discurso se dirige, mas aquele que questiona: o discurso advém como res posta significante a esse "outro", lugar da questão. Pela questão que coloca, o outro contesta a ordem do simbólico e do mundo, e o lugar que ele ocupa na estrutura do discurso corresponde ao do sujeito e do falo na cadeia do in consciente. Para esse outro, aquele que sustenta o discurso é, enquanto tal, significante. Lacan o determina como o agente. É por seu "ato" de discurso
desejo inconsciente e imaginário do discurso
297
que o efeito se produz. Ele enuncia a tese fundamental, que é não apenas emergência do significado, mas posição, no significado, do que é significan te. O discurso diz: Eis o que é preciso fazer, o que é o bem. E o discurso não poderia ter consistência se a "verdade" que ele enuncia não fosse tam bém a verdade do agente. Presença do especulativo no discurso. O último elemento da estrutura do discurso é o efeito produzido no outro e sobre o outro, o que Lacan chama de produção. O discurso inteiro só é significante por causa desse efeito. A estrutura do discurso aparece, assim, constituída de elementos, cada um dos quais é "significante" para aquele que o precede, conforme a própria ordem da cadeia do inconsciente. Essa situação de discurso implica a ilusão da plenitude e da totalidade. A tese fundamental se afigura necessariamente como um saber e, como verdade especulativa, um saber que sabe de si. Ora, isso não é um saber. Saber, de fato, é colocar um elemento do mundo como significante, e real mente parece que na tese do discurso o significante que é posto no signifi cado o é enquanto significante. Mas, em razão mesmo da situação de dis curso, o que é de fato colocado como significante é o efeito. Do qual haveria então um saber, se se tratasse de um elemento do mundo. Mas o efeito de pende do outro e de seu surgimento imprevisível. Assim se constitui o logro de um saber que sabe de si, e de um saber do gozo üâ que a determinação primária do efeito é o gozo). Lacan sublinha que o real que passa por aí, e que cria o discurso (é a articulação do significante), se marca por uma im possibilidade e tma impotência. Impossibilidade é o próprio acontecimento do discurso, apenso à questão do outro: o desdobramento de um mundo pu ro segundo a tese do discurso depende do imprevisível, do i-mundo da questão. Impotência, porque a verdade que ele enuncia é contradita por seu efeito: o que é significante para aquele que sustenta o discurso não é o que se coloca como significante, ou seja, o efeito produzido no outro. Nesse sentido, a "finalidade" do discurso não é atingida. Para Laçan, "a estrutura de cada discurso necessita ar de uma impotência", que ele define pela "bar reira do gozo, a ser diferenciada disso como disjunção, sempre a mesma, de sua produção a sua verdade".1 1 3 Barreira do gozo porque há gozo pelo e no efeito produzido, mas não pelo que é a verdade para o agente. Todavia, o discurso tem uma consistência que é a mesma da estrutura do inconsciente. E essa consistência é necessariamente experimentada por um sujeito como seu saber. À ilusão de um saber especulativo, que produz o enunciado da "verdade" do discurso, corresponde a realidade do saber in consciente. Esse saber, que marca simplesmente que a estrutura (aqui, do discurso) tem sentido para um sujeito que se inscreve nela, baseia-se num significante (o da identificação simbólica) que pode vir a ocupar qualquer lu gar da estrutura. Mas esse significante é inseparável do significante paterno que o sustenta e ao qual faz referência. Desses dois significantes se dedu zem os termos sujeito e objeto e se constitui uma nova cadeia significante,
Lacan e ajilosofol
298
que segue a ordem significante da estrutura do discurso e desliza sobre ela com o deslocamento do saber. Surgem então quatro possibildades estrutu rais que determinam um número idêntico de discursos.114 Só há discurso num campo de discurso. Isso é o que fora destacado pela apresentação ge ral do discurso, feita independente da idéia do inconsciente (cf. cap. 1 1), e é o que agora reencontramos com Lacan. Os quatro discursos que havramos distinguido a partir do questionamento filosófico correspondem exatamen te115 aos quatro discursos propostos por Lacan, ou seja, o discurso do se nhor, o discurso universitário, o discurso da histérica e o discurso analftico. Se nos ativarmos por ora aos discursos de Lacan, veremos que há um dis curso em que o saber inconsciente surge no lugar da verdade. É o discurso analítico, o único que pode enunciar o inconsciente. Fazendo advir no outro o significante paterno, ele implanta a situação do tratamento e faz com que se aceda à sublimação. Ele é, por isso mesmo, e embora tenha aparecido en quanto tal em último lugar na história, o discurso primordial, de onde-derivam os outros três. Com efeito, o sujeito não pode tomar lugar no discurso e mantê-lo sem alguma sublimação. Mas o homem não pode ser sublimação pura.116 Assim, os outros discursos pressupõem uma passagem por uma estrutura análoga à do discurso analftico, e estão todos relacionados com uma sublimação, à qual não permitem ou até mesmo prorbem que se aceda. É no lugar do outro (que ele ocupa no discurso psicanalrtico) que se encon tra, primeiro, o sujeito; no lugar do agente, o objeto; no lugar da produção, o significante-mestre; e no lugar da verdade, finalmente, o saber inconsciente. Discurso da Universidade
Discurso do Senlwr impossibilidade
sl
s2
"F�a -se
esclarece por regressão do:
Discurso da Histérica
;r
SI
a�s; impotência
-se esclarece por seu "progresso" no:
Discurso do Ana/isto 8
impossibilidade
·
Z
s; .......-----.-. s;:
Os lugares são de:
Os termos são:
o agente
s1 o significante-mestre s2 o saber
a verdade
o outro a produçao
$ o sujeito o saber
a o mais-gozar Esquema de Lacan
desejo inconsciente e imaginário do discurso
299
É desse lugar que o amor que ele dá e desperta117 não é sufocado no ódio (como no discurso universitário e no discurso da histérica), e não se apaga no desejo (como é o caso do discurso do senhor). Indiquemos agora alguns dados precisos sobre esses diferentes discursos. O primeiro discurso que devemos considerar, por constituir-se na sar da de um processo sublimatório que se interrompe, é o discurso do senhor. É o discurso mais comum. Discurso por excelência, uma vez que sua tese é que tudo deve submeter-se à lei, que há um mundo como totalidade exclusi va ordenada pela lei. Há um saber sobre tudo. É a tese que encontramos no discurso polftico em geral, que é a forma essencial do discurso do senhor. A idéia de que o saber possa constituir uma totalidade é, diz Lacan, imanente ao polftico.11a Mas se, por sua tese, o discurso do senhor não deixa nada fo ra do mundo e assujeita tudo à lei (o sujeito barrado da castração, está no lugar da "verdade"), ao mesmo tempo ele provoca no outro o aparecimento de algo que está além do mundo e da lei, no efeito de gozo onde Lacan situa o objeto a, que ele caracteriza como o "mais-gozar". A impotência própria do discurso do senhor se marca nisto: aquilo a que ele visa e de que faz a (sua) verdade é algo que ele não faz com que o outro alcance. O senhor diz: Submeta-se à lei, como eu; mas o que ele faz advir no outro é o objeto, com o qual o faz gozar e com que goza ele próprio, fora da lei. Essa emergência do objeto está necessariamente ligada à tese do discurso do senhor. Querer que tudo o que é se reúna num mundo como totalidade é permanecer na fantasia, que articula o sujeito ($) com o objeto (a), visto ser a fantasia que, como seu avesso, sustenta o mundo. Dar Lacan dizer que, "no discurso do senhor, é o mais-gozar que só satisfaz o sujeito para sustentar a realidade apenas da fantasia".119 Essa fixação na fantasia é o que bloqueia a sublima ção. O senhor é certamente o castrado, aquele que se assujeitou à lei da castração, expondo-se à morte. Ele sublimou. Mas o discurso do senhor fe cl)a o acesso à sublimação. Da Coisa reteve-se apenas o objeto a. E o gozo do Outro já não pode separar-se do gozo sexual. Convém seguir Lacan quando ele diz que o senhor, enquanto castrado, renunciou ao "gozo abso luto" (não o gozo do Outro, mas o mito de um gozo sexual absoluto que se ultrapassa na sublimação), mas não convém segui-lo quando ele afirma que o senhor teria deixado a efetividade desse gozo ao escravo (como repre sentante do "Outro"), por ele encarregado de produzir o "mais-gozar'' para dar-lhe o que lhe é devido (Lacan lembra aqui a mais-valia de Marx}.12o O senhor por certo conheceu o gozo puro na sublimação, o gozo do Outro, se parado do gozo sexual. Mas, no contexto do discurso do senhor, ele per de121 esse gozo puro (donde o que lhe "deve" o escravo) e retorna ao gozo que dá o "mais-gozar", onde se mesclam gozo sexual e gozo do Outro. O mesmo se dá com o escravo, que não conhece o gozo puro do Outro, não mais do que o senhor, e simplesmente não é tido como tendo feito a expe-
$,
300
Lacan e a filosofia
riência do caráter mítico de um gozo sexual absoluto. O discurso do senhor fortalece no outro a ilusão de que existe uma relação sexual, de que o mas culino e o feminino se completam e constituem a harmonia do mundo. O ou tro, no entanto, sabe, e o saber estabelece que não há relação sexual. Mas o senhor permite ao outro suportar esse saber que ele possui, horrorizado, dissimulando suas conseqüências últimas. Ele é o castrado, aquele que se sacrificou,122 que pagou pelos outros, e é por isso que recebe todas as hon rarias. O discurso do senhor não implica nenhum ódio, porque ninguém quer se identificar com o senhor. O senhor sustenta os homens em sua existên cia cotidiana e lhes permite suportarem seu saber-ser.123 Mas não os faz
agirem no sentido próprio do termo; faz com que continuem a ser aquilo que eram.124 O discurso do senhor, e em particular o discurso polftico, não faz ato. O único discurso a fazer ato é o discurso analftico. Só ele permite a emergência do novo, pela produção, no outro, do significante-mestre. Os demais discursos, se é que produzem significante, produzem um significante que nunca é o significante supremo. No caso do discurso do senhor, o signi ficante-mestre aparece no lugar daquele que sustenta o discurso; não ca racteriza um modelo identificatório (o que conduziria ao ódio); parece provir elo próprio sujeito, 1 25 e não ser colocado no sujeito pelo outro (o que seria o
amor). Subtrafdo ao ódio e ao amor, mas também às possibiüdades que eles abrem, o discurso elo senhor é o discurso do desejo. O discurso que dá livre curso ao ódio é o que Lacan chama de discur so da Universidade, cuja forma comum é o discurso moral. A tese desse discurso consiste em que é preciso buscar a mestria. E não a do mestre do �discurso elo senhor", que é sempre muito pouco senhor (porque parou cedo demais de aumentar nele a sublimação), mas uma "verdadeira" mestria, uma mestria interior. Tese inteiramente oposta à idéia elo inconsciente. É a mes tria do sábio estóico, que Hegel faz suceder, dialeticamente e por "interiori zação", à mestria do senhor imediato, do guerreiro. Todavia, colocado como ideal no discurso, essa mestria torna-se, por isso mesmo, irrealizável. Pri meiro para o outro, sobre o qual o discurso universitário produz como efeito fazê-lo experimentar·sua falta ($), mas também para o agente do discurso, o universitário, que entretanto "sabe" (que é até mesmo "todo saber'', nada além de saber, diz Lacan).126 Esse saber é plenamente um saber, mas é próprio do discurso universitário que o significante-mestre em que se baseia todo saber funcione aí, ao mesmo tempo, como um modelo identificatório. Dar a aparência de que o universitário não tem um saber verdadeiro, experi mentado por ele como tal, e de que é apenas o conservador e transmissor do saber real dos "grandes autores". Seu saber é um saber verdadeiro, mas que se reveste de referências aos "mestres". Nesse aspecto, ele é o guar dião da letra, seu "ministro". Se é preciso que tenha sublimado para adquirir seu saber, ele se defende de um máximo de sublimação reservando-o aos
duejo inconsciente e imaginórW do tiiscurso
301
"grandes autores". O discurso universitário não faz nem seu agente, nem o outro, acederem à sublimação. Ele pressupõe que o agente tenha adquirido seu saber alhures. E seu efeito é fazer com que o outro experimente sua "falta". Assim diz Lacan a propósito da impotência própria do discurso uni versitário: "É a hiância onde o sujeito se precipita por dever supor um. autor do saber."127 O agente e o outro gozam nele (esse é o efeito do discurso) com a mesma fascinação por um modelo da lei pelo qual são assujeitados e ao qual não podem atingir. Mas o saber sublimatório (o escrito) adquirido por um,· e sem o qual ele não poderia ser agente desse discurso, não se trans mite ao outro. O discurso universitário éaracteriza todas as instituições de ti po clerical ou burocrático, onde ministros poderosos estabelecem seu poder
com base em seu conhecinento dos textos e fazem referência a senhores ausentes. Ninguém pode aprender nada em tais instituições, cujo funciona mento encontra sua finalidade na seleção. Lacan denunciou freqüentemente o modelo delas na psicanálise. 12 8 Nessa seleção pelas instituições univer sitárias e eclesiásticas, ele às vezes parece ver um instrumento a serviço dos senhores. Por exemplo, ao dizer: "É no que o mais-gozar que se encar na nos aprendizes de senhores não fica em nada ensinado, salvo para se
servir do mestre, que aqueles que têm de famRia sua receita irão destacar os significantes-mestres, que não são a produção, mas sim a verdade da Uni versidade."129 Mas os significantes-mestres da universidade são senhores de uma outra espécie (autores), e a Universidade (que nada tem a ver, con trariamente ao que então diz Lacan, com as public schools inglesas) opõe seu- poder, o poder dos clérigos, ao dos senhores "imediatos". Poder que desperta o mesmo ódio que o anima, mas que não é menos efetivo do que ele.130 O discurso universitário não está a serviço de nenhum outro discur so. A fórmula de Lacan, segundo a qual "a ciência, a nos fiarmos em nossa
articulação, se faria passar por produzida pelo s;tiscurso universitário, o qual, ' ao contrário, se revelaria em sua função de cão-de-guarda para reservá-la a quem de direito",13 1 induziria duplamente ao erro, ao levar a crer que o "sa ber de senhor" a que faz referência o discurso da Universidade seria um "saber" cientrtico, e que este permitiria reservá-lo ao senhor do discurso do senhor. Diversamente da ciência, que não é em si um saber, o saber do qual o universitário é ministro, saber inscrito na letra, é um saber verdadeiro. A Universidade é essencialmente "literária", mesmo que tenhamos certeza de que é em seu contexto que a letra mata (o pobre sujeito que jamais se torna rá senhor, assim como o universitário que dissimula sua mestria por trás do ministério a que se dedica). É a partir de outro discurso que se produz a le tra. O discurso que Lacan designa como "discurso da histérica" é o dis curso pelo qual aparece, não a letra e o verdadeiro saber, mas a citJncia. "Por mais paradoxal que seja a asserção", diz Lacan, "a ciência retira seu
302
Lacan e a filosofia
fmpeto do discurso da histérica."132 Sua tese, classicamente empirista, afir· ma que o que é significante é o objeto como mais-gozar, que é preciso bus· car o prazer (toda a moral hedonista concebe o gozo como prazer, porque só ele pode ser "perseguido"). Mas o que o discurso da histérica provoca no outro não é o mais-gozar, que, ao contrário, lhe é barrado, mas o saber. A propósito da impotência caracterfstica desse discurso, Lacan evoca "a im· potência do saber que [ele] provoca, por ser animado pelo ctesejo".133 Mas esse saber que é efeito do discurso da histérica não é, em si mesmo, pie· namente um saber. Pois um saber verdadeiro, que é escrita falante, enuncia e invoca o significante paterno, a partir do qual ele é propriamente signifi· cante e válido para um sujeito. No caso do discurso da histérica, o saber, como efeito produzido e como significante que faz advir todo o discurso, se parece com o significante supremo, que não faz surgir ele mesmo, nenhum outro significante. O significante paterno e o sujeito, abolidos do discurso e do saber da ciência ("a ciência é uma ideologia da abolição do sujeito" e o Nome-d�Pai está foraclufdo dela),134 estão presentes, contudo, como con· dições necessárias da produção e do sentido desse saber para sempre in completo. O sujeito, aqui, é aquele que mantém o discurso. Ele sublimou, tal como os agentes de cada um dos discursos, mas age de modo a que o ou tro, que também sublimou Uá que poderá ocupar o lugar do senhor no dis curso), não o leve a um excesso de sublimação. Ele supõe o outro como sendo o senhor, que adquiriu o saber verdadeiro justamente pela sublima· ção. Faz do outro seu ideal,135 e o ama. Assim amado enquanto "sujeito su posto saber", o outro produz na escrita seu "saber". Mas sem que esse sa ber possa jamais atingir sua verdade e escrever seus próprios limites. A si tuação que o discurso da histérica instaura é inteiramente a da transferência como resistência à análise. E Lacan assinala, na mesma idéia, que o que a análise institui é, pela resistência que provoca, a "histericização do discur so", a introdução artificial do discurso da histérica, que certamente preexistiu à análise- ele é o que sustenta o mal-entendido da relação sexual.136 Dis curso que distribui o amor transferencial, mas em seu vfnculo especffico com o ódio. A verdade do saber que o discurso da histérica supõe acha-se no sintoma, que decerto permanece exterior ao discurso como tal, mas é por ele necessariamente evocado137 como caracterizando o sujeito (que está, primeiro, no lugar do ag�mte). Por essa presença do sintoma e pelo jogo da identificação neurótica do sujeito com o outro, esse discurso é muito acerta damente denominado por Lacan discurso da "histérica" Uá que existe um núcleo histérico em toda neurose).138 De maneira totalmente neurótica, pro vocando a produção do saber e colocando de antemão seu efeito como sig nificante, ele suscita a ilusão de que o que é desejado é o saber. Para La can, é o desejo de saber que institui o discurso da histérica, 139 mas entrar no mito de um desejo de saber é fazer o jogo da histérica (e Lacan mostrou bem que o complexo de Édipo, além de todo o mito do Édipo que deseja saber, é
desejo inconsciente e imaginário do discurso
303
uma produção histérica).140 Em Mais, ainda, ele deixa claro que "não há de sejo de saber, esse famoso Wissentrieb que Freud aponta em algum lu gar".141 Conseqüência necessária da idéia do inconsciente: o saber está ali, suficiente, e não é por "escapar" alguma coisa ao próprio saber que falta a este qualquer coisa: o que importa é a maneira corno o homem se relaciona com seu saber; colocá-lo na escrita como escrita falante é a própria subli mação. O discurso universitário não faz o outro aceder ao saber escrito, à letra da qual ele é guardião; no entanto, é um saber verdadeiro; o discurso da histérica faz com que advenha em todos os outros o saber como saber es crito - nesse sentido, o saber se comunica,142 não se tem que passar por "duras experiências" na solidão para reproduzi-lo-, mas ele é um pedaço de saber, um saber essencialmente incompleto. O último discurso faz com que surja no lugar da verdade o saber in consciente. Súa tese é que o saber é que é significante. Mas não no sentido de que ele seria o significante supremo e o objeto do desejo: O caracterrstico do saber corno saber "inconsciente" é, com efeito, ele ser um saber que não falta e que já se tem, e que, ao contrário, coloca como significante supremo um outro significante. Se o saber inconsciente é significante para o agente desse discurso, isso só se pode dar a partir do significante supremo e como letra, saber escríto.143 Ao enunciar o saber inconsciente em seu discurso, o próprio agente deve estar preso na escrita e na sublimàÇâo a que convida o outro. Ele é o analista, e o discurso que ele mantém é o discurso analftico. Provocando no outro a produção do significante paterno e lhe assegurando, na situação anall'tica, a identificação imaginária com o pai simbólico, ele pa rece não conhecer a impotência dos outros discursos. Também ele, de fato, esbarra na mesma impotência. O analista não faz mais do que possibilitar, por seu discurso, a passagem do analisando à sublimação. Para que essa passagem se tome real, é preciso que o próprio analisando entre no trabalho do luto. Ele não pode senão suportar a identificação com o pai simbólico que a situação analrtica produz, e que suscita, pela transferência, o aparecimento da estrutura própria do discurso da histérica. A "impotência", no discurso anall'tico, assume seu sentido positivo de ser o próprio desejo, de um lado, e a liberdade, do outro. O analista não é simplesmente o objeto, mas a Coisa, e sublimar, para o sujeito, é suportar que o analista não seja apenas o objeto de sua fantasia, é "elevar o objeto à dignidade da Coisa", tornando a realizar o ato criador pelo qual, desde o lugar do Outro simbólico, a letra se produz sobre a página- que é, no caso, o próprio ana�sta. Essa identificação ima ginária com o pai simbólico, própria da sublimação, não constitui nenhuma mestria em si mesma. Não há "efeito de mestria" no contexto do discurso anall'tico. E, se Lacan nota que o discurso analftico faz reaparecer144 o dis curso do senhor, que no entanto é seu "avesso", isso se dá por uma ruptura do processo sublimatório. "Ter adquirido a sublimação", se podemos dizê-lo,
Lacan e afilosofia
304
leva a desempenhar o papel do senhor e a portar seu discurso. O discurso analftico não visa a nenhuma mestria, como faz o discurso universitário. Tampouco é ato de senhor que introduza o sujeito nessa mesma mestria. Não há iniciação, diz Laca!): Se ele é um saber não iniciático, esclarece La can, é por não ser ensinado pelas vias diretas do gozo, todas condicionadas pelo fracasso fundador do gozo sexual. Ele se estabelece, ao contrário, no ponto onde se separam o gozo sexual e o gozo constitutivo do ser falante. Separação cuja eflorescência é sempre curta e limitada, segundo a fórmula que já mencionamos.145 Essa fórmula sublinha, efetivamente, que a situação analftica, que permite o acesso à sublimação e ao. gozo puro, implica sem dúvida o gozo sexual, mas deve remetê-lo a outros campos. O discurso analltico separa o gozo do Outro do gozo sexual. Fazendo comprovar a ver dade do inconsciente em seu gozo especifico, ao mesmo tempo que enuncia o inconsciente como saber inconsciente, ele é plenamente - único entre os outros discursos- um discurso sobre o inconsciente. 53.
O DISCURSO FILOSÓFICO SEGUNDO LACAN
Parece, agora, que nossa questão sobre um discurso filosófico possfvel de retomar a concepção lacaniana do inconsciente .e do desejo encontra enfim sua resposta, absolutamente negativa. Somente o discurso ànalftico pode enunciar efetivamente o inconsciente. E Lacan apresenta o discurso filosófi co como a forma suprema do discurso que reforça a ilusão especulativa de um saber que se saberia: o discurso do senhor. De maneira radical, a teoria do discurso que decorre do discurso analltico se constitui como critica à teo ria que podemos chamar "natural" do discurso, aquela que se atém ao plano do significado e determina os discursos possfveis como pertencendo a um campo aberto e ordenado pela indagação filosófica.146 Todo discurso se dá como saber especulativo, respondendo a uma questão que é essencial mente a questão do ser. Para Lacan, a "questão do ser" é uma formulação própria do domínio ilusório do discurso, na medida em que ele deixa supor um significado que seria total. E a determinação do campo dos discursos como campo filosófico é a própria ilusão. Contudo, Lacan sempre teve consciência, claramente, desse campo filosófico fundamental onde se vem situar sua teoria, diversamente de muitos autores analfticos ingenuamente empiristas, para quem a interpretação da linguagem não é o problema primordial. Ele sabe que ao propor, a partir do significante, uma tese segundo a qual há uma verdade, mas apenas parcial, ele se opõe simultaneamente ao discurso que se chamou de metatrsico e ao discurso empirista, e se une ao discurso propriamente filosófico daqueles, os "grandes filósofos",147 de quem nunca deixou de falar; e que buscaram, além da verdade total, uma teoria da verdade parcial e do desejo. Só que, ao ter lugar nesse "campo filosófico", o discurso anal.ftico deve fazê-lo aparecer
305
desejo inconsciente e imaginário do discurso
como ilusão, ilusão de certa maneira inultrapassável, mas radical. E levar a uma reinterpretação estrutural elo campo dos discursos, que já não é filosófico. Ao examinarmos a questão fundamental da filosofia, a "questão do ser", vemos que Lacan sem dúvida lhe dá uma importância capital: "É uma verdade da experiência na análise", escreve ele, "que se coloca para o su jeito a questão de sua existência, não sob a aparência da angústia que ela suscita no nfvel elo ego, mas enquanto questão articulada: 'que sou eu af?', concerninclo a seu sexo e a sua contingência no ser";148 e, em outro trecho: "... [a instância elo significante] constrói ... a dimensão que nenhuma expe riência maginável nos pode permitir deduzir elo dado de uma imanência viva, a saber, a questão do ser, ou, melhor dizendo, a questão pura e simples, a elo 'porque eu?"'.149 Mas, se se deve dizer que "essa questão . . é, no in consciente, .uma contestação", que "ela se articula ali em elementos des contfnuos", e que é o significante, em sua estrutura quadripartida, que é "a contestação do sujeito em sua existência",150 a questão, como questão do "ser", supõe a ilusão constitutiva do discurso, de um mundo puro onde existe o ente em sua unidade. A questão como tal vem fender essa unidade, mas prender-se a sua formulação como questão elo ser, como faz a filosofia, é alimentar a ilusão de um significado absoluto e de um saber que saberia de si. O saber sobre o ser, visado pela indagação filosófica, é por definição um saber especulativo. Lacan critica a filosofia como essencialmente "onto-lo gia". Assim, diz ele bruscamente que a ontologia, ou seja, a consideração elo sujeito como ser, é t.ma "vergonha".151 Porque uma vergonha? Porque, quanto ao que se escreve da Coisa, deve-se considerã-lo como proveniente dela, e não de quem escreve. O que é o próprio inconsciente. Só o discurso anatftico deixa a Coisa falar e dizer. "Vou dizer o que é um dizer meu", escla rece Lacan ... " - não há rnetalinguagem. Quando digo isso, isso quer dizer aparentemente - não há linguagem do ser. Mas haverã o ser? ... l:sse ser, não se faz senão supô-lo em algumas palavras - indivfduo, por exemplo, ou substância. Para mim, é apenas um fato de dito."152 Artiffcio de dizer o dizer, próprio da ontologia. Ao qual o próprio discurso analftico, enquanto discurso, não pode es capar. Todo discurso é especulativo, e Vincent Descambes frisa, muito cor retamente, o carãter necessariamente especulativo das proposições do dis curso analltico.153 Mas, ao enunciar como tese sobre o "ser" o significante como verdade parcial, e ao apresentã-lo segundo sua estrutura quadripartida fundamental, o discurso analftico deixa que se escreva o saber inconsciente. Assim é no conceito do inconsciente. O inconsciente é, primeiro, um con ceito do discurso, um conceito no sentido pleno do termo, especulativo. Nesse caso, determinamos o in-consciente como aquilo que não pode, em bora verdade, ser "experimentado" no ato de uma tomada de consciência mas consiste propriamente na verificação da verdade do significante verbal, .
Lacan e ajiJoSQjia
306
esse gozo puro que Lacan chama de gozo do Outro. Não hâ em Lacan ne nhum nominalismo de estilo cientifico. E, no entanto, ele diz abruptamente: "É preciso, quanto ao inconsciente, ir da experiência freudiana ao fato. O in consciente é um conceito forjado sobre o rastro daquilo que atua para cons tituir o sujeito O inconsciente não é Lma espécie que defina, na realidade psíquica, o círculo do que não tem o atributo (ou a virtude) da consciên cia."154 Sem dúvida, mais vale dizer que o inconsciente é, primeiro, um con ceito do discurso, e, enquanto tal, o in-consciente. Mas o inconsciente como conceito deve ter urna verdade; o que não é o caso numa proposição como "a digestão é, na maioria das vezes, inconsciente"; o inconsciente não é "o que não é consciente" Ora, só o significante permite dar um "objeto"155 a es · se conceito". Donde o "conceito estrutural", supostamente cientifico, do in consciente; a estrutura quadripartida que se deduz do significante. Portanto, o discurso analrtico continua a ser Lm discurso especulativo, e como tal não pode escapar à ilusão própria do discurso. Acreditar que ele poderia fazê-lo seria, de fato, querer sustentar o discurso que pretende escapar à ilusão, o discurso do senhor, e descambar no discurso filosófico. .
.
Que é, então, o discurso filosófico no contexto da teoria lacaniana dos discursos? Se nos pudéssemos ater ao significado, o discurso filosófico cor responderia ao discurso universitário,156 e não, como quer Lacan, ao discur so do senhor. Com efeito, ele supõe ao mesmo tempo a verdade total (isto é, no discurso universitário, o ideal de mestria) e a verdade parcial (a negativi dade irredutrvel do sujeito que produz esse discurso, e que jamais atingirá a plenitude magistral que deseja) . Já o discurso do senhor seria o discurso "metafísico". Mas Lacan, indo além do significado, considera o "drama" que constitui o discurso filosófico e nele encontra, essencialmente, o discurso do senhor. E até mesmo sua forma suprema: o discurso do senhor não é outro senão o da filosofia.157 Como "se produz" a filosofia? O filósofo não é aquele que se dá como detentor do saber, perante o outro que não saberia. O filó sofo, ao contrário, mostra ao outro que ele sabe. Se tomarmos o herói por excelência do drama filosófico, Sócrates, que faz Sócrates senão dizer a seu interlocutor "Tu já sabes, e sempre soubeste, mas não sabes que sa bes", e provocar nele a reminiscência desse saber? O filósofo é aquele que confere verdade ao saber de outrem, ao saber em geral. Ele é a lei. Mas; se pode assim representar a lei e aparecer numa perfeita auto-nomia, é porque sua "verdadé" é ser o sujeito de uma lei que de modo algum é a sua, nem a da filosofia.158 Reencontramos, portanto, os diferentes elementos do discur so do senhor, completados pelo efeito produzido pelo drama filosófico: ao "justificar" o saber e a existência dos homens, o filósofo lhes garante o gozo. Mas a atividade filosófica não se contenta em dar verdade ao saber, e se distingue da atividade do senhor em geral. Ela é também um questionamento que faz advir no outro o saber como ciência e escrita. E é nisso que o dis-
desejo inconscienu e imaginário do discurso
307
curso filosófico Jecorre também do discurso da histérica. Se ele é aparenta do com o discurso da histérica, diz Lacan, é porque dá ânimo ao senhor do desejo de saber.1 s s E Lacan esclarece, em outra passagem, esse aspecto do discurso filosófico, nele situando particularmente a figura de Sócrates: "Essa foi a ambição introduzida no mestre grego sob o nome de errtorf7J.D7 . Ali onde a õó�a o guiava no essencial de sua conduta, ele foi intimado -e nomeadamente por um Sócrates histérico, reconhecido por di zer-se hábil apenas em questões de desejo, patente por seus sintomas pa tognomônicos - a ostentar algo que equivalesse à TÉ)(VI'/ do escravo e jus tificasse seus poderes de mestre."160 Não há desejo de saber, e Sócrates não dá a nenhum senhor o desejo de saber. Ele interroga o outro que acre dita saber e não sabe. Quanto a