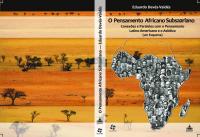Foucault : o pensamento, a pessoa 9789899588493
295 15 8MB
Portuguese Pages 153 [148] Year 2009
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Paul Veyne
File loading please wait...
Citation preview
0 pensamento a pessoa
edições
« .
textoggc. R a fia
Ili ................... ■
'i '
W
?
4
■ ■-
.
—— 1 PILARES — — —
; • ................> .
;
f
•
>
■
-•
:*.•
•
eia a custo de amoralismo? A vontade de se realizar mais do que permanecer na sua fileira? Sentir-se diferente dos outros e desprezar os modelos sociais? Querer dispor de uma zona de liberdades privadas contra os poderes (como no século XVIII, segundo Charles Taylor)? Afirmar publicamente a escolha que se faz de si mesmo? Ter uma relação pessoal —não mediatizada pelos poderes ou por um grupo —com o absoluto religioso (como no tempo
23
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
identidade” , desencanto do m undo34, racionalização, monoteísmo... Sob cada uma destas palavras podem ser colocadas muitas coisas, já que não existe racionalização em geral a Política Retirada da Escrita Santa ” de Bossuet é, à sua maneira, tão racional quanto o Contrato Social de Rousseau —o racismo hitleriano formou-se sobre a racionalidade do darwinismo social. No trabalho histórico, é preciso exercer um «cepticismo sistemático a respeito de todos os universais antropológicos» e só
da Reforma, diz também Charles Taylor), ou ética? Enriquecer a sua personalidade ao multiplicar as experiências e ao transformá-las em consciência? 33 O vago termo «identidade» recobre realidades múltiplas. Ser muçulmano é pertencer a uma comunidade de crentes, a uma causa santa, que é multi-étnica e politi camente dividida, frequentemente conflitual; no entanto, contra os Infiéis, os Crentes de todas as nacionalidades formam ou deveríam formar um grupo solidário, cujos mem bros devem ou deveríam prestar se mutuamente auxílio. O sentimento de identidade é múltiplo; pode dizer-se que se é muçulmano a título pessoal, ou então como membro da comunidade dos Crentes, ou então árabe (ou então mouro, iraniano, etc.), de naciona lidade marroquina ou ainda fiel súbdito do sultão de Marrocos. Logo, o sentimento de identidade exprime-se ora em termos religiosos, ora nacionais. O que arrisca fazer crer que o Islão serve de «cobertura ideológica» para a política, e não se deixará de acusar as religiões de estarem demasiadas vezes na origem de fanatismos guerreiros. Na realidade, quando um conflito se encarna numa facção religiosa ou herética, a religião não é nem a sua origem nem a sua cobertura ideológica, mas sim a sua expressão solene; tal como no Ocidente, onde esta se exprimirá através de uma teoria político-social. Cf. Bernard Lewis, Les Arabes dans Vhistoiie, trad. Canal, Flammarion, 1996, pp. 108, 125-126, 212. Há uma idade das religiões e uma idade das doutrinas; Nietzsche dizia que as guerras por vir seriam filosóficas. 34 O Entzauberung de Max Weber não é o «desencanto» de um mundo sem Deus nem deuses, mas antes a «desmagificação» da esfera técnica. A magia procura evitar peri gos (quiméricos) ou legitimar uma decisão (os ordálios, o Julgamento de Deus); opõe-se à racionalidade tecnicista que procura resultados práticos, e também a uma certa racionalidade jurídica. Weber fala dela a propósito da China, onde a considerável importância da magia, da geomancia, da astrologia, etc., constituiu uma barreira para o pensamento tecnológico. Não se trata minimamente de religiosidade, de saber se um mundo sem deuses é triste e desencantado e se o século XXI será religioso. 35 Contra a ideia demasiado geral de «racionalização», ver DE, IV, p. 26: «Não creio que se possa falar de racionalização em si sem, por um lado, supor um valor-razão absoluto e sem, por outro, correr o risco de colocar de tudo um pouco na rubrica das racionalizações.» 36 Tradução literal do título da obra de Bossuet. O original surge como segue: Politique tirée de l’Écriture sainte. (N. do T.)
24
I. TUDO É SINGULAR NA HISTÓRIA UNIVERSAL: O «DISCURSO»
admitir a existência de um invariante em último recurso, depois de ter tentado tudo para resolvê-lo; «não se deve admitir nada dessa ordem que não seja rigorosamente indispensável» i7. Diga-se de passagem que os discursos, essas diferenças últimas de cada formação histórica, de cada disciplina, de cada prática, os discur sos, dizia eu, não têm nada a ver com um estilo de pensamento comum a toda uma época, com um Zeitgeisf, Foucault, que troçava da «história totalizadora» e do «espírito de um século» ílS, não tem nada a ver com Spengler. «Talvez», dir-se-á, «mas o cepticismo foucaultiano é apenas uma ideologia idealista que suprime as realidades. O interesse de classe e a sua ferocidade existem efectivamente!» Peço perdão! Não se deve porém esquecer que esse interesse era em cada época uma singularidade; o da classe governante romana, ou classe senatorial, era mais político do que económico e não era o da classe dominante do capitalismo moderno. O interesse de classe tem, como todas as coisas, as sua historicidade, o seu “discurso”». Esse interesse «material» passa irredutivelmente pelo pensamento, como se viu, e pela liberdade, como se verá, se bem que haja jogo, flutuação: uma classe capitalista defende o seu interesse de modo mais ou menos feroz ou flexível e encontra-se frequentemente dividida sobre a política a seguir no seu próprio interesse 59; porque é composta por nomens de carne e osso, não por marionetas ao serviço de um esquema '.ogmático. O que não quer dizer que esse interesse seja «desprovido de qualquer forma universal», a saber, a própria noção de interesse de classe, •mas que a jogada dessas formas universais é, ela mesma, histórica [...]. Isto é o que se poderia chamar princípio de singularidade»3738940, que faz com que a história seja uma sucessão de rupturas. A tarefa de um historiador foucaultiano consiste em distinguir essas rupturas por baixo das continuidades enganadoras; se estudar a história da democracia presumirá, como fez Jean-Pierre Vernant, que a democracia ateniense só tem o nome em comum com a democracia
37 DE, IV, p. 634. 38 UArchéologie du Savoir, pp. 193-194, 207, 261; DE, I, p. 676. 39 Jovens comunistas, tendo ainda muito por descobrir, ficámos surpreendidos, em 1954, ao saber que o grande patronato estava dividido sobre o projecto de Comunidade Européia de Defesa (a CED). 40 DE, IV, p. 580.
25
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
moderna. A hermenêutica dos discursos leva assim ao seu termo uma das vias empregues pela investigação histórica desde há uns bons dois séculos: não apagar a cor local, ou melhor, temporal (seria necessário remontar até Chateaubriand e à surpresa que provocaram os Relatos dos Tempos Merovíngios41 de Augustin Thierry, onde Clóvis tornava a ser Chlodovig). Foucault continua aquilo que desde o Romantismo4’ foi o grande esforço dos historiadores: explicitar a originalidade de uma formação histórica sem aí procurar naturalidades ou razoabilidades, de acordo com a nossa tendência demasiado humana para a banalização, arriscando mesmo o anacronismo. Mais ainda, o filósofo Foucault não faz mais do que praticar o método de qualquer historiador que consiste em abordar cada questão histórica em si mesma e nunca como um caso particular de um problema geral, e menos ainda de uma questão filosófica. De tal modo que os livros de Foucault constituem uma crítica que visa menos o método dos historia dores do que a própria filosofia, cujos grandes problemas se dissolvem, de acordo com ele, em questões de história, porque «todos os conceitos devieram»43.
41 Tradução literal do título da obra citada originalmente como segue: Récits des temps mérovingiens. (N. do T.) 42 Les Mots et les Choses, pp. 381-382: o que singulariza a história como a escreve o século XIX não é procurar as leis do devir mas, pelo contrário, a «preocupação de historicizar tudo». 43 Nietzsche, CEuvres philosophiques completes, vol. XI, Fragments posthumes, vol. 2, trad. Haar e de Launay, Gallimard, 1982, pp. 345-346, n. 38 [14] = Mp 16, I a: «Não cremos mais em conceitos eternos, em formas eternas, e a filosofia é, para nós, unica mente a extensão mais ampla da noção de história.» A etimologia e a história da linguagem ensinaram-nos a considerar todos os conceitos como devindos... Só com extrema lentidão se reconheceu a multiplicidade das qualidades distintas num mesmo objecto (retomemos o nosso exemplo: a distinção entre os prazeres, a carne, o sexo e o gender).
26
Todo o a priori é histórico
Foucault esperava assim ver a escola histórica francesa abrir-se às rjas idéias; depositava todas as suas esperanças nela: não era essa, afinal, _ma elite de espírito aberto e de reputação internacional? Não estariam os seus membros preparados para admitir que tudo era histórico, até mesmo i verdade? Que não existiam invariantes trans-históricas? Infelizmente p ira ele, esses historiadores estavam então ocupados com o seu próprio projecto, que consistia em explicar a História reportando-a à sociedade; d o s livros de Foucault, não encontravam as realidades que tinham por r^vra procurar numa sociedade e descobriam neles problemas que não :~am os seus, como o do discurso, o de uma história da verdade. Esses historiadores tinham já o seu próprio método; não estavam dispostos a abrir-se a um outro questionamento, que era o de um filósofo, em obras que compreendiam mal e que eram, com efeito, ainda mais difí ceis para eles do que para outros leitores, já que não podiam lê-las senão -irortando-as à sua própria grelha metodológica. O que Foucault escrevia rccecia-lhes um tecido de abstracções estranhas à prática histórica. As - :ções que encontravam nos seus livros não eram aquelas a que estavam nabituados e que lhes pareciam ser a única moeda corrente do historia::r. Parecia-lhes que Foucault lhes pagava em papel-moeda filosófico; T.e> falavam, julgavam eles, de realidades. Nenhum compreendera que, inadvertidamente, a sua própria escrita produzia conceptualização e que, n : fundo, as suas noções eram tão abstractas quanto as dele. Como falar de uma realidade, contar uma intriga e descrever-lhe as personagens sem -ecorrer a noções? Escrever a História é conceptualizar. Se pensarmos na temada da Bastilha (revolta?, revolução?) já estamos a conceptualizar. Seja como for, a decepção de Foucault suscitou-lhe uma reacção violenta. Eis os termos insolentes em que ele resumiu a evolução da escola histórica dos Anais durante três quartos de século: Há alguns anos, os historiadores ficaram muito orgulhosos por des cobrirem que podiam fazer não só a história das batalhas, dos reis e das instituições, como ainda a da economia. Ei-los agora deslum brados porque os mais espertos de entre eles disseram que também se podia fazer a história dos sentimentos, dos comportamentos, dos corpos. Em breve compreenderão que a história do Ocidente
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
é indissociável da maneira como a verdade é produzida e inscreve os seus efeitos. 44 Decididamente, tinha começado mal... Um coloquio que reuniu em torno dele alguns historiadores, em 1978, resulta numa zaragata45; devo renunciar —infelizmente! —a narrar em pormenor um conflito tão capital e tão apaixonante para o público dos leitores. Foucault, decepcionado, amargo, pôs-me a par das suas queixas: a explicação causai, da qual, ao ouvi-lo, «os historiadores tinham a superstição», não era a única forma de inteligibilidade, o nec plus ultra da análise histórica46. «Há que despir-se do preconceito segundo o qual uma história sem causalidade já não seria história»47; pode racionalizar-se toda uma parte de passado sem ser preciso estabelecer relações de causalidade48. Talvez a pensar num célebre estudo de Heidegger, acrescentou: «Eles só têm em mente a Sociedade, que é para eles o que a Vhysis era para os gregos»49; segundo ele, os historiadores franceses faziam da sociedade o «horizonte geral da sua análise»50. A teoria deles derivava, suponho eu, de Durkheim e de Marx. Fazer uma história da literatura, por exemplo, ou da arte, que fosse científica consistia em reportar a arte à sociedade, ensinava-se nos anos 1950, em alguns seminários de investigação; Foucault aprendera, pelo contrário, junto do compositor Jean Barraqué, que as formas não eram transitivas para a sociedade ou para uma totalidade (o espírito do tempo, por exemplo)51. Se nem tudo
44 DE, III, pp. 257-2S8. 45 DE, IV, pp. 20-35. 46 DE, I, p. 583. 47 DE, I, p. 607. 48 DE, I, p. 824. 49 Tentei desenvolver esta rápida indicação de Foucault em Quand notre monde est devenu chrétien, Albin Michel, 2007, pp. 59-60, n. 1, e apêndice, pp. 317-318 (Quando o nosso mundo se tornou cristão, trad. port. Artur Morão, Edições Texto & Grafia, Lisboa, 2009). 50 DE, IV, pp. 15, 33 e 651, retomado de L'lmpossible Prison. Recherches sur le système pénitentiaire au XIX' siècle réunies par Michelle Perrot, Seuil, 1980, pp. 34 e 35. 51 Confidência de Foucault. Roger-Pol Droit, Michel Foucault, entretiens, Odile Jacob, 2004, p. 82. A arte ou a literatura são intransitivos, «foi possível acabar com a ideia de que a literatura era o lugar de todos os trânsitos, a expressão das totalidades».
28
II. TODO O A PRI0R1 É HISTÓRICO
:r :nha da sociedade, pelo menos tudo para lá convergia; a sociedade eri ao mesmo tempo urna matriz e o receptáculo final de todas as coiPara um foucaultiano, pelo contrario, a sociedade, longe de ser o principio ou o desfecho de toda a explicação, precisa, ela própria, de ser exmcada. Longe de se encontrar no término, é antes aquilo que déla :¿ecm em cada época todos os discursos e os dispositivos dos quais ela sr constitui como receptáculo. Na verdade, Foucault não estava tão marginalizado quanto queria crer e o seu modo de escrever a história despertava simpatia naqueles : se reclamavam daquilo a que se chamava história das mentalidades; estava mais próximo do historiador Philippe Ariès do que dos Anais'2; Michelle Perrot, Arlette Farge’?, Georges Duby apreciavam os seus _ ros. Porém, o ressentimento de Foucault em relação à corporação dos i x : riadores permaneceu intacto. Conclua-se que esta tempestade num copo de água nasceu da ambição mtelectual de Foucault e da reacção de defesa por parte de historiadores r _r queriam permanecer eles próprios. Posso atirar a minha acha para a : ogueira? Julgo que seria bom para um historiador explicitar, em primeiro ._ n r. se possível, a identidade singular (o discurso) das personagens e ionnações históricas que a história irá n a rra r’4, antes de por em cena : :*i3s esses heróis (porque tudo é intriga no nosso mundo sublunar, □ode não existe um motor principal e soberano, económico ou outro) e -rxrncar o porquê da sua tragédia, deslindar o que foram essas intrigas. _ :mo os conselhos só servem para os outros, tentei uma vez fazê-lo, mas sem grande sucesso, dado que o método foucaultiano ultrapassa as minhas capacidades de abstracção. No entanto, pode sonhar-se, pode imaginar-se um jovem histo riador inflamado pela leitura de um livro de Foucault. Por exemplo, Vigiar e Punir, ou o curso sobre a governamental idade, sobre as formas e objectos dos poderes na época moderna. Só o amor pela História me
D tnprego da palavra «intransitivo», inabitual neste sentido, é, como acontece frequen temente com Foucault, uma citação implícita de René Char, Partage Formei, LIV. Um poeta é como um verbo intransitivo que, dizem os gramáticos, não possui objecto que o e mplete: faz arte pela arte. 52 Ver DE, IV, p. 651. 53 A. Farge e M. Foucault, Le Désordre des familles: lettres de cachet de la Bastille, Gallimard, 1982. 54 Cf. L’Archéologie du Savoir, p. 213.
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
faz falar assim. Quando éramos estudantes, no início da década de 1950, líamos com paixão Marc Bloch, Lucien Febvre, Marcei Mauss também, e escutavamos o que dizia Jacques le Goff, que era apenas alguns anos mais velho que nós. Sonhavamos escrever um dia a História como eles a escreviam. Sonho hoje com jovens historiadores que sonhem escrevê-la como Foucault. Isso não seria a negação dos nossos predecessores mas sim a continuação das suas escavações, desse processo incessante dos métodos históricos desde há quase dois séculos. A propósito, pediram-me algumas vezes que contasse como se tinham passado os momentos de colaboração que tive com Foucault quando ele trabalhava o tema do amor na Antiguidade. «Paul Veyne ajudou-me constantemente no decorrer desses anos», escreve e le ’5. Qual tinha sido pois a minha contribuição? Coisa pouca, digo-o com toda a simpli cidade 556: por que razão exporia eu falsa modéstia? As idéias eram dele (como o arco de Ulisses, a análise abstracta era uma arma que só ele tinha a força de esticar). Quanto aos factos e às fontes, Foucault tinha o dom de se informar sozinho sobre uma cultura ou uma disciplina em escassos meses, à imagem desses poliglotas que nos surpreendem ao aprenderem em apenas algumas semanas mais uma língua (nem que seja esquecendo-a de seguida para aprender outra). De maneira que o meu papel resumiu-se a duas coisas, confirmar algumas vezes a sua informação e dar-lhe reconforto. Ele contava-me à noite o que tinha elaborado durante o dia, para ver se eu protestava em nome da erudição. E, sobretudo, sendo eu um historiador entre tantos outros, reconfortava-o pela minha atitude simpatizante e não negativa relativamente ao seu método. Numa altura em que ele sofreu mais do que se julga com a não-recepção que lhe fora demonstrada por alguns dos meus colegas em quem ele tinha depositado mais esperança do que nos seus próprio colegas filósofos. Esqueçamos a crónica caduca das más relações de Foucault com os historiadores do seu tempo, demasiado ocupados a escrever a história à maneira deles para estarem disponíveis para uma outra maneira. O método que permaneceu como unicamente de Foucault consiste em levar 55 DE. IV, p. 543. 56 Eis um elemento de comparação muito simples: quando começou a trabalhar o amor da Antiguidade, Foucault veio escutar uma comunicação que eu proferia no semi nário de Georges Duby; o texto dessa comunicação foi retomado na minha Socièté romaine, Seuil, 1991, pp. 88-130. Cada um pode aí verificar o que ele me deve e, sobretudo, o que não me deve.
II. TODO O A PRIORI É HISTÓRICO
o mais longe possível a pesquisa das diferenças entre acontecimentos que parecem formar uma mesma especie. Onde seria tentador referir-se a urna constante histórica ou a um traço antropológico imediato, ou ainda a urna evidencia que se impõe da mesma maneira a todos, trata-se de fazer surgir uma singularidade. Mostrar que não era assim tão evidente. [...] Não era assim tão evidente que os loucos fossem reconhecidos como doentes mentais; não era assim tão evidente que a única coisa a fazer com um delinquente fosse prendê-lo. Não era assim tão evidente que as causas da doença tivessem de ser procuradas no exame individual do corpo5/. Por volta de 1800, pode ler-se em O Nascimento da Clínica, através de uma transformação na observação médica e uma mudança do discurso da anatomia patológica, deixou-se de «ler» apenas alguns «sinais» nos corpos dissecados, tidos exclusivamente como pertinentes e considerados como os significantes do significado «doença»; então Laennec pôde ter em conta aquilo que antes dele passava por vãos pormenores, e foi o primeiro homem a ver a consistência tão particular de um fígado cirrótico57S859, que até então se via sem se ver. Um sujeito soberano, um ser menos finito do que o homem, menos prisioneiro dos discursos do seu tempo, tê-lo-ia visto desde sempre ou, pelo menos, poder ia vê-lo em qualquer época: infelizmente, «não se pode pensar não importa o quê não importa quando» 3'. A observação microscópica, nascida no século XVII, só no século XIX deixou de ser uma curiosidade anedótica, própria a desviar o observador da realidade séria (Bichat e até mesmo Laennec limitavam-se ao visível e recusavam o microscópio)60. O discurso do visível permaneceu tanto tempo «incontornável» no verdadeiro sentido deste adjectivo61, tão inultrapassável
57 DE, IV, p. 23. 58 Naissance de la clinique, pp. 173-174. 59 L’Archéologie du Savoir, p. 61, cf. P. 156. 60 Naissance de la clinique, pp. 169-171. 61 No sentido primeiro deste adjectivo, posto na moda por Foucault e que a moda emprega a contra-senso para designar o que é necessário ter visto ou lido se se quiser viver com o seu tempo, quando este adjectivo designa em Foucault, pelo contrário, aquilo que nos enche infelizmente a vista de outra coisa e torna impossível ir noutra direcção:
31
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
e opaco quanto o ácaro foi durante muito tempo o mais pequeno dos animais; ninguém concebia a possibilidade de animais ainda mais peque nos, tão pequenos que seriam invisíveis. Em direcção ao outro infinito tambcm não se pensava que pudessem existir planetas insuficientemente luminosos para os nossos olhos. Existe uma sensibilidade metafísica tácita na pintura de história foucaultiana. Não se podendo pensar qualquer coisa em qualquer momento, só pensamos dentro das fronteiras do discurso do momento. Tudo o que julgamos saber está limitado sem que o saibamos, não lhe vemos os limites e ignoramos até que existam. De carro, quando o homo viator conduz à noite, não pode ver nada para além do alcance dos faróis e aliás, frequentemente, não distingue até onde vai esse alcance e não vê que não vê. Para mudar de metáfora, estamos sempre presos num aquário de cujas paredes nem nos apercebemos; sendo os discursos incontornáveis, não se pode, por graça especial, avistar a verdade verdadeira nem sequer uma futura verdade ou pretensa como tal. E certo que um discurso, com o seu dispositivo institucional e social, é um statu quo que só se impõe enquanto a conjuntura histórica e a liberdade humana não o substituem por outro; saímos da nossa redoma provisória sob a pressão dos novos acontecimentos do momento ou ainda porque um homem inventou um discurso e teve sucesso62. Mas estamos apenas a mudar de redoma para nos situarmos numa nova redoma. Essa redoma em que o discurso é «o que poderiamos chamar de a priori his tórico»61. E certo que esse a priori, longe de ser uma instância imóvel que tiranizaria o pensamento hum ano64, é cambiante, e nós mesmos acabamos por mudar com ele. Mas é inconsciente: os contemporâneos ignoraram sempre onde estão os seus próprios limites e nós próprios não podemos vislumbrar os nossos.
incontornável, é o discurso que nos força a viver no nosso tempo. Contra-senso revelador, de resto, da cegueira do senso comum. 62 Por exemplo, o cristianismo e o islão, essas criações religiosas que tiveram o imenso sucesso que conhecemos e cujos discursos respectivos, que não me arriscarei a tentar explicitar, são seguramente muito diferentes dos do paganismo greco-romano, das religiões com iniciação ou Mistérios e dos cultos pré-islâmicos da Arábia. 63 DE, IV, p. 632. 64 VArchéologie du Savoir, pp. 167-169 e 269.
II. TODO O A PRIORI É HISTÓRICO
Três erros a não cometer No ponto em que nos encontramos, convém prevenir duas ou três possíveis confusões. O discurso não é uma infra-estrutura e também não é um outro nome para a ideologia, seria antes o seu contrário, apesar daquilo que se lê e ouve todos os dias. Pôde ler-se recentemente que o conhecido livro de Edward Said sobre o orientalismo denunciaria essa ciência como sendo apenas um «discurso» que legitima o imperia lismo ocidental63. Não e não: a palavra discurso é imprópria aqui e o orientalismo não é uma ideologia. Os discursos são os óculos através dos quais, em cada época, os homens tiveram a percepção de todas as coisas, pensaram e agiram; impõem-se aos dominantes tanto quanto aos dominados, não são mentiras inventadas por aqueles para enganar estes e justificar a sua dominação. «O regime da verdade não é simplesmente ideológico ou super-estrutural; ele foi uma condição de formação e de desenvolvimento do capitalismo.»6566 O próprio Foucault devia estar provavelmente a pensar no livro de Said, que fez um grande alarido, quando escreveu: «Todos sabem que a etnologia nasceu da colonização, o que não quer dizer que seja uma ciên cia imperialista.»6' Explicitar as diferenças singulares não é denunciar a sujeição dos intelectuais, sujeição que seria a função preenchida pelas ideologias68; desde que esta «função» funcione realmente e que o homem seja um ser assaz cartesiano, intelectual quanto baste para que possa ser a sua inteligência a ditar-lhe o comportamento e que só obedeça aos seus mestres se lhe forem fornecidas razões, boas ou más, para fazê-lo.69 Longe de serem ideologias enganadoras, os discursos cartografam aquilo
65 Sobre E. Said e sobre a condenação do orientalismo por mentes que visivelmente não desconfiam da existência de uma curiosidade desinteressada, gratuita, como era já a de um Heródoto, ver B. Lewis, Islam, Gallimard, col. Quarto, 2007, pp. 1054-1073. 66 DE, III, p. 160. 67 DE, IV, p. 828. 68 Sobre a formação eventual de coberturas ideológicas a partir dos discursos, ver Foucault, «lljaut défendre la société». Cours au Collège de France, Hautes Etudes-Gallimard-Seuil, 1997, pp. 29-30. 69 Para uma critica da noção de ideologia, permito-me remeter para P. Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien, op. cit., pp. 225-248 (Quando o nosso mundo se tornou cristão, trad. port. Artur Morão, Edições Texto & Grafia, Lisboa, 2009).
33
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
que as pessoas fazem e pensam realmente, e sem o saberem. Foucault nunca estabeleceu uma relação de causa e efeito num sentido ou no outro entre os discursos e o resto da realidade o dispositivo e as intrigas que daí decorrem, estão num mesmo plano. Segunda confusão, considerar o discurso como uma infra-estrutura no sentido marxista do termo. Vimo-lo mais acima, o discurso, que desempenhou, antes de mais, uma função heurística, é uma noção por assim dizer negativa: parte de uma constatação segundo a qual, a maioria das vezes, não se leva suficientemente longe a descrição de um acontecimento ou de um processo, não se atinge a sua singu laridade, a sua bizarria — como as crianças chamam Papá a todos os homens. O term o discurso é um convite a ir mais fundo e descobrir a singularidade do acontecimento, até delimitar essa singularidade, em última análise. Todavia, quando surgiram As Palavras e as Coisas, alguns leitores tomaram a entidade que Foucault designava por discurso por uma instância material, uma infra-estrutura comparável às forças e relações de produção que, em Marx, determinam as super-estruturas políticas e culturais. Um crítico escreveu, inquieto, que submeter assim o devir histórico a estruturas ou a discursos era subtraí-lo à acção humana. Desconhecia que o discurso não é de todo uma instância distinta que determinaria a evolução histórica; é simplesmente oJacto que cada facto histórico se revela ser uma singularidade aos olhos do historiador penetrante, é singular, nos dois sentidos do termo —porque tem uma forma bizarra, a de um território cujas «fronteiras históricas» nada têm de natural, de universal. O discurso é a forma que essa singularidade tem, logo, faz parte desse objecto singular, é-lhe imánente, não é mais do que o traçado das «fronteiras históricas» de um acontecimento. E, tal como a palavra paisagem designa tanto uma realidade da natureza quanto o quadro em que um pintor retraça essa realidade, do mesmo modo a palavra discurso pode comodamente designar a página onde um historiador retraça esse acontecimento na sua singularidade. Nos dois casos, o termo discurso designa não uma instância mas uma abstracção, designadamente o facto do acontecimento ser singular; da mesma maneira que o funcionamento de um motor não é uma das peças desse motor, é a ideia abstracta de que o motor funciona. Uma outra crítica, mais tocante, foi feita ao nosso autor; numa só penada, acusava a crítica do discurso de ser errónea e de desencorajar a70 70 Como observa Ulrich J. Schneider, Michel Foucault, Darmstadt, 2004, p. 145.
34
II. TODO O A PRIORI É HISTÓRICO
humanidade ao fazer da historia um processo anónimo, irresponsável e desesperante. Efectivamente, gosta-se de pensar que só aquilo que é encorajador pode ser verdadeiro, «como se a fome provasse que um alimento espera por ela»71. Condena-se por vezes uma filosofía por não fazer mais do que descrever o mundo como ele é, sem ser útil, sem nos insuflar um ideal e valores. Como diz Jean-Marie Schaeffer, esse amor pelos valores é motivado «pela preocupação de tranquilizar os homens quanto à plenitude do ser, plenitude que, julgam eles, lhes é devida»72. Compreende-se então que alguns leitores tenham sentido uma verda deira repulsa relativamente ao cepticismo foucaultiano, que é resoluto ao ponto de parecer agressivo e de fazer figura de esquerdista. Erradamente, porque, na prática, a mais desmoralizante das teorias nunca desmoralizou ninguém, nem sequer o seu autor: há que viver, Schopenhauer viveu até velho e Foucault, como bom nietzschiano, amava a vida e fala da irre primível liberdade humana. Não irei ao ponto de fazer do seu cepticismo uma filosofia de happv end edificante (ele próprio escolhera servir-se dela como de uma crítica), mas enfim veremos que a filosofia deste lutador acaba de uma maneira roborativa. Esqueçamos a arte do sermão e voltemos às coisas positivas. Eis que ao falar do discurso da loucura, Foucault escreve que o discurso da desrazão no século XVII punha em jogo todo um dispositivo, isto é, escreve ele, um conjunto resolutamente heterogéneo, comportando discursos, instituições, arranjos arquitecturais, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filo sóficas, morais, filantrópicas, abreviando: do dito tanto como do não-dito. 73 Este «dispositivo» são, portanto, as leis, actos, palavras ou práticas que constituem uma formação histórica, quer seja a ciência, o hospital, o amor sexual ou o exército. O próprio discurso é imánente ao dispositivo que se molda nele (só se faz o amor e a guerra do seu tempo, a menos
71 Reconheceu-se uma citação de Nietzsche. Cf. DE, II, p. 12S8: «Nós precisamos [sou eu quem sublinha], dizem os grandes intelectuais, de uma visão do mundo.» 72 [ean-Marie Schaeffer, Adieu à 1’Esthétique, Collège International de Philosophie, PUF, 2000, p. 4. 73 DE, III, p. 299.
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
que se seja inventivo) e que o incarna na sociedade; o discurso faz a sin gularidade, a estranheza de época, a cor local do dispositivo. Nos dispositivos, um historiador reconhece logo essas formações nas quais está habituado a procurar a rede de causalidades entrecruza das que fazem com que haja devir. A mudança perpetua, a diversidade, a variabilidade devem-se à concatenado causarum, ao entrelaçamento de inovações, de revoltas (apesar do mimetismo e do gregarismo), de rela ções mútuas com o meio ambiente, de descobertas, de rivalidades dos rebanhos humanos entre si, etc. Mas, escreve Foucault ao evocar os anos 1950, as explicações da mudança «que se propunham nessa época, que me censuraram por não ter utilizado, não me satisfaziam. Não é por se fazer referência às rela ções de produção ou à ideologia de uma classe dominante que se pode resolver esse problema» '4 que accionava as diversas componentes do dispositivo7’. Fui informado de que hoje em dia alguns médicos (um dos quais membro do nosso Comité de Ética), que se inquietam sobre o devir da sua arte, trazem constantemente na boca as palavras saber, poder ou dispositivo, noções estas que, segundo eles, funcionariam muito bem para analisar as ameaças actuais. Essas ameaças não provêm já da psiquiatria nem da psicanálise, mas do recuo do exame clínico perante as máquinas, scanners ou IRM, e sobretudo da genética e de um eugenismo possível. Porque tal é o «discurso» actual. O saber médico justifica um poder, esse poder põe em acção o saber e todo um dispositivo de leis, de direitos, de regulamentos, de práticas, e institucionaliza o todo como sendo a própria verdade. Saber, poder, verdade: estes três vocábulos impressionaram os leitores de Foucault. Tentemos precisar as suas relações mútuas. Em princípio, o saber é desinteressado, isento de qualquer poder; o Sábio está nos antípodas do Político, por quem nutre apenas desprezo. Na realidade, o saber é frequentemente utilizado pelo poder, que muitas vezes lhe presta auxílio. Evidentemente, não se trata de erigir o Saber e o Poder numa espécie de casal infernal mas antes de precisar, em cada caso, quais foram as suas relações e, antes de mais, se as tiveram, e por que vias. Quando se relacionam, efectivamente, encontram-se num mesmo dispositivo onde se entreajudam, sendo o poder sábio na sua área, o que confere poder a certos saberes.745 74 DE, III, p. 583. 75 Teremos disso um exemplo cm «Ilfaut défendre la société», pp. 28-30, ou em Sécurité, territoire, population, p. 244.
36
II. TODO O A PRIORI É HISTÓRICO
Desde o século XVI que se multiplicaram os conselhos ao príncipe e toda urna literatura cogitada sobre a arte de governar. O que é 0 Príncipe de Maquiavel? A primeira filosofía lúcida e amoral do Poder? Nao, nada mais do que um manual que pretende ensinar a todo o príncipe como não perder o poder que possui sobre o seu principado /6. Desde há três séculos ou mais, as técnicas militares de treino disciplinar são um saber que é preciso aprender e que se transmite. Nos nossos dias, governar tornou-se uma autêntica ciência; o príncipe moderno tem de saber eco nomia e consulta economistas e até sociólogos. A racionalidade ocidental (racionalidade dos meios e não dos fins, entenda-se) utiliza saberes e conhecimentos técnicos. Esses saberes e essas técnicas são evidentemente tidos como fiáveis e verídicos pelos seus utilizadores e, excepto em caso de revolta, pelos súbditos. Entre as componentes de um dispositivo figura então a própria verdade. Em suma, diz-nos Foucault, a verdade pertence a este mundo; é produzida nele graças a cons trangimentos múltiplos. E detém efeitos regulados de poder. Cada sociedade tem o seu regime de verdade, a sua política geral da verdade.767778 Poder-se-ia então escrever uma história das concepções da própria verdade \ História que assenta bem no domínio jurídico. Pensemos, por exemplo, nos ordálios medievais, que só desaparcceriam no século XII: conforme se fosse capaz (ou se aceitasse ou não) de segurar num ferro incandescente durante nove passos ou de retirar um objecto do fundo de
76 DE, III, pp. 636-642. 77 DE, III, p. 158. 78 Cf. DE, III, pp. 257-258. Entre as componentes de um dispositivo, figura, de facto, a própria verdade. Já não a verdade das concepções que os diferentes séculos pude ram ter acerca do sexo, do poder, do direito e de todas as coisas (neste ponto, o céptico professa, como sabemos, que nenhuma destas idéias gerais é mais verdadeira do que outra e que todas elas se equivalem); desta vez, estamos antes a pensar na concepção da verdade que cada época fez para si neste ou naquele domínio. Por exemplo, no Antigo Testamento, os deuses dos povos estrangeiros são deuses «mentirosos», mas quem mente neste caso? Nem esses próprios deuses, que não existem (ou, mais precisamente, que «nada são»), nem os seus adoradores; é que, muito simplesmente, quando se tentava definir a verdade acabava-se por representá-la como o contrário da mentira. Pode-se também, imagino eu, acreditar em determinadas coisas sem dizer expressamente que «são verdadeiras», do mesmo modo que não costumamos vislumbrar mentiras nas verdades dos outros.
37
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
um caldeirão cheio de água a ferver, ter-se-ia dito a verdade ou mentido perante a justiça 79. O problema histórico consistiria em demonstrar «como certas formas de verdade podem ser definidas a partir da prática penal»80; Foucault escreveu um longo esboço de tal trabalho81, que ele ter ia gostado de desenvolver até ao fim, dizia ele um ou dois anos antes da sua morte. O dispositivo mistura, pois, alegremente, coisas e idéias (entre as quais a de verdade), representações, doutrinas e até filosofias, a instituições, a práticas sociais, económicas, e tc .82. O discurso impregna tudo isto. Conhecemos já as suas formas bizarras, as suas fronteiras mais históricas do que naturais: esta entidade de época tem a forma de um caco, de um calhau mais do que de um raciocínio formado. Ousaremos, pois, falar, em termos estoicos, de uma materialidade dos incorporais83. Sentimo-nos felizes ao ver Foucault, escapando aos equívocos do linguistic turn84 dos anos 1960, alargar a sua doutrina à sociedade
79 Remetamos, sobre este assunto, para o que escreveu um grande amigo de Fou cault, Peter Brown, Society and the Holy in the Late Antiquity, University of California Press, 1982, pp. 306-317 (trad. Rousselle, La Société et le sacré dans VAntiquité tardive, Seuil, coll. Des Travaux, 1985, pp. 248-255). 80 DE, II, p. 541. 81 DE, II, pp. 538-553. 82 L’Archéologie du Savoir, p. 214. Sobre as relações de causalidade entre factos sociais e factos mentais, ver DE, II, p. 161 (crítica da causalidade marxista como expressão: o darwinismo «exprimiría» os interesses da burguesia). 83 L’Ordre du discours, Gallimard, 1971, p. 60. Não sendo o produto de um sujeito transcendental que o anima, o enunciado impõe-se ao sujeito conhecedor na modalidade de uma coisa bruta, e o seu recorte bizarro, absurdo como as formas do acaso, não é evidente mente fruto de um Ego intemporal ou de uma liberdade heideggeriana de ver o verdadeiro ser descoberto; cf. la «matérialité répétable» de L’Archéologie du Savoir, p. 134. 84 A análise de um discurso, por exemplo o da melancolia, não é o estudo lexical dos sentidos da palavra melancolia (Uarchéologie du Savoir, pp. 65-66). Porquê este termo «discurso»? Duas ou três explicações são simultaneamente verdadeiras. Uma é heurística: Foucault trabalhou antes de mais e sobretudo os textos (tratados medicais relativos à loucura); não soube de antemão para onde iria, deverá ter acreditado primeiramente que o seu problema era linguístico e quis manter-se o mais próximo possível dos factos, que eram factos escritos. Para mais, não queria ser trazido de volta a um dos grandes problemas consagrados da filosofia; não por capricho, mas porque o seu profundo positivismo lhe fazia temer tudo o que pudesse parecer metafísico. Utilizou, portanto, um vocabulário seu, não recorrendo a termos técnicos da filosofia. Uma outra explicação reside no facto de ele ter
II. TODO O A PRIORI E HISTORICO
(«eu, nos meus livros, não posso dispensar a sociedade», dizia-me ele* e a toda a realidade histórica. Desde há muito tempo, é verdade, o pensamento de urna época não ocupava já, para Foucault, um lugar de eleição, nas suas formas desdobradas, na filosofia; a simples historia das idéias, em si, estava longe de ocupar o seu poleiro electivo nos textos canónicos, na filosofia; um regulamento administrativo podia ser mais revelador 83*85 que o Discurso do Método. O terro r nuclear e a dominação moderna do mundo pela técnica (pelo Gestell heideggeriano) não saíram de uma proposição desastrada de Descartes sobre a dominação do mundo pelo homem. Eis-nos longe de urna historia do Ser segundo H eidegger86. A uma origem transcendental do pensamento segundo Kant e Husserl, Foucault oporá uma origem empírica e contextual: o pensamento, esse
procurado, para ser compreendido e adoptado, situar-se no problema do momento, que era linguístico («A Arqueologia do Saber», livro escrito demasiado depressa, mostra-o bem). O que levou ao engano muitos leitores. Um título incómodo, «As Palavras e as Coisas», aumentou a confusão: julgou-sc que o problema de Foucault era a relação dos vocábulos com os seus referentes. Foucault viu-se forçado a tentar dissipar a confusão, como fez em L ’A rc h é o lo g ie d u S a v o ir , p. 66 e em D E , I, p. 776: no século XVII, escreve ele, os naturalistas multiplicaram as descrições de plantas e de animais. F. tradição «fazer a historia dessas descrições de duas maneiras. Ou se parte das coisas para se dizer: sendo os animais aquilo que são, sendo as plantas tais como as vemos, como é que as pessoas do século XVII os viram e descreveram? O que observaram eles, o que omitiram? O que viram eles, o que não viram? Ou então, faz-se a análise no sentido inverso: vemos quais as palavras e conceitos de que a ciência da época dispunha e, a partir daí, vê-se qual a grelha que era colocada sobre o conjunto das plantas e dos animais». Foucault, quanto a ele, apercebe-se de que, sem o saberem, os naturalistas pensavam através de um «discurso» que não era nem os objectos reais nem o campo semântico com os seus conceitos, mas que estava situado, por assim dizer, para além e que regulava correlativamente a formação dos objectos, por um lado, e dos conceitos, por outro. O discurso é um terceiro elemento, um te r tiu m q u id que, na ignorância dos interessados, explica o porquê de «tal coisa ser vista ou omitida, que seja concebida com tal aspecto e analisada a tal nível, e que determinada palavra seja empregue com tal significação». 85 à L ’â g e
I, p. 548, cf. P. 499; II, pp. 282-284. Ver, por exemplo, c la s siq u e , Gallimard, coll. Tel, 1976, p. 471. DE,
H is to ir e d e l a j o l i e
86 Estas altas especulações ultrapassam-me, diz ironicamente Foucault: «o mate rial absolutamente humilde que eu manipulo não permite um tratamento tão realengo»; seria difícil fazer a história de uma formação histórica qualquer sem ter em conta, por exemplo, os efeitos de poder e até, frequentemente, o discurso do poder central nessa época ( D E , II, pp. 409-410).
39
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
incorporal, forma-se no interior de todo um dispositivo que ele próprio impregna, para depois se impor através do dispositivo —porque o dis curso não é somente apoiado pela consciencia mas pelas classes sociais, os interesses económicos, as normas, as instituições e regulamentos. O aparecimento do discurso psiquiátrico no século XIX comportava idéias psicológicas e jurídicas, instituições judiciárias, medicais, policiais, hos pitalares, normas familiares ou profissionais. Mas, pensando nisso, o discurso de que fala Foucault parece estar próximo de uma noção que se tornou clássica em sociologia e em his tória, a de um ideal-tipo, forjada por Max Weber, essa esquematização de uma formação histórica na sua especificidade. Em que diferiría dela o discurso? O que é a descrição ou discurso dos «prazeres» amorosos na Grécia? O que é a «governamentalidade» do Antigo Regime? Foucault constrói efectivamente um ideal-tipo quando escreve que antes do século XVI11 governar os homens consistia em reconduzir até no comportamento dos sujeitos as regras impostas por Deus ao homem, ou tornadas necessárias pela sua má natureza»; depois, com a era das Luzes e os Fisiócratas, governar consistiu em dominar os fluxos naturais (demografía, moeda, livre circulação das sementes...) e, quanto ao resto, «laisser faire, laisser passer»87. Estes são ideais-tipo particularmente aprofundados, que procuram atingir a differentia ultima. Mas, em Foucault como em Weber, tratou-se de distinguir as componentes de uma qualquer formação histórica de um dispositivo, de mostrar as ligações entre essas componentes e fazer surgir a singularidade do todo. Por que razão Foucault se defendeu por todos os meios88 da aproximação a Weber? Porque não reencontrava em Weber o princípio de singularidade, e porque acreditava que Weber procurava reencontrar essências. Ele tinha, temo, uma ideia inexacta de W eber89; desconhecia que era tão nominalista quanto ele próprio, que tinha lido Nietzsche, que partilhava com este o seu cepticismo altivo e que via o céu dos homens «rasgado entre os deuses», entre os valores.
87 Securité, tenitoire, population, pp. 48-50. 88 DE, IV, pp. 26-30. 89 Foucault parece acreditar que a ideia principal de Weber era a racionalização através das idades e que o ideal-tipo era uma construção que permitia «retomar uma essência» para «compreendê-la», partindo de «princípios gerais» (DE, IV, pp. 26-27).
II. TODO O A PRIORI E HI57
- ..
Finalmente, porque o discurso é imánente aos factos históricos, a todo o dispositivo de que ele não é senão a formação última, não arrasta a historia, é antes arrastado por ela na companhia do seu inseparável dispositivo. Tal é a resposta a uma pergunta frequentemente ouvida: de onde saiu essa determinação pretensamente cega que é o discurso? O que o produz? De onde vêm as mutações misteriosas do discurso através dos séculos? Provêm muito simplesmente da causalidade histórica vul gar e bem conhecida, que incessantemente acarreta e modifica práticas, pensamentos, costumes, instituições, enfim, todo o dispositivo, com os discursos que nada mais fazem além de lhes delimitarem as fronteiras. Fizemos alusão ao discurso dos «prazeres» pagãos, depois ao da «carne» cristã; o platonismo, o estoicismo enquanto doutrina «boa em todos os aspectos» (o que a tornava recomendável à classe dos notáveis e diri gentes), o civismo democrático ou oligárquico da cidade antiga e o seu dever interessado de auto-dominio, a ideia de physis, de natureza, tornada criação divina, etc. Tudo aí tem lugar, imagino eu. Ora, o dispositivo, lembramo-nos, tem, na sua finitude, como limites as fronteiras históricas de um discurso. Deverá concluir-se que aquilo que o nosso pensador céptico diz sobre a história dos saberes também se aplica à história em geral: A história da ciência, a história dos conhecimentos não obedece simplesmente à lei geral do progresso da razão, não é a consciência humana, não é a razão humana quem, de certa maneira, detém as leis da sua história.9(1 E como os discursos não se sucedem segundo a lógica de uma dia léctica, também não se suplantam por boas razões e não são julgados entre si por um tribunal transcendental, só mantêm entre si relações de facto, não de direito; suplantam-se um ao outro, as suas relações são as de uns estranhos, uns rivais. O combate, e não a razão, é uma relação essencial do pensamento.9091
90 DE, I, pp. 665-666, onde Foucault fala também de «um inconsciente que teria as suas próprias regras, como o inconsciente do indivíduo humano tem também ele as suas regras e as suas determinações». 91 R.-P. Droit, Michel Foucault, entretiens, pp. 22 e 135. E uma ideia de Nietzsche.
41
O cepticismo de Foucault
Ora, quando se consegue explicitar esses acontecimentos datados e explicáveis que são as últimas diferenças chamadas «discurso», leva-se os leitores a conclusões críticas. Produtos de uma história e reflexos não adequados do seu objecto, os sucessivos discursos são diversos consoante os séculos, o que basta para mostrar a sua inadequação. Assim que se explicita um discurso, a sua arbitrariedade e os seus limites aparecem. Sobre essa amostra, sobre esse julgamento numericamente singular, pre sumimos, num julgamento «colectivo» (geral, senão mesmo universal), que assim deverá ser com qualquer discurso. A explicitação de algumas singularidades conduz assim, por indução, a uma crítica do conhecimento e do mundo tal como é. Eu não disse ò negação das verdade empíricas (aí voltaremos). Em con trapartida, quando se consegue explicitar essas singularidades datadas que são os discursos, chega-se, sem dizê-lo, a conclusões filosóficas. Foucault também dizia não ser historiador; mas como deixava cuidadosamente na sombra essas conclusões implícitas, também não se dizia filósofo. No ano da sua morte definia os seus livros como «uma história crítica do pensamento92»; história porque não procede de modo philosophico —«uma busca empírica, um ligeiro trabalho de história9'» atribuir-se-á «o direito de contestar a dimensão transcendental». O cepticismo de Foucault é, pois, uma crítica nos dois sentidos do termo. No sentido que a palavra tem em Kant, é uma crítica do conhecimento, que aqui funciona na base de uma hermenêutica histó rica e não na da física newtoniana como no caso de Kant. Esta critica interessa o filósofo e o historiador e funciona sobre aquilo que o autor de Salammbô, em 1859, chamava «sentido histórico»; esse sentido «é novíssimo», escreve ele numa carta, e «é a glória do nosso século94». 92 DE, IV, p. 632. 93 L’Archéologie du Savoir, p. 265. 94 Flaubert, cartas de 18 de Fevereiro de 1859 e 3 de Julho de 1860. Em 1858, na Revue des Deux Mondes, Renán escrevia estas linhas programáticas: «As ciências históricas parecem-me instadas a substituir a filosofia abstracta da escola na solução dos problemas que nos nossos dias preocupam gravemente o espirito humano. Sem pretender recusar ao homem a faculdade de ultrapassar pela intuição o campo do conhecimento experimental,
43
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
Mas esta crítica histórica pode também concernir ao homem e ao cidadão e servir-lhes de crítica política (esta é, de acordo com o nosso autor, uma pura questão de escolha pessoal porque em nome de que Razão, de que Bem ou de que Sentido da historia se prescreveria essa escolha?) e essa crítica serve a acção, se a opção for a militância. Por exemplo, se se criticar historicamente a ideia de Poder em geral, constata-se que na verdade os homens puderam, segundo as épocas, ser cidadãos em que cada um era um militante cívico e um pequeno governador da sua cidade95; ou então pertencer a uma fauna humana que povoava os domínios do príncipe, fauna que este podia esfolar, mas da qual tinha de saber permanecer dono, escutando os conselhos de Maquiavel96; ou formar uma população que o poder empreende gerir, da mesma maneira que um conservador das águas e florestas regula e canaliza os fluxos das águas e da flora; ou ser embarcadiço a bordo de um navio de cruzeiro através de mares por vezes tempestuosos, ficando o poder a olhar pelo welfare dos passageiros. Uma crítica suave, livresca, contemplativa, faz assim duvidar da verdade das generalidades sobre o Poder ou sobre o Amor, com maiuscu las. Pode então passar-se para uma crítica activa que, tendo em conta as realidades tão cambiantes dessas generalidades enganadoras, lhes conteste a legitimidade política. É também possível, como Montaigne, escolher a conclusão inversa: vale a pena mudar de governo? Querer-se-á mudá-lo por decisão pessoal, repito-o, já que a novidade escolhida será tão arbitrária quanto a precedente; mas esta consideração nunca deteve ninguém. E assim vai a vida, com ou sem niilismo.
pode reconhecer-se, ao que parece, que só existem realmente para ele duas ordens de ciências, as ciências da natureza e as ciências sociais: tudo aquilo que está para além sente-se, percebe-se, revela-se, mas não se demonstra minimamente. A história, quero dizer a história da mente humana, é nesse sentido a verdadeira filosofia do nosso tempo. Toda a questão hodierna degenera forçosamente num debate histórico; toda a exposição de princípios torna-se uma aula de história.» 95 É na qualidade de governador da sua cidade que Sócrates recusa evadir-se e se entrega à morte: não é o simples dócil cidadão de um governo ilegal e tirânico, mas um pedaço da cidade que assenta sobre o respeito pela Lei. Ele não quer dar um exemplo de desobediência às Leis. Um resistente de 1940-41, em contrapartida, considerava-se submetido a um governo ilegal ou ilegítimo. 96 Tal é o verdadeiro assunto, o tema exíguo do Príncipe de Maquiavel: ensinar ao príncipe como conservar o poder sobre o seu principado.
III. O CEPTICISMO DE FOUCAULT
Foucault, para quem o passado era o cemitério das verdades, não tirava a amarga conclusão da vacuidade de todas as coisas mas antes a da positividade do devir: com que direito julgá-lo? Ele nunca condenou, nem com uma só palavra, a mais absurda das doutrinas, expõe-nas todas com uma serenidade e uma abundância que são uma forma de respeito. Nada é vão, as produções do espírito humano nada têm que não seja positivo, porque elas existiram; são interessantes e tão notáveis quanto as produções da Natureza, as flores, os animais, que mostram aquilo de que aquela é capaz. Ainda oiço Foucault falar-me, com prazer, simpatia e estima admirativa, de Santo Agostinho e do seu perpétuo jorrar de idéias; idéias claramente estimáveis já que, dificilmente credíveis, mostram aquilo de que o espírito humano é capaz. Não residia nele um estetismo ligeiro, mas antes uma atitude fun dada. Também não era amoralismo; o abominável suplício de Damiens fora um horror, sem comentários, a exposição dos factos fala por si. Do mesmo modo, a objectividade flaubertiana perante dos horrores cartagineses condena-os por preterição; e a de Jonathan Littel, em As Benevolentes, é um Caravaggio. Por detrás do silêncio retórico da escrita, adivinha-se uma amargura que, na conversação, encontrava em Foucault as mesmas palavras que nos vêm à boca diante das atrocidades de que a nossa espécie é capaz9'. Foucault não era mais niilista do que subjectivista, relativista ou historicista: de confissão própria, era céptico. Evoco uma citação decisiva. Vinte e cinco dias antes da sua morte, Foucault resumiu o seu pensamento numa única palavra. Um entrevistador acutilante perguntava-lhe: «Na medida em que não afirma qualquer verdade universal, você é um cép tico? —Naturalmente», respondeu ele9S. Eis o ponto fulcral: Foucault duvida de qualquer verdade demasiado geral e de todas as nossas gran des verdades intemporais, nada mais, nada menos. Tal como escreve no começo de Nascimento da Biopolítica, os universais não existem, só existem singularidades. Uma noite em que falávamos do mito, ele dizia-me que a grande questão, para Heidegger, era saber qual era o fundo da verdade; para Wittgenstein, era saber o que se dizia quando se dizia a verdade; «mas, na minha opinião, a questão é: o que faz com que a verdade seja978 97 Relato feito uma noite por Foucault: «Esses massacres espantam-no? Mas, sabia que, na véspera da Batalha de Wagram foi dito a Napoleão: “Senhor, esta batalha será inútil, para quê deitar à morte cem mil homens em vão?” Resposta de Napoleão: “Um homem como eu está-se nas tintas para a morte de cem mil homens”.»
98
DE,
IV, pp. 706-707.
45
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
tão pouco verdadeira?»; a verdade ou, pelo menos, as verdades de cada época. Em Vigiar e Punir, Foucault não insinua que o nosso sistema carcerário não vale mais do que os suplícios atrozes do Antigo Regime; não tem o cinismo de quem coloca tudo no mesmo saco (militou contra a pena de morte), mas quer mostrar que esses dois sistemas penais são heterogéneos e que visam, um e outro, atingir objectivos singulares e arbitrários. Desde logo, farejara aqui uma estranheza, tinha imediatamente entrevisto uma diferença. Uma diferença em relação a quê? A outros discursos ou ao nosso próprio discurso penal. Em relação a que outra coisa poderiamos nós aferir uma diferença? Não existe já prontinha nem pode existir uma tipologia dos procedimentos humanos à qual bastaria reportar-se. De todos os discursos e sucessivos dispositivos da loucura através da história, é impossível extrair o que é a loucura em si mesma; em con trapartida, esses discursos e dispositivos constituem outros tantos factos históricos dos quais se pode falar rigorosamente, enquanto historiador. Ousarei evocar Espinosa, para quem cada corpo, cada alma e cada pen samento são um produto singular da concatenação universal e não entra numa espécie e num género? Ou antes, só parece neles entrar para a nossa imaginação abusada por semelhanças superficiais99 (Espinosa falava, é certo, dos modos da substância Natureza, isto é, de vós e de mim, e não, como Foucault, das entidades que os discursos são). As consequências são pesadas: não podemos já decretar qual é a verdadeira via da humanidade, o sentido da sua história, e precisamos de nos habituar à ideia de que as nossas caras convicções de hoje não serão as de amanhã. Temos de renunciar às verdades gerais e definitivas: a metafísica, a antropologia filosófica ou a filosofia moral e política são outras tantas vãs especulações. O absoluto não está ao nosso alcance 100,
99 Sobre a negação dos universais em Espinosa, M. Gueroult, Spinoza, Aubier, 1968 e 1974, I, pp. 156, 413, 443; II, p. 339; e as matizes que G. Deleuze expõe, Spinoza et le problème de 1’expression, Minuit, 1968, pp. 256-257. 100 De modo que tudo é possível: talvez Heideggcr tenha razão! Talvez o intelecto agente de Aristóteles exista. Talvez Georg Simmel tenha razão em supor que a alma não é uma substância mas uma função que permanecerá a mesma em condições de realidade inteiramente diferentes (G. Simmel, «Lebensanschauung», cm Gesamtausgabe, vol. XVI, Suhrkamp, 1999, pp. 209-425). A questão não reside aí: trata-se de nada podermos saber sobre isso. Mas o pavor que provoca a «natureza», a visão de uma árvore ou de um insecto, quando se pensa na sua inverosímil arquitectura interna... A «natureza» sabe tudo sobre a física e a química. Então, depois disso, o darwinismo...
III. O CEPTICISMO DE FOUCAULT
pelo menos, por enquanto. Um dia, talvez, «saberemos tudo: a campa é feita para saber» (Hugo). Para um céptico, não é impossível que o mundo seja muito diferente daquilo que dele vemos. Apressemo-nos a tranquilizar o leitor: este cepticismo não incide sobre a realidade dos factos históricos, mas sobre as grandes questões, «o que é a verdadeira democracia?», por exemplo. E o que nos importa saber o que é a verdadeira democracia? Saibamos antes como a queremos (de qualquer forma, a maioria de entre nós provavelmente não deixará de acreditar que é verdadeiramente aquilo que queremos que ela seja). Criticar as idéias gerais não é negar toda a verdade e atentar contra a honra dos historiadores, como alguns temeram. As consequências nem por isso são menos pesadas; levemos o lei tor até à mais densa de entre elas, evocando o escândalo levantado por Foucault no dia em que afirmou (assim se julgou, pelo menos) que o homem, a humanidade, a figura humana só servia para ser apagada dos nossos cérebros e que não se deveria falar mais nela. Não era porém mais do que uma tempestade num copo de água clara. A verdade dos factos empíricos é-nos acessível, dizíamos nós, construímos uma lin guística, uma economia política, sociologia e até mesmo psicologia e ciências cognitivas; em contrapartida, não se saberia construir uma antropologia filosófica. Pronto, está tudo dito; julgo que o leitor adi vinhou o que se vai seguir.
Céptico, mas não inimigo da humanidade! O que se poderá dizer do homem em geral, senão banalidades? Nos universais antropológicos nunca se consegue encontrar aquilo que um epistemólogo anglo-saxão designou com a expressão o duro do mole: tudo verga sob o peso da mão. Perguntais-vos de onde vem o desenvolvimento do saber, da ciência? Invocai ad libitum, a curiosidade, a necessidade de dominar ou de nos apossarmos do mundo pelo conhecimento, a angústia diante do desconhecido, as reacções perante a ameaça do indiferenciado 101. Donde uma das teses principais de Foucault: «é preciso fazer-se a econo mia do homem ou da natureza humana, se se quiser analisar o sistema da
101 DE, II, p. 242.
47
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
sociedade e do hom em »102103; é preciso estudar a história, a economia, a sociedade, a linguística e todo o dispositivo que fez dele aquilo que é em dado momento. Enquanto o pensamento antropológico pressupõe que além dos factos reside uma generalidade humana, as ciências humanas, a linguística, a economia, a etnologia estudam cada uma um domínio específico, sem por aí pretenderem contribuir para uma concepção geral do homem l()3. Há muito a dizer sobre as positividades que formam os homens em dado momento, sobre o homo ceconomicus, o homo faber, o homo loquens, mas o que dizer de instrutivo sobre o homo simplesmente? Que o riso lhe é próprio? Que não é totalmente bom nem totalmente mau? Que é um tema maravilhosamente diverso e ondulante e que é desaconselhável fazer sobre ele um julgamento constante e uniforme? Neste homem reduzido a si próprio não se encontrará natureza, ele reduz-se aos dispositivos nos quais se encontra momentaneamente enredado. Predigamos, pois, que brevemente se deixará de tomar a natureza humana como objecto de estudo e que «o homem se apagará, como um rosto de areia no limite do mar». Reconheceu-se a frase fatal, a frase que termina As Palaw-as e as Coisas e lembramo-nos do concerto no charco de rãs que acolheu essa conclusão tornada tão compreensível quanto inocente pelo seu contexto. Quantas indignações virtuosas provocou esta frase que valeu a Foucault a reputação de inimigo da espécie humana, essa espécie à qual pertenciam tantos dos seus leitores! O tempo que passa fez esquecer que nesses anos longínquos, com o despertar do mundo sobre os horrores da guerra, toda a gente era humanista; havia os humanismos clássico, progressista, cristão, marxista, personalista, existencialista, tomista e até estalinista. Na frase tão censurada, o leitor de boa fé adivinha menos uma blasfêmia do que, num traçado elegante energicamente cinzelado, o sen timento metafísico da tragicidade da vida. Há três séculos, esta imagem de um rosto traçado na areia e apagado pelo mar teria sido sentida como uma alegoria das «vacuidades» da condição humana, uma Melancolia. Foi efectivamente o que se entendeu, Foucault teria desejado «provocar» e não passava de um provocador. A palavra fora mal escolhida, porque Foucault não era um ser de provocação mas sim de desafio lançado ao erro ou ao disparate. Recorre-se com demasiada facilidade à psicologia 102 DE, II, p. 103. «Não é necessário passar pelo sujeito, pelo homem enquanto sujeito, para analisar a história do conhecimento» (DE, I, p. 775). 103 Ulrich J. Schneidcr, Michel Foucault, Darmstadt, 2004, p. 79.
III. O CEPTICISMO DE FOUCAULT
da provocação. Seria mais fácil fazer a psicologia da ingenua crença na provocação; crença ingenua ou vaidosa, porque o burgués de 1925 sentia-se lisonjeado ao pensar que os «pintores cubistas» se preocupavam o bastante com ele para não terem outra preocupação que não fosse agradar-lhe. Com efeito, fosse quem fosse a julgar-se provocado não era, ipsofacto, digno de sê-lo. A frase fatal de Foucault significava simplesmente que se podia dizer de que era Jeito101 o homem, mas não interrogar o «ser do homem» como Heidegger (qual é o lugar do homem no Todo e no tempo?), ou a sua interioridade, como Sartre (que boa fé, que má fé nele?). Foucault tinha ainda mais razão do que pensava em 1971 porque, como viria a descobri-lo, por volta de 1980, no decorrer da sua história, os homens nunca deixaram de se construir a si próprios, isto é, de deslocar continuamente a sua subjectividade, de se constituir numa série infinita e múltipla de subjetividades diferentes que nunca terão fim e nunca nos colocarão frente a algo que seja o homem. ,0’ Doravante, no lugar sempre vazio desse herói de numerosos pro vérbios —o homem —, Foucault colocará o processo de constituição ou, por vezes, de auto-estilização de um Sujeito humano, livre, senão todo-poderoso; aí voltaremos. No entanto, adivinha-se o porquê deste pequeno escândalo: a frase fatal tinha presa a si a luz negra de uma desconfiança que o respectivo estilo de escrita e atitude de escritor haviam atraído sobre Foucault. Os seus livros incisivos não são os de um revoltado mas também não se dirigem ao bom partido, nem são escritos para reunir em seu redor leitores de todos os géneros como em torno do calor de uma lareira. Não são comunicativos, não são próprios para elevar o tónico vital dos seus leitores. Foram escritos à espada, ao sabre por um samurai, seco como um sílex, cujo sangue frio e reserva não tinham limites. São eles próprios espadas cujo manejamento supõe um leitor possuindo por si o1045 104 LArchéologie du Savoir, p. 172. DE, IV, p. 75; III, p. 469: «Não somos coisa alguma além do que foi dito.» Cf. DE, I, p. 503, e L’Archéologie du Savoir, p. 275: «As palavras, os escritos nascem do dispositivo e não de uma natureza humana; de tal maneira que, onde existe signo não pode existir o homem; onde se faz falar os signos, é preciso que o homem se cale.» 105 DE, IV, p. 75.
49
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
tónico vital em questão. A virtuosidade deste estilo de esgrimista rego zijava o leitor que permaneceu jovem e fez o sucesso dos seus livros, quer fossem ou não compreendidos; mas, compreendidos ou não, colo cavam outros leitores numa posição de desconfiança, de defesa ou até de repulsa quando pressentiam, através do estilo, com que homem e com que atitudes lidavam. Um samurai, dizia eu (devo o termo ajean -Claude Passeron, palavra que traduz bem a esguia e elegante silhueta do nosso herói, até a alegria das suas gargalhadas); ora um samurai, um guerreiro, não é «o espírito que sempre nega». Foucault não era desses pessimistas amargurados que sonham dinamitar o planeta. E ele acusava de fácil e suspeita a literatura dos ensaístas ou sociólogos que cultivam o género literário da sátira latina e se atiram aos vícios do tempo: panem et circenses, sociedade do espectáculo, sociedade de consumo e mercantil —insipidez dificilmente evitável, já que é quase impossível fazer seriamente uma antropologia do presente. O que fora ardente nos surrealistas não passa já de um prato requen tado. Como historiador, Foucault desdenhava esses queixumes amplifi cados. O nietzschiano que ele era suspeitava de um sintoma de pouca saúde nessas deplorações complacentes; pelo seu lado, não conhecia nem saciedade, nem desgosto, nem lassitude, nem declínio (é o que significa o mito nietzschiano do Eterno Retorno: «Estou disposto a reviver o mundo actual as vezes que se quiser»).
Os limites desse cepticismo Apressemo-nos agora a responder a uma objecção bem diferente, com a qual nos enchem os ouvidos, e que não passa de um gadget sofistico. Foucault, diz-se, contradizer-se-ia ao afirmar que a verdade é que não há verdade: o seu cepticismo seria excessivo e o resultado seria duvidar da dúvida. Não: porque o seu cepticismo não duvida de tudo por princípio, o que é suficiente para destruir esta objecção que confunde sofisticamente um julgamento universal com o julgamento colectivo que toma os factos um por um. Quando um pensador põe em dúvida as idéias gerais, não faz por essa via um julgamento universal (em que se incluiria a si mesmo na sua própria condenação), mas um julgamento numericamente colectivo: ele não sabe de antemão, por princípio, que não existem verdades gerais,
III. O CEPTICISMO DE FOUCAULT
mas fez um balanço crítico da loja das verdades e constatou que todas as amostras que examinara eram criticáveis; conclui assim que tudo era criticável nessa loja. Ora, constatar que os elementos de um balanço, considerados um a um, são ruinosos, como faz Foucault, não arruina esse mesmo balanço sombrio; antes pelo contrário, isto confirma-o, sendo o balanço e a loja duas coisas diferentes, e sendo esse balanço ruinoso, não há qualquer dúvida._ Também não é contradizer-se, depois de ter negado as verdades gerais, exercer assim uma crítica geral: esta crítica sem ilusões não pretende conhecer adequadamente qualquer objecto determinado; precisa apenas de noções vazias, como as de discurso, objecto, referente, princípio, julgamento colectivo, singularidades ou universais. Essas conchas vazias, meros auxiliares do pensamento, não são nem adequadas nem inadequa das l06, porque não correspondem a nenhum objecto determinado que seria inseparável de um discurso; mas prestam-se, à vez, a uma infinidade de referentes singulares10', cuja crítica genealógica explicita o «discurso», o que conduz ao balanço desmistificador que acabámos de ver. Paz aos pequenos factos, guerra às generalidades. Não tendo Foucault, positivista inesperado, dito mais do que isto, tentemos a nossa sorte. E claro que os factos históricos não existem já prontos, são construções, escreve Marc Bloch, mas são construídos sobre discursos inofensivos para a sua verdade. O facto minúsculo de, em determinadas épocas e em determinados lugares, um corte de cabelo ser pago ao cabeleireiro com uma dúzia de ovos e não com uma moeda tornou-se, no século XX, um facto económico, digno do discurso histórico. A ressurreição de Lázaro e o sabat das bruxas deixaram, no século XVII, de ser acontecimentos naturais dignos de fé (em contrapartida, temos a prova, graças ao céle bre clínico Pierre Janet108, que a estigmatização, por exemplo a de São Francisco de Assis, não será lendária). Um julgamento sobre os factos empíricos pode ser verídico: o genocídio cambojano teve lugar, Jesus de Nazaré existiu realmente, mas terá verdadeiramente caminhado sobre as águas? Alguma vez se verificou milagre algum? Em contrapartida, para que o genocídio hitleriano pudesse ser uma mera lenda, como pretendeu um punhado de perversos, seria preciso todo um discurso segundo o qual o nosso mundo (como outrora o dos
106 Testemunho oral de Foucault respondendo a uma objecção da minha parte. 107 Comparar M. Gueroult, Spinoza, op. cit, I, pp. 413-419. 108 P. Janet, De 1’angoisse à l ’extase, Alean, 1926 (1976).
51 I
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
gnósticos) estivesse dominado e abusado por potências enganadoras, imperialismo, capitalismo ou conluio judeu, que tivessem interesse em fabricar essa lenda. Seis milhões de judeus assassinados, o facto está aí, e os factos são obstinados, retorquia Foucault a propósito dos crimes estalinistas!U9. Em compensação, os números do Antigo Testamento são fabulosamente engrossados, cem mil inimigos mortos, sem contar com as mulheres e as criancinhas; mas já não vivemos na era das lendas e da hipérbole numérica. As interpretações do genocídio são passíveis de discussão (univer sal banalidade do mal? Consequência trágica de uma Sonderweg alemã? Docilidade cívica e militar à autoridade e à demasiado famosa Obrigkeit?). Tudo isto será científicamente discutido na elaboração de ideais-tipo, como veremos: mas o facto do genocídio está aí, dia após dia, e só um discurso gnóstico poderia contestá-lo. Ora tudo se esclarece aqui, eis-nos no termo ou no princípio do nosso problema: não fizemos mais do que dar continuidade a uma das grandes correntes do pensamento grego. Por um lado, existem os factos, os pequenos factos da vida quotidiana, os únicos de que os cépticos gregos não duvidavam, o que revela que a vida é a mais forte (Pyrrho, o primeiro dos cépticos, tinha medo de cães: sabia-os capazes de m order109110); por outro lado, há tudo o resto, a imensa inflação das «verdades» votadas ao cemitério. Todavia, reservemos um lugar seguro para as descobertas das ciências ditas físicas e para os ideais-tipo dos historiadores e sociólogos, tal como o céptico Sextus Empiricus reservava um para a medicina empírica. Com efeito, descobertas e ideais-tipo assentam em factos iguais àqueles cuja realidade sentimos a toda a hora quando agimos e somos afectados; esses factos pelos quais os animais e nós temos de sair de apuros. As inferências fundadas nesses factos permitem-nos conhecer a existência de outros já passados e prever mais ou menos o futuro. Os acontecimentos «históricos», por muito pomposos que sejam, reduzem-se, para a crítica, a factos e gestos quotidianos desse mesmo género (Waterloo visto por Fabrice dei Dongo perguntando se os episódios guerreiros em que tinha participado eram uma batalha). Pode pois estabelecer-se a realidade material daquilo que se passava e do que era feito em torno das 109 «Fomos tomados pela ira dos factos», contra os defensores irénicos do estalinismo ( D E , III, p. 277). Sobre este episódio, ver D. Eribon, M ic h e l F o u c a u lt e t ses c o n te m p o r a in s , Fayard, 1994, p. 344. 110 Diogène Laérce, Vie e t d o c tr in e des p h ilo s o p h e s edição Goulet-Cazé, Le Livre de Poche, 1999.
52
iI lu s tr e s ,
IX, 66, a consultar na
III. O CEPTICISMO DE FOUCAULT
câmaras de gás. Aliás, mal ou bem, compreendemo-nos entre humanos, há ligação hermenêutica. É por isso que, à falta de explicações metafísicas da Razão, é verídicamente possível decifrar a natureza, contar a historia e descrever a sociedade. Hume teria aprovado, pode crer-se, esta filosofia do simples entendimento. Dito isto, estes pequenos factos indubitáveis só se atingem porém segundo um ponto de vista e através de um discurso; é a fatalidade que recai sobre o conhecimento hum ano111. O herbívoro procura erva, esse objecto singular que se repete indefinidamente —porque urna coisa singular nem por isso é numericamente irrepetível112 —, mas essa erva não é a própria Erva, em si mesma, independentemente de qualquer ponto de vista: aos olhos do animal, trata-se de caules verdes e delgados que saem da terra. Tal é, na perspectiva bovina, o discurso da erva, que é diferente daquele, não menos parcial e parcelar, de um botánico ou de um passeante. O que a Erva é em si, fora de qualquer perspectiva, nunca o saberemos (essas palavras nem sequer têm sentido para nós, só uma inteligência divina pode ver o geometral da erva); o discurso dos botânicos que julgam «tudo saber» sobre a erva não tem correspondência com o discurso do herbívoro. Não podemos saber o que seriam a erva, o poder ou o sexo não revestidos por um discurso; é-nos impossível soltar (desencalhar) os factos do invólucro dos seus discursos. Não se trata de relativismo nem de historicismo, é perspectivismo. Ou ainda, para citar aqui o que Foucault escreveu não me recordo onde: em lado nenhum se encontra sexualidade «no estado selvagem»; essa planta só se encontra no estado de planta cultivada num discurso, ao mesmo tempo prisioneira e carcereira de um dispositivo em que o discurso —esse efêmero a priori histórico —é imánente. E evidente que aqui não se trata de algo do género das formas a priori da sensibilidade em Kant! Estou apenas a tentar sugerir, o melhor possível, que não se pode ver uma coisa sem «dela se ter uma ideia»; perante um recém-chegado, a criança diz «é um papá», tal é o seu discurso antropológico. Nunca 111 Comparar a análise feita por Jean Laporte, Le Problème de l’abstraction, Alean, 1940. O conhecimento que o herbívoro tem da erva, a ideia abstracta e geral que dela tem, é guiada pela sua «tendência» (era esse o termo de Laporte) a alimentar-se de erva. 112 Porque um objecto singular (em termos de compreensão) pode ser geral (em extensão), repetir-se em número; o círculo, o número 37 são «naturezas singulares», em termos cartesianos (37 é diferente de 36 ou de 38), mas encontram-se em toda a parte em que os reencontramos; há 37 pessoas nesta sala, fulano possui 37 livros. «E a erva em geral que atrai o herbívoro», escreve Bergson.
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
estamos perante a «experiência primitiva, fundamental, surda, minima mente articulada11314567» de um objecto anterior a qualquer discurso, de um referente pré-discursivo; essa silhueta enigmática tomaria automaticamente um sentido, um nome, nem que fosse o do Enigma. Suponho assim, erradamente ou não "4, que, de acordo com Foucault, interpretamos sempre as coisas, que o fazemos de improviso e durante pouco tempo da mesma m aneira"5; o macho adulto é imediatamente interpretado como um papá, mas durante poucos meses. Uma procura do objecto nu, do referente pré-discursivo, talvez não seja impossível ’16, mas não levaria longe: os homens nunca têm de lidar com o referente nu. O fenómeno que se inscreve na sociedade e na história, tal como é vivido, sofrido, tolerado, incensando, institucionalizado, foi sempre interpretado de improviso, para se inscrever em todo um dispositivo que ele mesmo informa no seu sentido próprio. Só um deus saberia o que é a loucura pré-discursiva ou a Erva em si " 7. Como bem quis escrever-me o penetrante Jean-Marie Schaeffer, «o que é o conhecimento senão uma interacção entre duas realidades espácio-temporais, o indivíduo e o seu meio, isto é, um processo empí rico e não um espelho?». Só poderia ser essa adequação verídica, esse espelho, essa luz pura se um fundamento transcendental ou transcen dente (a garantia dada pela existência de Deus) viesse miraculosamente garantir-lhe o sucesso. Milagre no qual a filosofia acreditou até Nietzsche (poderiamos também evocar o cepticismo antigo e Carneades). 113
V A r c h é o lo g ie d u S a v o ir ,
p. 64.
114 Uma frase de Foucault deixa-me embaraçado: «Sem dúvida que tal história do referente é possível; não se exclui à partida o esforço para desencalhar e libertar do texto essas experiências p r é -d is c u r s iv a s » ( L Â r c h é o lo g ie d u S a v o ir , pp. 64-65). Não estará aqui Foucault a tentar não parecer incisivo, dogmático? Não se vê bem de que modo o acesso a um referente pré-discursivo pode ser possível, como poderá uma descrição ser neutra. Desde logo, a simples delimitação do objecto supõe uma tomada de partido, um discurso; até onde vai a sexualidade? O nu artístico é casto? Um transe religioso é uma lufada de loucura? 115 N a is s a n c e d e la c lin iq u e , pref., p. XV: «O que conta nas coisas ditas pelos homens [nos discursos], não é o que estes terão pensado aquém ou além delas, mas o que as siste matiza á partida, tornando-as, para o resto do tempo, indefinidamente acessíveis a novos discursos e abertas à tarefa de serem transformadas.» 116
L ’A rc h é o lo g ie d u S a v o ir ,
p. 64.
117 Cf. Nietzsche, QLuvres p h ilo s o p h iq u e s c o m p le te s, vol. XII, F ra g m e n ts vol. 3, trad. Hervier, Gallimard, 1979, p. 143 = Cadernos W I 8, 2 [154],
p o s th u m e s ,
III. O CEPTICISMO DE FOUCAULT
Infelizmente, nenhum discurso pode desempenhar esse papel sublime porque, «sendo os discursos equipotentes», prossegue Schaeffer, «só uma ordem de discurso superior, incomensurável com os discursos humanos, poderia operar tal subtracção». E, urna vez mais, Jean-Marie Schaeffer escreve-me o seguinte: A postura epistemológica de Foucault não consistia em reduzir o real ao discurso, mas em relembrar que, desde que um real é enun ciado, está sempre desde logo discursivamente estruturado. Neste sentido, a afirmação da irredutível diversidade das discursividades não implicava qualquer idealismo redutor da realidade ao pensamento, nenhum relativismo ontológico. Pelo contrario, direi eu, o historiador tem acesso aos acontecimen tos e o físico alcança aplicações técnicas e predições. Mas nada mais, porque «não se pode desfalcar a modalidade de acesso daquilo a que dá acesso». Sente-se perfeitamente, ao avaliar um discurso, que peso de reali dade comporta o núcleo escuro 118 que este envolve (e talvez também que poder tem sobre nós o dispositivo social, institucional, costumeiro, teórico, etc., onde o discurso é imánente); mas é-nos impossível separar o trigo do joio, porque o discurso recorta e modela sobre si mesmo esse núcleo que constitui o seu objecto. Tudo vai depender do discurso que a vontade de saber questionar. Devem distinguir-se três casos: as ciencias sociais na medida em que aspiram a extrair o ideal-tipo de uma série de casos singulares, as ciencias físicas, que descobriram regularidades e, por fim, a pretensão teórica em manejar generalidades, que muito abraçam e pouco apertam. A historia do pensamento não revela em si nenhum momento trans cendental119, tal como a historia política e social não revela sentido
118 Esse núcleo existe indubitavelmente. Para dar um exemplo, as frequências estatísticas desiguais de certos traços humanos constantes através da história universal mostram que há um núcleo de realidade para lá dos discursos. Mas que real é esse? Constata-se, por exemplo, que através dos séculos a homossexualidade é menos frequente do que a heterossexualidade, mas este é um facto bruto desprovido de qualquer sentido enquanto um discurso não lhe der um, e que não autoriza nenhuma conclusão que não seja discursiva, logo arbitrária. 119 L’Archéologie du Savoir, p. 265, onde se trata efectivamente do transcendental kantiano e não de uma transcendência.
55
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
imánente da historia. É legítimo 12012divertirmo-nos um pouco e imagi narmos um Foucault que, hipótese impossível, tivesse sido metafísico; não teria tomado como substância o deus-natureza necessário de Espinosa, mas antes o caos, esse «caos da precisão» de que fala René Char; o caos teria produzido unicamente res singulares e nenhum universal, de maneira que Foucault não concede ao espírito humano a capacidade de verdades gerais, as quais só podem ser ocas. E se Foucault tivesse sido ontólogo; o ser reduzir-se-ia para ele à sucessão das práticas discursivas do saber, dos dispositivos de poder e das formas de subjectivação, «tudo procedimentos descontínuos, cujo fundo não pode ser senão a indeterminação», escreve François W ahl' Tranquilizem-se os leitores que lamentam a ausência de um Ser trans cendente: crer é um facto ou uma graça que não precisam de provas, enquanto o descrente, se for um céptico, não pode raciocinar nem a favor nem contra Deus. Montaigne concluía, no interesse da paz pública, que bastava continuar a acreditar como dantes. Regressemos à terra. Na natureza física escrutinada pelas ciências exactas, os objectos do discurso científico apresentam regularidades, como cada um sabe. Em contrapartida, nas coisas humanas só existem e só podem existir singularidades de um momento (os prazeres, depois a carne, etc.), porque o devir da humanidade é sem fundamento, sem vocação ou dialéctica que o possam ordenar; em cada época é apenas um caos de singularidades arbitrárias, saídas da concatenação caótica prece dente. A frase que acabamos de ler representa, imagino eu, o princípio do qual decorre o foucaultismo. Eis por que Foucault podia responder ao seu entrevistador que, no domínio humano, não afirmava nenhuma verdade universal: só existiam verdades de pormenor. Mas Foucault nunca se reclamou desse princípio, porque o importante aos seus olhos não era este truismo, mas os factos que dele decorriam. Ele queria assinalar que a sua pesquisa partia desses factos e não de um princípio filosófico do
120 Legítimamente, porque o próprio Foucault (DE, II, p. 97) se diverte a entrar na pele do Deleuze de Différence et répétition (PUF, 1968), para fingir uma metafísica do «todo do acaso», do «lance de dados» (cf. DE, II, p. 100: «os dados governam-nos»), com eterno retorno, não do Mesmo, mas do acontecimento incorporai e da diferença. No plano filológico, diz-se, porém, céptico (em termos mais subtis e corteses) quando Deleuze crê encontrar em Zaratustra essa doutrina de um eterno retorno da diferença e não do Mesmo; mas enfim, a intenção de Deleuze era boa... o próprio Foucault professa uma «filosofia do acontecimento» cm L’ordre du discours, p. 60. 121 Fr. Wahl, Le Perçu, Fayard, 2007, p. 523, n. 1.
III. O CEPTICISMO DE FOUCAULT
qual não tinha vontade alguma de discutir filosoficamente, já que não acreditava na filosofia. Em compensação, as singularidades empíricas pareciam-lhe de direito dignas de fé. São a sorte do historiador, do jornalista ou do investigador: o seu questionamento recai precisamente sobre o desenrolar singular de um acontecimento. Então o discurso que esses questionadores lançam sobre os factos para poder capturá-los, e que os remodela, traz à sua trama uma resposta remodelada que responde à pergunta feita: qual é a verdade sobre este facto singular, qual foi a sua realidade? (Na verdade, a pergunta deles também exige que o facto não seja sobrenatural e que se tenha passado no nosso espaço e na nossa temporalidade, não no Olimpo, ao mesmo tempo céu e cume, nem no espaço-tempo mítico). Antes de mais, onde e quando ocorreu o facto? Como mostrou Bernard Williams 122123, a nossa ciência histórica começa com Tucídides, com quem todo o acontecimento passa a ter um lugar e uma data, illic et tune, tornando-se o passado histórico homogéneo ao presente125, não sendo já o tempo mítico ou aquele em que os animais falavam. Após o que, os historiadores colocarão talvez questões mais gerais e mais espinhosas, o papel da luta de classes, a economia como motor primeiro, o conflito das civilizações, mas este é outro assunto. Estas questões de «síntese» histórica podem mudar, é certo, o sentido que o historiador atribuirá a um acontecimento, mas não devem nunca atentar à realidade do facto. E há mais: ao colocar a questão do illic et tune, tornamo-nos mais historiadores do que teóricos, crentes cândidos ou militantes cegos; há aqui uma «constituição correlativa do sujeito e do objecto124». Porque, se um sujeito conhecedor colocar ao passado a pergunta certa, esse sujeito torna-se por essa via historiador ou jornalista de investigação. O discurso questionador, o objecto que ele encalha e modela e o próprio sujeito conhecedor nascem os três de um mesmo questionamento. Cada um escolhe livremente (voltaremos a este advérbio que pode inquietar os sociólogos) a sua via, a sua subjectivação. Lembrar-nos-emos no momento certo, mas voltemos ao princípio tácito de Foucault. Se tudo corre bem com as singularidades empíricas,
122 Vérité et véracité. Essai de généalogie, trad. Lelaidier, Gallimard, col. Essais, 2006. 123 Cícero, que nada crê em deuses nem mitos, pergunta pérfidamente como é possível que nos nossos dias os deus já não tenham filhos, que já não se anuncie nenhum nascimento divino, quando outrora os deus tinham crianças? 124 DE, IV, p. 635.
57
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
em contrapartida, e em virtude do mesmo princípio, uma ideia geral que sobrevoa e pretende subsumir várias realidades singulares que confunde em si mesma só pode ser superficial e enganadora. Se se procuram gene ralidades nas coisas humanas, conceitos, uma essência que seja comum a uma dessas «pluralidades emaranhada de objectos125», só se atingem idéias falsas, vagas, (muita extensão, pouca compreensão), demasiado amplas, frequentemente nobres, por vezes pomposas e edificantes. Vere mos, porém, como Foucault pôde, sem contradição, militar a favor de convicções ou antes indignações.
125 LÂrchéologie du Savoir, p. 66.
SM
A Arqueologia
As origens raramente são belas, porque os pensamentos não ascendem a um sujeito fundador da verdade ou a uma cumplicidade primeira com a fresca realidade do mundo: devem-se a acontecimentos do acaso —daí o «princípio de singularidade da história do pensamento 126». O poder, a luta de classes, o monoteísmo, o Bem, o liberalismo, o socialismo, todas as grandes idéias em que acreditamos ou acreditámos são produtos do nosso passado; existem, são reais, no sentido em que algumas delas se impuseram entre nós como merecedoras de crédito e obediência; mas nem por isso são fundadas na verdade. O nosso autor junta-se ao nominalismo espontâneo dos historiadores 12' ou de Max Weber. Façamos tábua rasa do conceito. Foucault tem em mente a palavra de Nietzsche, «todos os conceitos devieram»; propõe-se, pois, «contornar tanto quanto possível os universais antropológicos para os interrogar na sua constituição histórica128», vasculhar nos arquivos da humanidade para aí encontrar as origens complicadas e humildes das nossas elevadas convicções. Por detrás do termo genealogia, pedido por empréstimo a Nietzsche, foi isso que os seus livros fizeram: o Nascimento da Prisão de um fazendo eco da Genealogia da Moral do outro. Se os conceitos devieram, as realidades também elas devieram; provêm do mesmo caos humano. Não derivam, assim, de uma origem, tendo-se antes formado por epigénese, através de adições e modificações e não segundo uma pré-formação; não possuem crescimento natural como as plantas, não desenvolvem o que teria pré-existido num germe, tendo-se constituído ao longo do tempo em graus imprevisíveis, bifur cações, acidentes, encontros com outras séries de acasos, rumo a um desenlace não menos imprevisto129. A causalidade histórica está sem 126 Ver o precioso comentário que François Gros faz sobre este tema na edição de U H e r m é n e u tiq u e d u s u je t. C outs a u C o llè g e d e F rance, 1 9 8 1 - 1 9 8 2 , Hautes Etudes-Gallimard-Seuil, 2001, pp. 23-24, n. 32. 127 DE, IV, p. 34. 128 DE, IV, p. 634. 129 M. Foucault, S écu rité, te n ito ir e , p o p u la tio n , p. 244: em vez de «exibir a fonte única» de uma realidade humana, é preciso ver «a multiplicidade de processos extraordinariamente diver sos» que foram reunidos por «fenómenos de coagulaçao, de apoio, de reforço recíproco».
59
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
primeiro motor 13013(a economia não é a causa suprema que comandaria tudo o resto; a sociedade também não); tudo age sobre tudo, tudo reage contra tudo. Consequência destas descontinuidades, as questões que colocamos à realidade diferem tanto, de uma época para outra, quanto as respostas que lhes damos. A perguntas diferentes respondem discursos diferen tes; apreendemos cada vez um real que não é o mesmo; o objecto do conhecimento não permanece aquilo que é através dos discursos sucessi vos IM. Para citar Rorty, estaria Aristóteles enganado quando distinguía na natureza duas espécies de movimentos, um natural (o dos astros, por exemplo) e o outro violento (o lançamento de um dardo)? «Terá Newton respondido correctamente às perguntas a que Aristóteles respondera de través? Ou colocar-se-iam ambos perguntas diferentes?132» Da mesma maneira, é ridículo e pouco filosófico sorrir das ilusões amorosas dos apaixonados, porque o objecto amado, visto pelos olhos do amor, não é o mesmo quando visto por olhos indiferentes. De maneira que «o modo de objectivação difere consoante o tipo de saber que tratamos» 133. Estarei errado por alegar aqui Wittgenstein? Foucault e ele têm em comum acreditarem unicamente em singulari dades, de recusar a verdade como adaequatio mentis et rei e de estarem persuadidos de que algo em nós (o «discurso» ou, segundo Wittgenstein, a linguagem) pensa mais fundo no nosso lugar do que nós próprios. Para Wittgenstein, a vida mantém-se através de jogos de linguagem dos quais é prisioneira; pensamos através de palavras, códigos de conduta (relações sociais, políticas, magia, atitude perante as artes, etc.) 134. Cada jogo de linguagem tem a sua «verdade», isto é, releva de uma norma que permite distinguir o que é admitido ou não dizer dela; cada época vive sobre as suas idéias recebidas (mais vale dizer sobre as suas frases recebidas) e a nossa não é excepção 135.
130 DE, IV, pp. 277 e 283: nunca há fenómenos fundamentais, primazia de um factor sobre outro, existem apenas relações recíprocas e desfasamentos perpétuos entre elas. 131 Naissance de Ia clinique, p. 139. 132 R. Rorty, Philosophj and the Mirror oj Nature, p. 266. 133 DE, IV, p. 632. 134 Cf. DE, II, p. 539. 135 Um exemplo bastará, revelador de que todas as frases recebidas em qualquer época se equivalem: «Houve homens a julgar que um rei poderia fazer chover; hoje julga-se que a rádio é um meio de aproximação entre os povos» (Wittgenstein, De la certitude,
IV. A ARQUEOLOGIA
Uma mesma coisa pode ser visada por diversos jogos onde surge como diferente; há diversos modos de objectivação possíveis. A árvore de que fala um mito grego que conta como Apolo metamorfoseou Dafne em loureiro não é a mesma que um loureiro de um botânico e esse também não é o mesmo loureiro de que os horticultores gregos falavam e culti vavam. O narrador do mito de Dafne não estava sequer consciente de que a sua linguagem era diferente da de um agricultor e que o loureiro do mito não era um loureiro igual aos o utros136. Em 1984, no ano da sua morte, Foucault, para se diferenciar de Wittgenstein, definia a sua obra como um estudo daquilo a que chamava, não jogos de linguagem, mas jogos de verdade l37. No entanto, para ele como para Wittgenstein, o loureiro, objecto do conhecimento, e o tema, mitológico ou agrícola, não são os mesmos «conforme o conhecimento em questão tenha a forma da exegese de um texto sagrado ou de uma observação de historia natural1381 ». 9 3 Apesar do desejo de sermos «objectivos», toda a mudança de saber, por muita vontade que se tenha de fazer as coisas bem feitas, acarreta a modificação do seu objecto, faz-se à custa de um novo discurso do seu objecto H9. O leitor lembra-se, Laennec viu um corpo humano diferente daquele em que os seus predecessores viam um engrimanço de signos. Para criar a gramática comparada do indo-europeu ou das línguas romanas, não bastou constatar que o grego meter, o latim mater, o alemão mutter e o indo-iraniano matar eram muito parecidos: foi necessário dar importancia escrito pouco antes da Segunda Guerra mundial; Gallimard, Col. Tel, 1987, p. 132). Wittgenstein troça aqui de Sir James Frazer e das suas especulações sobre os reis fazedores de chuva e sobre o fundamento mágico do seu poder. Para qué ir buscar a mentalidade primitiva, o pensamento mítico, etc.? Os primitivos pensam como nós, ou melhor, não pensamos melhor do que eles. 136 Do mesmo modo, a «pedra-doença» extraída por um medicine man austra liano do corpo de um doente só tem o nome em comum com uma pedra do caminho. Igualmente, ouvir vozes sobrenaturais não será a mesma coisa que ouvir vozes reais: no primeiro caso, é óbvio que só o destinatário as ouve, as outras pessoas presentes não as ouvem (Wittgenstein, Fiches, Gallimard, 1971, n. 717). 137 DE, IV, p. 632, cf. pp. 634, 709, 713, 718. «Jogo» no sentido do inglês game: «jogo de regra do jogo», donde «procedimento», «normas de produção». Sobre as relações entre jogos de poder e jogos de verdade (relações que são variáveis, contingentes e sintéticas, não analíticas: não se deve dizer «o saber, é poder»), cf. DE, IV, pp. 676 e 724-726. 138 DE, IV, p. 632. 139 DE, I, p. 711. L’archéologie du Savoir, p. 166.
61
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
à matéria das palavras, às suas vogais e consoantes. Foi preciso admitir que as palavras não se reduziam ao seu sentido, à função de serem espelhos: a sua matéria sonora era mais do que um detalhe, mais do que um grão espesso na fotografia verbal das coisas. Daí em diante uma ciência consistiu em encontrar quais as leis que haviam transformado os sons de uma mesma palavra sánscrita nos de uma palavra grega cujo sentido podia ser diferente, ou em precisar através de que etapas o latim aqua pudera ter-se tornado água. Melhor ainda, descobrira-se no mesmo lance que no meio do caos universal um certo aspecto das palavras —os seus fonemas —apresentava constantes e a possibilidade de formular leis; efectivamente, «as séries discursivas e des contínuas têm cada uma, dentro de certos limites, a sua regularidade. 14°» A física fizera uma descoberta análoga com Galileu e Newton. Tornaram-se pueris as etimologias avançadas no Crátilo com uma soberba despreocupação140141. O nascimento da gramática comparada não consistiu apenas num m elhor conhecim ento do seu objecto, implicou também que, no fundo, já não se estivesse a falar da mesma coisa, tendo «a parte da coisa considerada pertinente» mudado 142. Como o mesmo núcleo objectivo tem sido considerado, de cada vez, parcial e diferentemente, nunca completamente nem na sua nudez, o seu conhecimento tem por carácter a raridade, no sentido latino do termo: encontra-se furado, disseminado, nunca vê aquilo que podcria ver. «O meu problema», escreve Foucault, «poderia enunciar-se assim: como é possível que em determinada época isto pudesse ter sido dito e nunca o ter sido? 143». O que em dada época, num dado domínio, podia ser pensado, dito e visto é raro, é um ilhéu informe no meio de um vazio infinito. O homem não pode ter acesso a toda a verdade, que não existe em parte nenhuma. Não temos o poder de receber a palavra de um qualquer
140 L’Ordre du discours, p. 61. 141 Enquanto o material sonoro não foi tido em conta, a etimologia consistiu em aproximar palavras segundo o seu significado, à custa de trocadilhos, como faz o Crátilo-, ou em dizer qual a palavra francesa que sucedeu a uma palavra latina para significar a mesma coisa, sem justificar a passagem fonética. Voltaire, diz-se, glosava nestes termos os etimologistas do seu tempo: cheral veio do latim equus, porque o e transformou-se em che e quus tornou-se ral. 142 DE, IV, p. 632. 143 DE, I, p. 787.
IV. A ARQUEOLOGIA
imenso Discurso definitivo, total, que se dispusesse a ser escutado 1441456 e que esperaria o seu momento no vazio que nos rodeia — tal como o discurso dos excluídos, de acordo com a opinião caridosa de Michel de Certeau, em Maio de 1968; o vazio à nossa volta não está povoado daquilo que teríamos rejeitado l4\ Não encontraríamos nele um natural expulso que quisesse voltar a galope; não existe qualquer trabalho de parto hegeliano do negado, do negativo, que aos poucos pudesse conduzir à verdade total e ao fim da história. Posto noutros termos, não existe dialéctica, diálogo guerreiro perpétuo entre as idéias recebidas e as idéias excluídas, não há um regresso do recalcado l4é. No imenso vazio, o nosso pequeno pensamento aparece rarefeito, tem uma forma muito vulgar, lacunas surpreendentes, não preenche harmoniosamente uma circularidade ideal e muitos outros pensamentos diferentes seriam tão concebíveis quanto ele, cuja necessidade não se impõe mais do que a deles.
144
U O rd r e d u d is c o u rs,
p. 54.
145 Como primeiramente pensou Foucault; ver o prefácio da primeira edição da Plon, 1961, p. III: «Esses gestos obscuros através dos quais uma cultura rejeita algo que para ela será o Exterior.» Foi por isso que Foucault suprimiu esse prefácio da reedição do seu livro na Gallimard. Se o vazio não fosse vazio, se os seres e as coisas rejeitadas viessem bater à porta, existiría um Todo original e uma destinaçâo ideal, a totalidade. Nada disso: não há negativo, tudo é positivo, nada está em falta, a França não tem de crescer para finalmente preencher fronteiras naturais. H is t o ii e d e la f o l i e ,
146 Há precisamente dois séculos que a dialéctica hegeliana tem sido o grande meio, num mundo do qual a ideia de Deus se afasta, de conciliar apesar de tudo a esperança de um mundo melhor com a constatação que nos nossos dias a Verdade e o Bem não reinam: estes, apesar de excluídos e negados, não deixarão de fazer pressão e, no esforço e na dor, acabarão por irromper no nosso mundo para um h a p p y e n d . De acordo com uma frase famosa de Hegel em 1807, a ideia de Deus «cai até à base na insipidez quando lhe faltam a seriedade, o sofrimento, a paciência e o trabalho do negativo» (p h a n o m e n o lo g ie , Leipzig, 1949, p. 20; P h é n o m é n o lo g ie d e 1’e s p r it, trad. Hyppolite, Aubier, 1949, vol. I, p. 18).
Universalismo, universais, epigénese: os prim ordios do cristianismo Em suma, a verdade nunca cairá do céu. Por outro lado, lembramo-nos de que é preciso desconfiar dos universais antropológicos, dos palavrões como individualismo ou até universalismo. Vem-me à ideia um exem plo: os primordios do cristianismo —sobre os quais me será permitido demorar-me, já que, no decurso desta exposição, encontraremos outros problemas de método. É sabido que esta religião, originaria do judaismo - que era a religião exclusiva do único Povo eleito —, se tornou univer sal, abrindo as suas fileiras às imensas multidões pagãs que a cercavam. Convencionou-se ver nela uma das grandes etapas da história universal, um avanço geral do Espírito. Abertura ao universal, mas em que sentido? Esta palavra pode desig nar tantas coisas... No caso em presença, significa que a religião cristã é a única verdadeira e que deve ser pregada a todos os homens, para a sua salvação, porque todos têm uma alma imortal. E por isso que, nos Estados Unidos, antes de 1865, os proprietários de escravos baptizavam os seus pretos chegados de África: o seu estreito universalismo da alma não era o dos direitos humanos. Também não pensavam que a espécie humana era uma só e que os negros eram homens como eles, donos dos seus corpos, e que possuíam capacidades mentais virtualmente iguais às dos brancos, sendo a diferença unicamente baseada nos hábitos culturais e sociais. Posto isto, não se poderia esperar pelo menos que através de uma abertura estreitamente religiosa tivesse entrado neste mundo, com Cristo, uma grande ideia? Não, não foi uma intrusão do Espírito, um Ereignis, um Acontecimento no qual Heidegger (que era pouco evangélico) não pensou; foi uma reacção humana, vinda de baixo, imánente à nossa con dição quotidiana. Os primeiros cristãos tornaram-se universalistas num sentido estreito do termo e sem tê-lo deliberadamente desejado. De onde vem então o proselitismo cristão? De onde vem o facto da Boa Nova ter sido pregada ao mundo inteiro? Jesus da Nazaré não foi, porém, mais do que um profeta judeu e ignoramos o que ele ter ia pensado do cristianismo, que só se formou após a sua morte. O profeta Jesus não foi herói de si próprio (ele falava em nome de seu Pai celestial); mas, fascinados pelo seu carisma, os seus discípulos e pregadores, entre os anos 40 e 100, edificaram uma religião da qual ele seria o herói.
65
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
Cada um fê-lo pelo seu lado; o cristianismo foi a criação colectiva de todos eles. A prova está em que cada discípulo exaltava Cristo à sua maneira: era Jesus um Messias? Primeiro nado de todas as criaturas? Incriado? Divino desde sempre ou tornado Filho de Deus pela sua Res surreição (São Paulo ensinava ambas as doutrinas)? No Quarto evangelho, Jesus era a encarnação de uma abstracção personificada e divinizada, o Verbo eterno de Deus, um ser divino, logo, «um» deus, ao lado de Deus em pessoa. Ainda por volta de 140, para os numerosos leitores de Hermas, Jesus era o Espírito Santo revestido de um corpo humano. Todos estavam de acordo num ponto: Cristo, que se apresentara aos apóstolos como o profeta do Fim dos Tempos, tinha recebido de seu Pai um papel cósmico e regressaria brevemente às nuvens para julgar os vivos e os mortos. Ora, no seu desgosto, os apóstolos ampliaram até às estrelas a relação desigual, mas mútua, de amor apaixonado que os havia unido a esse ser cósmico. Pensou-se também que, na cruz, ele «dera a vida para resgatar m uitosl47»; o seu lamentável fim ganhava então algum sentido. O cristianismo será assim uma religião que não se parece com mais nenhuma e que não entra numa tipologia. Classificá-lo entre as «religiões de salvação» é pouco instrutivo; como a inventividade literária, a inven tividade religiosa é capaz de criações únicas. O golpe de gênio foi essa invenção de um homem-Deus, de um homem como nós, real, datado, um guru, um Doutor, que era também a divindade, a verdadeira, e não uma qualquer figura mitológica. O cristianismo torna-se então um comovente romance metafísico de amor onde a divindade e a humanidade se apaixonam uma pela outra, sendo o nó da intriga o sacrifício voluntário de um ser celestial para resgatar aqueles que acreditaram nele (mais tarde, falar-se-á de resgatar todos os homens). Este ser será incessantemente majorado; Jesus acaba por
147 Foi uma Palavra isolada (logiori) atribuída a Jesus que Marcos, X, 45, seguido de Mateus, XX, 28, integrou num contexto com o qual não tem relação. Deve compreender-se que Jesus morreu como vítima propiciatoria ou expiatória e que assim arrancou a Satanás aqueles que nele acreditaram? Que com a sua morte terá dado a Satanás uma caução para libertar os seus discípulos? Será preciso esperar pelo século seguinte para que Cristo resgate já não «muitos homens» mas a humanidade inteira. O papel exacto do Redentor só dará azo a reflexão teológica depois do Ano Mil (as especulações teológicas dos pri meiros séculos recaem antes de mais sobres as relações entre a humanidade e a divindade em Jesus, que é, em primeira instância, Doutor e Pastor). A figura do crucificado não aparece nas artes figuradas antes dos anos 400.
V. UNIVERSALISMO, UNIVERSAIS, EP1GÉNESE: OS PRIMORDIOS DO CRISTIANISMO
ser tão deus quanto o próprio Deus, sem ser esse Deus em pessoa. No decorrer dos anos 150-250, numerar-se-á a Trindade, o Deus único em três Pessoas divinas, onde Cristo poderá encontrar o seu lugar. Ora, graças a um outro golpe de gênio, o próprio Jesus da Nazaré, dirigindo-se, todavia, apenas aos judeus, pregara-lhes, não a observância do sabat e dos outros mandamentos da sua Lei, mas uma ética da interioridade, uma moral da maneira de pensar (quando se cobiça secretamente a mulher do próximo comete-se logo adultério no próprio coração); uma ética assim podia ser a de qualquer homem. Contra o espírito de casta dos padres e dos escribas, ancorados na observância da Lei judia, era proposta uma moral própria das pessoas simples. O que parece ser uma moral para todos os homens. Porém, não era essa a intenção de Jesus, que destinava o seu ensinamento unicamente às gentes do seu povo; a sua linguagem elevada parece-nos universalista porque se colocava acima do legalismo judeu 148. Mas quando Jesus falava numa língua menos elevada voltava a ser o profeta judeu que era. «Fui unicamente enviado aos cordeiros perdidos da casa de Israel», dizia*2
148 Mesma pluralidade de modos (de «níveis») da verdade no que concerne a vida futura. Jesus enviava os seus doze apóstolos unicamente em direcção a Israel. Em contrapar tida, «veio para dar a vida a troco da de muitos» (Mateus, XX, 28; Marcos, X, 45) e esses «muitos» devem incluir pagãos, Gentios, gentes das Nações; eles, ou dentre eles os Justos (segundo os termos da justiça de antes da Aliança, no tempo em que os povos ainda não estavam divididos), terão acesso à salvação aquando do Banquete final no Reino dos céus (cf. John P. Meier, Jesu s, a M a r g in a l J e w : r e t h in k i n g th e H is to r ic a l je s ú s , 2001; trad. Degorce Ehlinger e Lucas, U n c e r ta in J u i f , J e su s . L es d o n n é e s d e V h is to ir e , ed. Le C erf, 2005; aqui vol. 2, p. 264). Universalismo, seguramente, mas qual, ou antes quais? O deus no qual Jesus pensa quando envia os Doze unicamente na direcção de Israel é o Deus do Sinai, o deus da Aliança com o povo de Israel. O envio dos Doze passa-se h ic e t n u n c e diz respeito ao Deus ciumento do Sinai. Em comparação, o Reino celestial ocorrerá numa temporalidade que não é a nossa, que é sobrenatural, comparável àquela em que os deuses do paganismo ainda tinham filhos. E, sob a sua comum identidade, os dois deuses dessas duas tempora lidades não são os mesmos. Aquele pelo qual os Doze são enviados em missão para Israel é o deus do Israel actual, h ic e t n u n c , o Deus ciumento da Aliança. Em compensação, o deus do Reino sobrenatural será o Deus cósmico, aquele que, outrora, m ¡lio te m p o re , fez o céu e a terra e não distinguía entre os (futuros) povos, tendo fabricado o homem, isto é, todos os homens. Ou seja, temos aqui a mesma distinção modal que aparece entre o loureiro de Dafne e o loureiro dos camponeses, segundo Wittgenstein. Sobre a distinção implícita entre estas duas modalidades do deus venerado em Israel, o criador de tudo e o deus ciumento e unicamente de Israel, permito-me remeter para o meu livro, Q u a n d o o nosso m u n d o se to r n o u c r is tã o , onde evoco este dualismo bem conhecido.
67
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
ele, e «não está certo tirar o pão às crianças (de Israel) e deitá-lo aos cães 149150», a pagãos, Foi, no entanto, a mensagem elevada, a mais popular e a mais nova, a dos evangelhos sinópticos que, depois da sua morte, os discípulos de Jesus pregaram aos seus compatriotas judeus. Esta mensagem podia tornar rica e preciosa a mais humilde existência, através de uma elevação da temperatura da alm ali0. Esses pregadores eram apaixonados pelo seu Senhor e por uma mensagem que, de forma vaga, sentiam ser também obra deles. Alguns estavam satisfeitos por possuir a verdadeira fé e por partilhá-la com um pequeno grupo de fiéis, enquanto outros, mais ambi ciosos, tinham vontade de «vendê-la» amplamente. Era tentador dar a conhecer por toda a parte o Deus que herdara de Israel o privilégio de ser o único verdadeiro e cujo ensinamento, apesar de exclusivamente destinado aos circuncidados, era suficientemente espiritual para ser recebido por todos os homens. Se houvesse pagãos que, atraídos por esta religião superior, pedis sem o baptismo, ser-lhes-ia recusado? São Pedro foi o primeiro a ceder à tentação: baptizou um não-circunciso, o centurião Cornélio. Foi um beliscão nos princípios: o zelo devoto, se for ambicioso e impulsivo, nem sempre se revela escrupuloso. Pode também ser condescendente: o Deus dos Judeus cristãos, que valia mais do que todos os outros deuses, era dado a um pagão como uma lição 151152e uma esmola ’’2. Dever-se-á considerar o proselitismo como uma inclinação natural e como um universal antropológico? Não, é uma questão de temperamento e de circunstância; na alma de cada discípulo travou-se um combate inconsciente entre a ambição, a preguiça e o apego à Lei do seu povo; ora foi isto, ora foi aquilo que levou a melhor. Porque em pano de fundo da consciência e das suas razões elevadas, há pulsões em acção. 149 Evangelho segundo Mateus, XV, 24-26. Para tudo o que se segue, cf. John P. Meier, op. cit., vol. 2 e 3 passim-, por ex., vol. 3, pp. 123, 164-165, 190, 553. 150 Nietzsche, (Euvres philosophiques completes, vol. XIII, op. cit., p. 197. 151 Desde há oito séculos, os profetas e os salmos ensinavam que um dia viria em que os outros povos rumariam a Jerusalém para se inclinarem diante do deus de Israel ao qual os outros deuses, nos céus, reconheciam a superioridade. 152 A Jesus que lhe diz que não irá dar a cães pagãos o pão das crianças de Israel, a Cananeia responde: «os cães gostam de comer as migalhas que caem da mesa dos donos» (Mateus, XV, 27). Não consta que este episódio seja autentico e que provenha do Jesus histórico (John P. Meier, op. cit., vol. 3, p. 374); devia justificar a abertura da Igreja aos pagãos.
68
V. UNIVERSALISMO, UNIVERSAIS, EPIGÉNESE: OS PRIMORDIOS DO CRISTIANISMO
Nem toda a gente é prosélita; entre os pagaos, alguns convencidos, filósofos ou padres de deuses estrangeiros, não aspiram ao monopólio para as suas lojas e contentam-se tranquilamente em «esperar pelo cliente». Não menos frequente é não ter loja e considerar a doutrina da qual se tem a chave como o privilegio de uma elite. Ora, salvo excepção, os filósofos só poderiam nascer na classe social dos notáveis letrados. Consoante os casos, alguns indivíduos experimentam um sentimento de aumento de si próprios se fizerem parte da rara elite dos sábios que não são «insensatos», «medíocres» (phauloi, diziam os pensadores gregos). Outros, pelo contrário, de origens modestas ou membros de uma Igreja organizada e autoritária, só experimentam esse sentimento se tiverem convencido ou constrangido outrem, para seu bem, a pensar como eles e se reencontrarem a sua imagem por toda a parte. O universalismo não foi introduzido no cristianismo por uma intru são da Razão ou do Espírito; foi um deslize em alguns temperamentos ambiciosos e não elitistas, uma deriva que, defacto, se tornou costume. O caso de São Paulo é diferente: apóstolo auto-proclamado, quando não tinha ouvido nem conhecido Jesus, este agitador ousou erigir em dou trina, de jure, a ultrapassagem do judaísmo1’3. Mas Paulo foi apenas um missionário entre tantos outros que fizeram conversões em províncias orientais onde ele nunca esteve. O baptismo de Cornélio por Pedro provocara um relativo escândalo, mas alguns discípulos descobriram o que não tinham premeditado: este feliz contratempo abria-lhes o «mercado» potencial do Império pagão, enquanto os seus compatriotas os massacravam, os expulsavam da comuni dade judia 1;>4. O próprio Jesus predissera que iria haver o maior número de convidados no próximo Banquete c e l e s t i a l A l g u n s discípulos viram nisso um convite para escapar ao isolamento a que o judaísmo estava votado entre as nações; o seu proselitismo, em vez de ir unicamente ao1534 153 Sobre o pormenor complicado da doutrina de São Paulo, garantida sobre o fundo e flutuante nas suas formulações e audacias, ver: E. P. Sanders, Paul, Oxford University Press, 1991, pp. 84-100 e 122-128. 154 Joseph Ratzinger em Ojfenbarung und Uberlieferung, Quaestiones disputatae, Friburgo-Basileia-Viena, 1965; trad., Révélation et tradition, Desclée de Brouwer, 1972, p. 64: «Foi apenas uma série de obstáculos históricos —entre os quais deve sobretudo mencionar-se a execução de Estêvão, a de Tiago, tal como, por fim e de modo decisivo, a prisão de Pedro e a sua fuga —, que levou a criar a Igreja em vez do Reino [celestial].» 155 Mateus, XXII, I-10; Lucas, XIV, 15-24 (onde se pode ler o famoso compelle intrare).
69
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
encontro de Israel, como Jesus lhes ordenara que fizessem, orientou-se para o imenso «mercado» dos pagãos, das «nações», e fê-los entrar em Igrejas organizadas, disciplinadas e hierarquizadas. O que, graças a eles, se tinha encarnado não era um puro ideal mas sim um projecto concreto, com os seus mobiles interessados e o seu dispositivo; projecto tão sublime quanto se quiser mas preciso e estreito no seu discurso. Em três décadas, a admissão de não-judeus no judaísmo cristianizado resultou num divórcio entre seitas étnicas de judeo-cristãos circuncisos e essa religião nova que se dirigia a todos. A metafísica platónica e também superstições pagãs (ex-voto, preces pela chuva...) ou novas (relíquias) con tribuiríam para a formação da doutrina cristã e das suas práticas devotas. As origens raramente são belas; as realidades e as verdades constroem-se aos poucos, por epigénese, e não estão pré-formadas num germe. Falar das raízes cristãs da Europa não é um erro, é sem sentido: nada é pré-formado na história. A Europa tem, quando muito, um patrimônio cristão; vive numa casa antiga onde se podem ver pendurados nas paredes velhos quadros religiosos. Não falemos mais de raízes, mas antes de patrimônio. O Ocidente actual possui um vasto e precioso patrimônio arquitectónico, artístico, literário, musical e até fraseológico que é amplamente cristão, mas a sua moral e os seus valores já nada têm de cristão. Se alguma vez teve raízes cristãs, foram há muito tempo arrancadas. O ascetismo? Saiu-nos do espírito. O amor ao próximo? Os escravos cristãos de outrora tinham o dever de amar o seu dono e de lhe obedecer, e o dono cristão amava os seus escravos, eis tudo. Em 1870 ainda a modernidade era alheia ou contrária ao catolicismo. Nos nossos dias, a minoria dos crentes tem a mesma moral prática que a maioria não-crente (nem todas as famílias cristãs têm seis filhos). Ora os valores actuáis (como a liberdade sexual, a igualdade entre os sexos) são alheios ao cristianismo, ora foram-lhe impostos pela lei (como a liberdade de consciência), tendo-se este adap tado (á laicidade, à democracia) e adoptado valores modernos (como a redução das desigualdades sociais): a partir da encíclica de 1891 sobre a condição operária, é o cristianismo que tem raízes modernas... E a história bi-milenar dos dogmas, da devoção e da exegese dos Livros sagrados mostra que o cristianismo nunca parou, por epigénese, de se construir e adaptar.
Apesar de Heidegger, o homem é um animal inteligente Tenho a cabeça a andar à roda, há que parar por um instante. Pois, afinal, onde estamos? Haverá na nossa caminhada alguma verdade, algo sólido a que nos possamos agarrar? Ficamos felizes na montanha ao sentir os grampos morderem o gelo nas encostas onde a camada de neve desliza. Claro que sim, há uma frieza sólida num Montaigne ou num Hume (bem podem enviar às urtigas as hesitações do jovem Veyne e dos seus Gregos crentes nos m ito s'36): a metafísica é inacessível à inteligência humana, as ideia gerais são falsas porque vazias; em contrapartida, acedemos ao saber empírico de coisas singulares. Porque só existem e só podem existir, aos nossos olhos, singularidades, que são parcialmente repetíveis, donde, entre outras, as ciências exactas mas também as práticas e saberes da nossa vida quotidiana e da nossa mútua compreensão; assim aprendemos que o sol se levanta novamente todos os dias. Foucault e Hume, o mesmo combate ',7... Jean-Marie Schaeffer disse-no-lo, o conhecimento é uma interacção entre duas realidades espácio-temporais, o indivíduo e o seu meio; é um processo empírico e não um espelho celestial. As coisas em si, libertas dos nossos «discursos» que as recortam e modelam à sua imagem, só seriam 1567 156 Estou a referir-me ao meu livro de juventude, já velhinho, Les Grecs ont-ils cm à leurs mythes?, ed. Seuil, col., Des Travaux, 1983, onde muitas árvores são verdadeiras e a floresta é uma mera elucubração. Partilho agora sobre este livro a opinião de Bernard Williams, Vérité et véracité, trad. Lelaidier, Gallimard, 2006, p. 354, n. 25, que fala de «um relativismo extravagante a respeito da verdade, senão pior» e acrescenta, caridosa mente: «as muitas idéias interessantes deste livro são independentes desta retórica». Está visto cm que género de embaraço pode, à falta de cultura filosófica, cair um historiador quando encontra no seu ofício problemas como o mito, que têm uma dimensão filosófica inevitável; quero com isto dizer que são problemas muito abstractos. De facto, misturei duas questões, a da pluralidade das «modalidades de crença» (como Raymond Aron me ensinara a dizer) e a da verdade no tempo (sobre a qual Foucault me dissera duas pala vras), e elucubrei sobre esta última. Se tivesse lido Wittgenstein ou melhor compreendido Foucault, ter-me-ia saído melhor. 157 Efectivamente, Hume não teria acreditado (retroactivamente...), em nome do seu empirismo, na faculdade kantiana de formar julgamentos sintéticos a priori; Foucault também não acreditava e via nisso aquilo a que chamava de «dobrete empírico-transcendental» (aí voltaremos).
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
acessíveis a uma inteligência mais do que humana. Para dar a palavra a Alexandre de Koyré, o homem é capaz de conceber a ideia da verdade, mas é provavelmente incapaz de atingir a própria Verdade. O homem não é o pastor do Ser de que fala Heidegger, a humanidade é uma espécie animal entre outras. Assim falava Nietzsche: Num qualquer recanto dos confins deste cosmos que se espalha em esplendores de inumeráveis sistemas solares, era uma vez um astro sobre o qual animais astuciosos inventaram o conhecimento... Houve eternidades durante as quais a inteligência não era e, quando novamente tornar a ser, não se terá passado nada, porque essa inte ligência não tem missão mais ampla, missão que ultrapasse a vida hum ana.158 Os cépticos sempre acreditaram na alma dos bichos, e Foucault fazia o elogio da inteligência do gato que visitava os apartamentos do número 285 da rua de Vaugirard: «ele compreende tudo!». Tendo deixado de estar no centro do mundo, com Copérnico, tornada espécie viva com D arw in 159, a humanidade perde, com Nietzsche, qualquer vocação e justificação meta-empírica; o seu romance filosófico de educação já não tem conclusão por que esperar (tranquilizemo-nos, não vai parar de fervilhar por tão pouco: o espírito nunca é destruído e a história da humanidade não depende da história da filosofia). Nada está mais afastado de Foucault, escrevera-me, de resto, Jean-Marie Schaeffer, do que «o pathos messiânico de Heidegger» ou do que a convicção que ele tinha de uma «historialidade destinai» do homem, do Dasein. Historialidade, porque —se compreendo um pouco esse pensador difícil e, por outro lado, obscuro (não é a mesma coisa) —Heidegger está imbuído, tanto quanto pode estar um Foucault, do sentimento do devir e das descontinuidades, pelo menos desde a sua famosa «viragem» de pensa mento. Os seus admiradores concedem, com um sorriso, que a linguagem de Heidegger é por vezes mística; Dominique Janicaud acrescenta que a
158 Nietzsche, Philosophenbuch, começo de Vérité et mensonge d’un point de vue extra-moral. 159 Sobre a humanidade enquanto espécie biológica e para uma crítica da oposição natureza/ cultura, ver J.-M. Schaeffer, La Fin de 1’exception humaine, Gallimard, 2007. Este é, a meu ver, um livro pessoal, aprofundado, reflectido e muito informado em filosofia e etologia.
VI. APESAR DE HEIDEGGER, O HOMEM É UM ANIMAL INTELIGENTE
sua historialidade resulta numa atitude de profeta 16Ue na espera solitária, por parte de uma elite, do «deus que aí vem ,61». Em boa hora! Tendo enfiado o meu colete à prova de bala, sugiro que esse pensador original quis voltar a dar a uma época esquecida de toda e qualquer transcendência, um equivalente, suficientemente refi nado para ser aceitável, do que outrora se chamava Espírito. Heidegger propõe a uma época céptica uma Verdade que se desvenda sem deixar de raciocinar: não é necessária uma dialéctica para a alcançar, chega-se lá «dando um salto 160l62163». A uma época descrente, ele devolve um Absoluto que não é o Ser da metafísica nem o Deus das religiões; um Absoluto que «só se mostra escondendo-se», que imediatamente se venda depois de se ter desvendado, presente-ausente bastante para poder continuar credível. A uma época em que história e verdade se opõem, ele propõe um Absoluto cujas aparições repentinas e inopinadas fazem «época» e são «historiais» na sua desconti nu idade. O heideggerianismo é uma imensa paisagem histórica iluminada por relâmpagos que são outros tantos «acontecimentos», Ereignisse'b\ 160 D. Janicaud, VOmbre de cette pensée: Heidegger et Ia question politique, Jérôme Millón, 1990, p. 152. Sobre a tempestuosa questão do nazismo e da impenitência final de Heidegger, ver Emmanuel Faye, Heidegger: Vintroduction du nazisme dans Ia philosophie, Albin Michel, 2005. 161 D. Janicaud, VOmbre de cette pensée, op. cit., pp. 97-108. Crítica mais interessante ainda, uma vez que Janicaud, que conheci um pouco e que era um nobre caracter, era ele próprio um nostálgico do Espírito e admirava profundamente Heidegger. 162 Heidegger, Identité et différence, em Questions /, trad. Préau, p. 266; Temps et être, em Questions IV, trad. Fédier. A página 343 de Les Mots et les Choses visa Heidegger, sem nomeá-lo, a propósito do «dobrete» histórico-original. 163 Acontecimentos tais como o pensamento grego ou a filosofia germânica, que acarretavam consigo toda uma cultura, porque a filosofia é a chave (ou a metonimia...) de toda a época histórica. Antes de 1945, se bem que despreocupado com o homem quotidiano e histórico, Heidegger estendia à raça ariana ou ao povo alemão esse privilégio de entrever a verdade graças ao seu Dasein. Depois de 1945, Heidegger não tornará evidentemente a falar nisso e permanecerá numa espécie de apolitismo e de espera, sem uma palavra de penitência sobre o seu passado nazi. O Acontecimento, que «modifica a essência da verdade» (escreve Heidegger no seu belo livro sobre Nietzsche), ocorre «subitamente e de improviso», jàh und unversehens, dizem os Holzwege, p. 311. Este Mistério «envia-nos» através das épocas a sua visibilidade invisível nas suas sucessivas aparições que foram a Physis grega, o Logos, as Idéias platónicas, o Um neo-platónico, a Substância espinosiana, a Vontade segundo Schopenhauer e, em último lugar, a vontade de potência nietzschiana. Heidegger soube dizer o que esse mistério realmente é: uma entidade tão diferente de
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
A história é o reino de uma mesma origem que se inicia de múltiplas m aneiras164. A cada um desses relâmpagos, que, aliás, se furtam à nossa visão, torna-se-nos presente uma época nova, com as suas comunidades humanas, as suas obras, a sua cultura (a nossa é técnica), as suas crenças religiosas. Estes acontecimentos, na sua dispersão, na sua diversidade, têm todos uma origem comum e essa origem é um Absoluto, que nos impõe, não a verdade propriamente dita, mas a sua irrecusável Presença, se nos soubermos abrir a ela em vez de raciocinar científicamente sobre os pormenores. Heidegger tentou escapar ao Uno platónico e dar à his tória o seu lugar, que é imenso, mas sem cair no relativismo: todos esses relâmpagos de invisíveis verdades têm a mesma origem. Será suficiente para escapar ao relativismo? Será um golpe de gênio filosófico ou uma solução apenas verbal? Aí voltaremos. O erro fundamental do homem consiste, demasiadas vezes, em esquecer a Presença numa espécie de inautêntico divertimento pascaliano. O homem heideggeriano é, antes de mais, um ser que possui uma vida interior: lançado a este mundo, conhece o Cuidado, é ser-para-a-morte, é autêntico ou não, mas não tem corpo, ignora o desejo, a necessidade, o trabalho, a deliberação política. Este homem ou, pelo menos, o seu Dasein, reduz-se àquilo que no homem se pode tornar uma espécie de homo religiosus ou fracassar em vir a sê-lo; ousemos pronunciar o termo: o Dasein é uma alma. Essa alma será autêntica se não esquecer a relação mútua e imediata que tem com o Ser, inauténtica se a esquecer para se dissipar na multiplicidade quotidiana ou cientista dos entes. Esta gnose de alto voo é, pois, uma teologia sem D eus16S, uma teologia negativa da coincidência dos opostos e do Abismo sem fundo, ao mesmo tempo inalcançável e presente nos seus Ereignisse, que são outras tantas teofanias.
tudo que ela mesma é a própria Diferença; de tal maneira que, com ele, chegou ao fim a metafísica, que desconhecia a Diferença e procurava o Ser ou Deus. 164 Segundo uma fórmula de Jean Beaufret, citado por Françoise Dastur na sua luminosa nota sobre Heidegger, na Histoire de la philosophie (vol. III) da Encyclopédie de la Pléiade. 165 O Ser do último Heidegger já nada tem de comum cóm o dos filósofos ou das religiões, é antes como uma pessoa que interpela, que se recusa, que se esquiva e que será «o último deus» para alguns Zukiinftige, alguns «homens por vir». Ver L. Oeing-Hanhoff em Historisches Worterbuch des Philosophie, vol. V, na entrada «Metaphysik», col. 1272; R. Malter, vol. IX, na entrada «Sein, Sciendes», col. 219. O pensamento de Heidegger é um esforço desesperado para continuar por outros meios uma sensibilidade religiosa (e até cristã, porque os diversos paganismos nada oferecem de análogo).
VI. APESAR DE HEIDEGGER, O HOMEM É UM ANIMAL INTELIGENTE
O homem não é uma espécie viva entre outras. O que faz a sua especificidade é que a Verdade pode advir nele; não advém aos animais. Esta Verdade não consiste em dois e dois serem quatro e outras pequenas verdades que temos em mente: não está nele, é o homem que está na verdade. Ela advém-lhe, desvenda-se-lhe, se pelo menos ele renunciar a uma pretensa objectividade. Só esta implantação (pela qual se desvenda ao homem o próprio facto de estar originariamente implantado na Ver dade) faz dele um homem digno desse nome l66167, que sabe que o Ser e o homem se pertencem mutuamente (Zu-einander-gehòren). Idêntica Verdade consiste em saber que se está na Verdade. Não se trata aqui de um julgamento; pelo contrário, os nossos inúmeros julgamentos só podem ser verdadeiros ou falsos graças à abertura originária do homem ao verdadeiro l6/. Isto não se demonstra lógica nem factualmente, é uma Verdade propriamente filosófica, escreve Heidegger: advém através de um acto, o da sua implantação nela 168. Heidegger não é daqueles para quem o horizonte do visível cons titui o limite daquilo de que é permitido falar. Era uma dessas almas que possuem o sentimento de algo elevado, oceânico, azul, para lá do verificável. Este pressentimento explica que Heidegger conte com parti dários tão fervorosos e combativos. Muitos homens, uma maioria prova velmente, possuem em algum grau esse pressentimento de um céu azul para lá do nosso céu. Ninguém é obrigado a acreditar neles, mas seria ridículo condená-los (antes lhes invejaríamos essa riqueza). Ora, com a descristianização, não sabem já como alimentar o seu desejo de céu azul. Se se sentirem tentados a dar-lhe o heideggerianismo como alimento, é bom que saibam que o preço a pagar será elevado: deverão resignar-se a um fatalismo, já não poderão distinguir entre o verdadeiro e o falso nos entes (nem sequer apreciar a boa pintura) e deverão crer no Ser e 166 O homem deve mostrar-se digno da sua situação perante o Ser, ser autêntico, não se perder inautenticamente em vãs curiosidades (Sem und Zeit, p. 170), em metafí sicas, em técnicas e crer que a ciência das coisas, dos entes, é a última palavra de tudo. O Eterno é o meu pastor, diz o Antigo Testamento; de acordo com as próprias palavras de Heidegger, o homem é, pelo contrário, o pastor do Ser, que tem o dever de não o esquecer, de não se distrair com as coisas, na intuição dos simples «entes». 167 Heidegger, Sein und Zeit, p. 226. Sobre a indistinção heideggeriana entre origem e essência, ver mais adiante. 168 Parafraseio aqui as páginas 75-78 do seminário de Heidegger sobre a essência da verdade (Gesamtausgabe, II. Abteilung: Vorlesungen. Band 34: Wom Wesen der Wahrheit, Klostcrmann, 1988).
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
no Acontecimento por um acto de fé —como habitualmente exigem as religiões mais do que as filosofias. Porque o intelecto não intervém na relação do Dasein com o Ser, Heidegger não alega minimamente qualquer intuição intelectual e fala mais de uma vez da «nossa crença», escreveu-me Emmanuel Faye. E se não acreditarmos, seremos inauténticos. Mas por que razão deveriamos nós fazer fé nesse sublime romance metafísico? Nenhuma: o leitor lembra-se, é preciso dar um salto para tal. E, uma vez que Heidegger afirmou o reino do Absoluto, da Origem que se esconde e se revela, tudo o resto, que é a nossa espessa realidade humana, parece não mais existir aos seus olhos. De modo que a sua doutrina implica uma humanidade simplificada, amputada, que é alheia à realidade. Tal parece ser o caso da sua célebre teoria da verdade como desvendamento. Em parte, ele tem razão, é certo: fenomenologicamente falando, «vemos» previamente as coisas, «acreditamos nelas» imediatamente, sem precisar de julgá-las verdadeiras, de alinhar um julgamento no traçado da sensação, como diz Merleau-Ponty. E o que se desvenda diante de nós são as próprias coisas que «vemos»: não consultamos a fotografia, que seria a representação delas. O que permite a Heidegger falar de presença mais do que de evidência. Mas a presença não é tudo: é a mera condição de possibilidade da verdade, a sua origem; se nada «víssemos», nenhuma realidade seria possível. Mas será que tudo aquilo que «vemos» é por isso verdadeiro? Não basta fiar-se na origem, porque, para citar Koyré lh9, a origem da verdade e a essência da verdade não são a mesma coisa. Ao restringir-se à origem, Heidegger negou-se, se bem compreendo, a pos sibilidade de distinguir a verdade do erro. O que vejo neste momento é uma percepção ou uma alucinação? Presença ou não, toda a realidade deste mundo terreno é passível de um exame crítico, porque a verdade tem uma essência, que é a da correspondência com o seu objecto. Talvez a «simplicidade do olhar e do acolhimento» seja suficiente para tornar vãs todas as ideologias do Século XX, como Heidegger teve a frontalidade de dizer1'", mas, além dessa bela simplicidade, um pouco de exercício crítico ter-lhe-ia sido útil contra a ideologia nazi. Idêntica telescopia da origem e da essência em matéria de arte. Sim, as Sainte-Victoire de Cézanne são ícones da deusa que o pintor de Aix-en-Provence adorava intimamente, mas, sem essa qualidade puramente 16970 169 Alexandre Koyré, «L’évolution de Heidegger», nos seus Études d’histoire de la pensée philosophique, Gallimard, 1971, p. 288. 170 D. Janicaud, La Puissance du rationnel, Gallimard, 1985, p. 281.
76
VI. APESAR DE HEIDEGGER, O HOMEM É UM ANIMAL INTELIGENTE
pictural que é a essência da pintura, não seriam ícones, mas vulgares camadas coloridas. Idêntica telescopia em política, que resulta numa espécie de fatalismo: a origem destinai (a missão histórico-mundial da Alemanha ou então a Gestell) basta para ditar qual a política a seguir, sem que a essência específica do político seja tida em consideração. Mas suponhamos, por exemplo, que essa essência consista em fazer viver os homens em paz entre si? Não estou a dizer que esta é a única boa resposta, mas que é preciso responder qualquer coisa e não deter-se numa presu mida origem destinai. Se o Gestell, a técnica, é o nosso destino actual, pelo Envio do Ereigniss, teremos de resignar-nos e esperar com fatalismo que isto termine com o Envio seguinte? Não, porque, como escreveu Dominique Janicaud (que, no mesmo lance, deixou de acreditar na gnose heideggeriana da sua juventude) 17117234, o pacote não chega de uma só vez, mas sim por etapas, ao longo do tempo vivido, o que dá aos homens a possibilidade de reagir politicamente; e os homens têm, precisamente, uma inteligência crítica, uma razão, ou, pelo menos, um entendimento, e podem tentar uma parada, se acharem por bem 1/2. Diferentemente de Heidegger, do qual lera alguns textos ' ' 5(veremos brevemente a prova disso), Foucault é pouco místico e também não gosta de falar do homem em geral. Fê-lo, porém, uma vez; «a vida», escreve ele «resultou, com o homem, num vívente que nunca está completamente no seu lugar, um vívente eternamente votado ao erro e ao engano 1/+»; é Foucault quem sublinha. Enganar-se, no sentido em que o discurso só dá a conhecer o empírico, o fenomenal, e que, porém, o homem faz fé em idéias gerais ou meta-empíricas; errar, porque tudo aquilo que os homens pensam e fazem, as suas sociedades, as suas culturas, é arbitrário c muda de uma época para a outra, porque nada de transcendente ou sequer transcendental guia o devir imprevisível da humanidade. A frase de Foucault, que acabo de citar, é quase textualmente decal cada de Fleideggcr, modificando-lhe, porém, o sentido de uma ponta à outra. Num livro célebre sobre a Essência da verdade, o pensador alemão fala da errância (Irre) humana, para significar que o homem (digamo-lo
171 Idem., L’Ombre de cette pensée, op. cit., pp. 102-134. Simón Critchley, em Dominique Janicaud, 1’intelligence du partage. Textos reunidos por Françoise Dastur, Belin, 2006, p. 168. 172 D. Janicaud, La Puissance du rationnel, passim. 173 DE, IV, p. 703. 174 DE, IV, p. 774. É Foucault quem sublinha.
77
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
em termos demasiado simples) passa quase sempre ao lado do Absoluto e segue o caminho banal das verdades quotidianas ou científicas '7S; «toda a época da história universal é uma época de crrância 16», porque esquece que a essência autêntica do homem (o famoso Dasein) deveria consistir em abrir-se ao Mistério do Todo. No entanto, em lugar de vivermos sempre dispersos no nosso conhecimento das coisas, ocorre-nos por vezes pensar no próprio Jacto de conhecermos, esse privilégio único que as plantas e os animais não têm. Isto faz do homem um ser vivo diferente de todos os outros. Se pensar nisso, se escutar o Dasein que há em si, descobrirá que todo o comércio com as coisas —com as idéias, com as percepções só é possível para um ser tal como ele, que transcende a natureza e que está em contacto com o Ser, com o Absoluto. Tal deveria ser a base de qualquer filosofia. Para um empirista como Foucault, este Ser é um fantasma verbal, suscitado, imagino eu, por uma pretensa intuição intelectual à qual se faz dizer aquilo que se pretende. O facto de conhecermos coisas não passa de uma realidade deste mundo terreno e toda a verdade é passível de ser criticada. Se o homem se engana constantemente, é porque nunca acede à verdade em si mesma e que só a recebe atolada em «discursos» que nunca são os mesmos de época para época. Regressemos, pois, ao nosso herói e à sua concepção do homem. Mas o que acabara ele de dizer, ao falar da nossa errância perpétua e dos nossos erros! Acabava de enunciar uma ideia geral e até mesmo uma tese de antropologia filosófica! Para aonde tinha ido o seu cepticismo? Pois bem, este último acabava de atingir o seu limite: a frase que lemos diz uma verdade verdadeira que é o ponto fulcral da condição humana; existe uma verdade última e é essa, por muito decepcionante que seja. Vimo-lo acima, um balanço ruinoso não se arruina a si mesmo, a dúvida não se arrasta a si própria; de acordo, tudo é relativo, mas a afirmação de que tudo é relativo não é relativa. Por detrás desta frase, em torno desta frase, podemos imaginar por toda a parte, antes de nós, longe de nós, depois de nós num tempo por vir, mil variações humanas possíveis, mil «verdades» passadas, futuras ou exóticas, verdades de um tempo limitado e de um dado lugar. Nenhuma dessas «verdades» será mais verdadeira do que as nossas, mas o que acabo de escrever aqui é verdadeiro. Desses homens de outrora ou de amanhã,1756
175 Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit, parte 7: «La non-vérité comme errance». 176 Idem, Holzwege, p. 310.
78
■
VI. APESAR DE HEIDEGGER, O HOMEM É UM ANIMAL INTELIGENTE
talvez nada saibamos, mas sabemos pelo menos que são homens como nós, prisioneiros de um discurso e de um dispositivo, e livres pela metade; são nossos irmãos. Ter curiosidade por outrem, não o julgar, não é isto humanismo? Preferirieis mais dogmatismo edificante? Foucault acaba, pois, de escrever uma frase de antropologia geral. Esta antropologia é empírica, porque não provém da reflexão de um qualquer sujeito transcendental que deteria as chaves do mundo, e porque Foucault a escreveu depois de ter meditado sobre factos históricos. E é também uma antropologia filosófica, porque essa frase eleva-nos acima de nós próprios, faz-nos sair do nosso tempo e do nosso lugar, das nossas pequenas verdades e, numa palavra, da nossa redoma: olhamos, abaixo de nós e como se eles já não fossem nós, para os bichos que giram na sua redoma. Conclusão: o homem não é um anjo caído que se lembra do céu, nem um Pastor do Ser segundo Heidegger, mas um animal errático do qual nada mais há que saber do que a sua história, que é uma perpétua positividade, sem o recurso exterior de uma negatividade que, intrusão após intrusão, acabaria por conduzi-lo à totalidade. Se, consequentemente, não existe para nós nenhuma verdade ver dadeira que não seja empírica e singular, é porque um acontecimento físico ou mental é o produto de encontros entre séries causais diferentes, encontros que são apenas um outro nome para o acaso, como cada um sabe. Assim, o devir existe, não se repete e muda incessantemente de direcção da maneira mais inesperada. Além dos erros de facto que lhe acontece cometer, a humanidade crê em idéias gerais que se fazem obedecer (o verdadeiro impõe-se às nossas condutas) e que, em cada época, passam socialmente por verdadeiras. A maior parte das vezes, quando se fala da verdade, são estas verdades as designadas. «Por verdade, não quero dizer o conjunto das coisas verda deiras que está por descobrir ou por fazer aceitar, mas o conjunto das regras segundo as quais se deslinda o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de p o d e r1 7», escreve Foucault. E Wittgenstein teria aprovado esta outra frase da Arqueologia do Saber: os discursos, as regras, as normas «impõem-se segundo uma espécie de anonimato uniforme a todos os indivíduos que empreendem falar num campo discursivo»18.178
177 DE, III, p. 159. 178 L’Archéologie du Savoir, pp. 83-84.
79
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
Estamos rodeados, comprimidos, cercados por verdades. «Porque, afinal, a verdade existe!», ouve-se protestar, e a maior parte das vezes essa não é uma verdade. Sim, eu sei, uma sociedade não pode existir sem convenções, sem preconceitos, mas é este o lugar certo para relembrá-lo? Retórica edificante e filosofia são duas coisas distintas, ora, a filosofia não gosta de se apressar, quer saber a quantas anda e levar o seu tempo para dizer onde está o preconceito. Há, portanto, de um lado, singularidades que comparámos ousadamente aos modos espinosistas e, do outro, os conceitos ou discursos demasiado amplos e enganadores de que as revestimos: «a» religião, «a» democracia. Pode resumir-se o pensamento de Foucault opondo aos modos de Espinosa 1 9 as mónadas de Leibnizlf'°. As mónadas não são singularidades, são, cada uma delas, expressões imperfeitas ou parciais da verdadeira realidade. Consideremos os espíritos objectivos como móna das: diremos então que as diferentes religiões, as diferentes formas de democracia ou as morais dos diferentes povos são outras tantas mónadas, outras expressões imperfeitas e parciais da «verdadeira» democracia, da «verdadeira» religião, e que elas devem ser explicadas a partir destas últimas. Esta é mesmo, desde Platão, a nossa maneira habitual de pensar. O múltiplo é uma expressão imperfeita do Uno. Há sempre margem, dir-se-á, entre uma forma, uma essência (a democracia, por exemplo) e a realidade correspondente. Nada é perfeito neste mundo terreno; pronunciemos aqui a palavra encarnação ou então atribuamos à matéria, como faziam os gregos, esse desfasamento entre a forma e a realidade, e fechemos os olhos sobre isto. Ora, todo o espírito do foucaultismo consiste em não fechá-los, em fazer esvanecer as essências e vislumbrar, no seu lugar, pequenas realidades «discursivas». Aceitaremos nós o desfasamento entre o ideal e o real ou retiraremos antes daí consequências políticas? E assunto que só diz respeito a cada um de nós. Diremos, à direita, que, sendo tudo o reflexo imperfeito da sua Ideia, mais vale deixar as coisas como estão. Em contrapartida, para Foucault, nada é reflexo de um ideal; toda a política não é mais do que o produto de uma concatenação de causas; não possui totalidade exterior à sua disposição, não exprime nada mais elevado que ela própria, apesar de afogarmos a sua singularidade em nobres generalidades. Mas, desse17980 179 Em Espinosa, escreve Leibniz, «tudo, fora Deus [isto é, fora da própria Natu reza], é passageiro e desvanece-se em simples acidentes e modificações». 180 G. Deleuze, Spinoza et le problème de 1’expression, op. cit., p. 306.
80
VI. APESAR DE HEIDEGGER, O HOMEM É UM ANIMAL INTELIGENTE
modo, Foucault torna impossível o velho pensamento «de esquerda» que aspira à verdadeira democracia, ao fim da história. Torna impossível o intelectual generalista, Sartre ou Bourdieu, que toma posição em vir tude de um ideal da sociedade ou de um sentido da história. Foucault considera-se um intelectual especializado, que se indigna com certas singularidades que conheceu ao acaso da sua existência ou no exercício do seu ofício 181. É o intelectual de um novo tipo, o intelectual específico de que se falava por volta de 1980. Não entremos em pânico com a ideia de não nos podermos esconder debaixo da saia das verdades adequadas. A nossa faculdade de conhecer vale largamente a dos animais, que podem, como nós, enganar-se, mas que se desenvencilham a maioria das vezes nos detalhes das suas existências. Não vivemos no mundo dos gnósticos da política, um mundo alucinado e manipulado por ideologias, conhecemos pequenas verdades, singularidades empíricas, agimos sobre as séries de fenómenos e podemos estudá-las e manipulá-las. Alcançamos resultados práticos e até científicos, tanto nas ciências exactas quanto nas ciências humanas. Podemos reconhecer os nossos erros e a nossa errância. Nem por isso essa errância terminará, o que não impede de viver, porque se vive na actualidade.
181 Ver, por exemplo, DE, III, pp. 154, 268, 594, 528-531: «Zola é o caso típico. Não escreveu Germinal enquanto mineiro.» Foucault informava-se e, para isso, acontecia-lhe participar num coloquio, não de professores de filosofia, mas de enfermeiras.
Ciencias físicas e humanas: o program a de Foucault Sobram alguns grandes problemas. Se tudo é duvidoso, ou quase, excepto a realidade quotidiana (diriam os cépticos gregos 182), como é possível que as ciencias exactas obtenham resultados indubitáveis? O que valem, pelo seu lado, as ciencias das singularidades humanas, his toria, sociologia, economia? Serão possíveis l83? E o próprio Foucault, grande céptico que era, duvidaria ele da veracidade e do futuro da sua própria empresa? Creio bem que não, mas falemos antes das ciências humanas. Entre estas ciências e as ciências exactas, o conflito, flagrante ou larvar, é centenário: em relação às ciências «duras», qual é o estatuto epistemológico e o grau de rigor das ciências humanas? Um grau muito baixo, pretendem alguns «duros» —“Nós também encontraremos leis da história e da sociedade, ou, pelo menos, construiremos modelos”, respondiam-lhes algumas das suas vítimas. Terão de encontrá-las, como os economistas, senão estão perdidos”, avisava-os Gilíes-Gastón Granger. Teve lugar, em 1991, uma intervenção do sociólogo e filósofo Jean-Claude Passeron que o simples historiador que eu sou julga decisiva para a epistemología tanto do conhecimento sociológico como do histórico. Melhor que o próprio Max Weber com os seus ideais-tipo, Passeron, ao deslocar a posição demasiado cientista do problema, mostrou onde encontrar uma cientificidade para as ciências humanas: não na imitação das ciências exactas, no estabelecimento de leis ou de modelos, sem falar de sistemas hipotético-dedutivos, mas na elaboração daquilo a que poderiamos chamar semi-nomes próprios. Ora, esta teoria epistemológica e metodológica dos semi-nomes próprios está em concordância com aquilo que supus ser o princípio
182 Ver a defesa e ilustração do «cepticismo empírico» por Victor Brochard, Les Sceptiques grecs, 1887; reimprimido ed. Le Livre de poche, 2002, pp. 344-391. Filho e neto de médicos, Foucault tem um antepassado longínquo num médico grego da seita filosófica céptica, Sextus Empiricus, que julgava inacessíveis as coisas escondidas, mas nem por isso era menos empírico e médico da seita «metódica». 183 DE, IV, p. 577. A ideia não está muito desenvolvida, os problemas das ciências humanas interessam pouco a Foucault.
83
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
ontológico do foucaultismo ou princípio de singularidade. Supõe tácita mente que, em qualquer época, o universo histórico é apenas um caos de singularidades, oriundas do caos precedente. Um pouco ultrapassado por estes altos pensamentos, vou, à falta de melhor, expô-los em linguagem corrente e tentar discretamente fazer melhor em nota 184. Consideremos uma pessoa singular —o actual presidente da nossa república ou então a vossa própria irmã —, essa pessoa é singular, digo eu, por isso é designada por um nome próprio. O significado desse nome próprio só é compreendido se eu conhecer essa pessoa, se tiver lido ou ouvido declarações sobre ela, se a tiver visto. Senão, será para mim uma desconhecida, não saberei de quem estão a falar-me e o seu nome «não me dirá nada». Loira, nariz mediano, testa mediana, maçãs do rosto salien tes... Descrevê-la mais demoradamente? Não teria fim (todos os logicistas modernos vo-lo dirão); valeria mais uma fotografia tipo passe.
184 Em Le Raisonnement sociologique: un espace non poppérien de 1’argumentation, nova edição revista e aumentada, Albin Michcl, 2006, pp. 361-384, J.-Cl. Passeron substitui a noção de indexação (cm Pcirce) à noção weberiana de estilização. Da sua análise resulta que todo o conceito sociológico é um «semi-nome próprio» e que todo o raciocínio histórico está pejado de deícticos. O ideal-tipo não é, pois, o instrumento aproximativo de uma ciência mole, uma forma fraca da indução, como é geralmente comentado: é um semi nóme próprio cujo sentido (Sinn) é definido por uma descrição sempre parcial que enumera algumas propriedades genéricas cuja denotação (Bedeutung) é feita por «indexa ção» numa série aberta de referentes, que são outros tantos casos singulares (a sociedade medieval no Ocidente, o Japão antes dos Tokugawa e até o Império Bizantino que era feudal, segundo Evelyne Patlagean) e que possuem a comum analogia de apresentar estas propriedades genéricas. A definição limita-sc a uma série de traços (a feudalidade reúne dois traços: posse do solo, governo dos homens), mas a descrição completa dos referentes será indefinida. Por isso, à falta de uma descrição simultaneamente finita e completa, uma dejinição histórica não pode ser separada dos seus referentes: não podem ser esquecidos, porque só eles permitem saber do que se trata, do que estamos a falar e, logo, como se raciocina sobre eles. Esta não é uma escolha de metodologia, é um fundamento sobre uma epistemología do conhecimento histórico e da historicidade: a lista dos casos indexados é aberta porque só existem singularidades, e a definição é parcial porque se limita às analogias que apre sentam os casos considerados. Este é um rigor bem diferente do das ciências físicas, mas é ainda assim um rigor: não se pode dizer não importa o quê. Um tal ideal-tipo opõe-se à quimera cientista que seria um modelo trans-histórico, não indexado em casos sortidos de coordenadas espácio-temporais. A linguagem do historiador não utiliza universais, o seu raciocínio também não; até os advérbios («sempre») e as provas de causalidade permanecem indexados numa série finita de casos: o «sempre» c o «porque» dos casos de feodalidade não têm o mesmo alcance que os das sociedades regulamentares.
84
VII. CIÊNCIAS FÍSICAS E HUMANAS: O PROGRAMA DE FOUCAULT
Acontece o mesmo com alguns nomes comuns dos quais os livros de história estão cheios e que designam acontecimentos ou processos: cesar opapismo, Modalidade, religião, formação da unidade nacional. Sao, na realidade, uma espccie de nomes próprios, porque as mais longas paráfrases seriam incapazes de dar a compreender exactamente o que é uma religião a um ser que nunca tivesse encontrado nenhuma; seria pre ciso, para que ele pudesse compreender, dar-lhe a «ver» uma. Os nomes próprios funcionam num regime de «descrição indefinida»: poderiamos enumerar os traços dos seus referentes, mas essa descrição nunca estaria concluída, completa. Igualmente, nas ciências sociais, os conceitos que recusem remeter para as singularidades individuais ou colectivas «não podem encerrar-se numa descrição definida nem expandir-se na uni versalidade das leis»18'. Logo, quando se quer colocar feodalidade ou cesaropapismo num livro, deixa-se-lhe um pouco do seu solo histórico, tal como se deixa um pouco de terra às raízes quando se quer colocar uma planta num vaso. Efectivamente, como os indivíduos, os acontecimentos são «o que nunca veremos duas vezes», diz o poeta; como os acidentes de automó vel, são sempre devidos a encontros entre séries causais. Diferentemente das plantas e dos animais, também não são situáveis numa tipologia ou classificação em géneros e espécies; não são passíveis de identificação sem confusão possível graças a um número limitado de marcas de identidade, enquanto que os corpos químicos, chumbo, urânio 235 ou cloreto de sódio, são-no pela sua fórmula química ou pelo seu peso atómico na tabela periódica dos elementos. Os historiadores escrevem a história por outras vias; os semi-nomes próprios que utilizam podem ter, também, o seu rigor científico, um rigor próprio ao domínio humano. Alcançam esse rigor identitário ao «densificar» a descrição do semi-nome próprio à maneira de um romancista realista ou de um repórter, ao multiplicar os pormenores probantes, os traços pertinentes que precisam o retrato do referente e permitem distingui-lo de acontecimentos que tenham com ele uma parecença enganadora185186. 185 J.-Cl. Passeron, l.e Raisonnement sociologique, op, cit., p. 349. 186 Ocorre-me, neste instante, um exemplo: Mireille Corbier acaba de descrever, melhor do que fizera Mommsen no seu Droit public romain, o que foi a monarquia imperial romana, essa monarquia muito particular que era de uma certa maneira hereditária e de outra não. Para isso, a autora multiplicou as referências identitárias e os pequenos deta lhes probantes. Ver M. Corbier, «Parente et pouvoir à Rome», em Rome et 1’Etat moderne européen (J.-Ph. Genet ed), École française de Rome, 2007, pp. 173-192.
85
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
Graças a essa densificação, a esse entrecruzamento de pequenos factos verdadeiros, evita-se cair em sumários artefactos essencialistas tais como a raça, o gênio nacional, etc. Quanto às ciências ditas exactas, nasceram da descoberta, mais afor tunada do que caída do céu l8/, de uma boa chave para a abertura dos fenómenos físicos; estes, diferentemente do devir humano, apresentam regularidades repetitivas. O que permite alcançar aplicações técnicas, previsões que se verificam exactas e verificações experimentais: quantas coisas na natureza são numeráveis e calculáveis! Destes sucessos espectacu lares, destas verdades experimentalmente demonstráveis e empiricamente aplicáveis, não concluamos pela existência de uma harmonia preestabelecida entre o nosso espírito e a natureza: os físicos constroem modelos que permitem prever e gerir a realidade, sem que possamos saber se a representam adequadamente. Eu sei pôr a funcionar com sucesso um automóvel ao utilizar correctamente os comandos, mas confesso ignorar o que se passa debaixo da capota fechado do carro. Efectivamente, as ciências físicas esbarram na finitude da nossa facul dade de conhecer187188, na nossa incapacidade de atingir o Ser sem passar por pressupostos. Têm por base pressupostos teóricos, «paradigmas» (que, de resto, são sempre passíveis de revisão ou refutação). Através do termo discurso, Foucault denotava, na acção e no pensamento humanos, aquilo que, pelo seu lado, os actuais historiadores e teóricos da ciência denotam na evolução das ciências físicas através do termo «paradigma»
187 Alexandre Koyré mostrou que as especulações filosóficas mais famosas contri buíram, no Renascimento, para as origens da física experimental e quantificada. 188 Uma vez que há finitude, uma pergunta divertida coloca-se: a dos limites da nossa inteligência, e se essa inteligência nos permite perceber os seus próprios limites. O meu gato, que se desenvencilha muito bem na sua existência, arranha por ciúme o livro que me absorve, compreende que não penso nele o suficiente, mas não desconfia do que possa ser um livro. Colin McGinn colocou-se a questão dos limites num raciocínio rigoroso em Problems in Philosophj: tbe Limits of lnquiry, Blackwell, 1993, part. p. 154, onde supõe com graça que, sem dúvida, «talentosos marcianos detêm de modo natural as soluções para os nossos problemas». Kant em pessoa levantou a questão em plena Crítica da Razão Pura, secções 3 e 8 da Estética Transcendental, como assinala Thierry Marchaisse: «É-nos impossível julgar as intuições que podem ter outros seres pensantes e saber se estão ligadas às mesmas condições [de espaço e de tempo] que limitam as nossas intuições e que são para nós universalmente válidas [...]. Só conhecemos o nosso modo porque as apreendemos, modo que nos é particular, mas que pode bem não ser necessário para todos os seres, apesar de sê-lo para todos o homens».
VII. CIÊNCIAS FÍSICAS E HUMANAS: O PROGRAMA DE FOUCAULT
em Thomas S. Kuhn, «programas de investigação» em Imre Lakatos189, «estilos de pensamento» (ou de raciocínio) científico em Alistair C. Crombie e Ian Hacking. O que Hacking escreve sobre os «estilos de raciocínio» poderia ser igualmente dito dos «discursos» foucaultianos: cada um destes ou daqueles introduz uma nova espécie de objecto; os critérios de existência dos objectos do novo tipo são dados pelo próprio estilo de raciocínio. Um estilo de raciocínio não é responsável diante de qualquer outra instância: é ele mesmo, com efeito, quem define os critérios de verdade no seu dom ínio.190 Aquilo que garantiu a estas ciências os seus numerosos sucessos, os quais precisaram da continuação ininterrupta do seu projecto, foi e é um dispositivo foucaultiano. Consideremos a física. Esta ciência apresenta a continuidade de uma empresa que, ao longo do tempo e à custa de incessantes correcções, obteve resultados provisórios, mas indubitáveis. E como o sucesso de uma firma que permanece fiel a boas receitas que lhe garantem um sucesso duradouro; não está fundada numa vocação caída do céu, mas sim numa tradição experimentada. Não concluamos por isso na existência de uma harmonia entre o nosso espírito e a natureza: os físicos constroem modelos coerentes que não pretendem representar adequadamente a realidade, mas permitem prever e gerir efeitos. Husserl queria resolver este mistério enraizando a ciência num Eu transcendental191 que tivesse a vocação da verdade que, por sua vez, seria a condição de possibilidade de um empreendimento tão obstinado. Se, em vez disso, raciocinarmos de acordo com o espírito de Foucault, retorquiremos que esse Eu não passa de um «dobrete empírico-transcendental» que As Palavras e as Coisas contesta: Husserl faz de uma perpetuação insti tucional, universitária, totalmente empírica, uma sacralização de origem metafísica. Numa palavra, um dispositivo. A física não foi fundada como um projecto saído do Eu transcendental, como vocação da humanidade, mas como algo de teor sociológico, como o estabelecimento de uma 189 I. Lakatus, Histoire et méthodologie des Sciences, trad. Malamoud e Spitz, PUF, 1994. 190 I. Hacking expondo a sua própria doutrina no Annuaire du College de France, 2003, pp. 544-546. É igualmente Hacking quem cita os épistèmai de Foucault como um quadro de pensamento do mesmo tipo. 191 DE, II, p. 165 ou I, p. 675.
FOUCALILT, O PENSAMENTO, A PESSOA
tradição institucionalizada, fundada sobre o sucesso, que poderia ter sido interrompida e não o foi. Acrescentemos que as verdades da ciência física são perpetuamente provisórias; a Newton sucede Einstein. Com elas não se pode fazer a economia de uma relação com a verdade e da oposição do verdadeiro e do falso, mas também não se pode considerar essas verdades como definitivamente adquiridas141. O erro não é radicalmente diferente da verdade, não passa de uma hipótese refutada pela experimentação; não existe evidência racional. Contudo, se Newton não viu toda a realidade, nem por isso estava «fora da verdade». Ora, esse estado provisório da verdade, bem como a perpetuação da física como empresa bem fundada, irão permitir-nos responder a uma outra questão que colocáramos: como poderá Foucault ter acreditado, porque acreditava, na verdade e na duração da sua própria doutrina, da qual atribuía todo o mérito a Nietzsche (a certos aspectos escolhidos de Nietzsche, lido na rua d ’Ulm, em 1952-1953, e também de Heidegger l9})? Toda a sua obra supõe a finitude humana no tempo, ora, a relação do homem com o tempo parece insuperável. O homem é simultaneamente objecto de conhecimento e sujeito que conhece, o conhe cimento histórico está prisioneiro da sua própria história que é, sobretudo, a das suas variações e errâncias. Como pode um historiador julgar ter-se fixado numa rocha que o tempo em breve não leve consigo 1923194195? Assim, Foucault parece não estar seguro de si mesmo; «sei perfeitamente que me encontro inserido num contexto», escreve ,4\ Porém, não se pode duvidar, julgo, da grande esperança silenciosa que o empolgava por vezes. O Nietzsche que ele escolhera para si era, independentemente do que dele tenha dito Heidegger, o autor do grande corte com a tradição metafísica e platónica. E pôde parecer, por volta de 1960, que o mundo pós-moderno, por seu lado, se iria desprender da ilusão de um fundamento transcendente, de uma luz mais do que humana que lhe permitia ver a verdade adequada em todas as coisas e lhe indicava a sua verdadeira via. A «morte de Deus», entendida como fim da era de todas as transcendências,
192 DE, IV, p. 769. 193 Ibid., p. 703. 194 Les Mots et les Choses, p. 382, cf. p. 383: «Ao descobrir a lei do tempo como limite externo das ciências humanas, a História mostra que tudo o que está a ser pensado continuará a sê-lo por um pensamento que ainda não viu o dia.» 195 DE, I, p. 611.
88
VII. CIÊNCIAS FÍSICAS E HUMANAS: O PROGRAMA DE FOUCAULT
iria perm itir à humanidade desfazer-se das suas ilusões e ver-se tal como era, na sua nudez e solidão. A modéstia e a prudência proíbem a um pensador revelar as suas esperanças; no entanto, um belo dia, Foucault sugeriu, imprudentemente, que na nossa época a humanidade começava a aprender que podia viver sem mitos, sem religião e sem filosofia196, sem verdades gerais sobre si própria. Tal era a revolução nietzschiana, da qual Foucault estimava ser um continuador. A seus olhos, a crítica genealógica tal como ele a praticava tinha, como a física galilaica, a cientificidade de um empreendimento empírico 197198bem fundado. Acontecera-lhe enganar-se, assinalava erros teóricos que tinha cometido em História da Loucura e em Nascimento da Clínica mas, enfim, a sua empresa estava «dentro da verdade |9S». O tom de voz resoluto, o de uma profissão de fé, com o qual me dizia um dia que a hermenêutica nietzschiana tinha operado um corte decisivo na história do conhecimento, mostrava bem que ele acreditava nisso, que tinha esperança. Não esquecera que nenhum homem seria capaz de ter um juízo prévio sobre o seu eventual destino póstumo: ele concebia uma possi bilidade mais empírica. Quando dizia e repetia que os seus livros não eram mais do que «caixas de ferramentas», não era para modestamente convir que não continham tesouros; Foucault entendia por estas palavras que desejava ter alunos (diria ele, num estilo universitário), e convidava os seus leitores de boa vontade a utilizarem os seus métodos e a darem continuidade à sua empresa, tal como um físico tem alunos que são seus continuadores.
Relativismo, historicismo, spenglerismo? Não! A questão do tempo e da verdade continua, todavia, por resolver. Para Foucault, ao que parece, a resposta assentar em duas convicções: a história genealógica não é uma filosofia, estuda fenómenos empíricos 199 e não pretende descobrir qualquer verdade total. Tem «relações com as 196 Ibid., p. 620. 197 L’Archéologie du Savoir, p. 160 e seguintes. 198 Para esta expressão, ver L’Ordre du discours, p. 16. 199 UArchéologie du Savoir, p. 160 e seguintes.
89
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
ciências, com análises de tipo científico ou com teorias que respondem a critérios de rigor 200»; alcança conclusões de pormenor, sobre o amor na antiguidade, sobre a loucura ou a prisão —que são ao mesmo tempo cientificamente estabelecidas e perpetuamente provisórias e passíveis de revisão, como acontece com as descobertas das outras ciências. Num dia longínquo ou próximo far-se-á melhor do que Foucault, ficaremos surpreendidos com a sua miopia; basta-lhe, porém, ter contribuído para dissipar as quatro ilusões que, a seus olhos, são a adequação, o universal, o racional e o transcendental. O foucaultismo não está empoleirado em cima de uma rocha, não domina a totalidade porque não constitui a priori o seu objecto. Desco nhece qual seria o seu próprio lugar num mapa da totalidade e o que poderia existir para lá dos lim ites201. Mas será absolutamente necessá rio filosofar? «Uma actividade científica pode perfeitamente deixar essa questão de lado nos limites no interior dos quais se exerce. 202» Pode objectar-se «que é inevitável ser-se filósofo no sentido em que é inevitável pensar a totalidade 203». Mas será inevitável? Pensar a totalidade é apenas uma das formas daquilo a que se chama filosofia, sendo-o sobretudo com Hegel 204205; Husserl terá sido o último totalizador2(b. Pode até conceber-se que uma filosofia se restrinja «ao relativizar-se» 206; pergunto-me então o que poderia ser essa filosofia ao mesmo tempo relativa e rigo rosa, senão uma ciência em progresso perpetuamente provisório ou, no mínimo, o programa dessa ciência (suponho que A Arqueologia do Saber, se não tivesse sido escrita demasiado cedo e demasiado à pressa, seria esse programa). O historiador genealogista não deveria esconder de si próprio que a sua exegese do discurso do amor antigo irá provavelmente um dia ser substituída por uma melhor. Nem por isso fica paralisado (esta é uma faceta reveladora da psicologia do sábio: um físico que acaba de descobrir uma lei não se gaba da sua descoberta ser definitiva, não pensa e nem sequer se preocupa com isso). Se a arqueologia genealógica for uma ciência, 200 lbidem, p. 269. 201 DE, IV, p. 575. 202 DE, I, p. 611. 203 lbidem. 204 lbidem, p. 611-612 205 DE, I, p. 612. 206 lbidem.
VII. CIÊNCIAS FÍSICAS E HUMANAS: O PROGRAMA DE FOUCAULT
uma empresa de sucesso, cada uma das suas conclusões, tomadas uma a uma, possuirá uma verdade, não relativa, mas provisória. A arqueolo gia não ignora que tudo o que é por ela pensado «sê-lo-á ainda por um pensamento que ainda não viu o d ia2u7». Um físico também não pode antecipar o cumprimento da sua ciência; os sábios não se preocupam em reconciliar a finitude com o infinito, mas, como toda a gente, vivem na actualidade sem pensarem demasiado nisso e o resto da humanidade faz como eles. Infelizmente (e Foucault reconhece-o com uma persistência quase obsessiva), a impossibilidade de dominar o pensamento faz com que o pensador mais revolucionário não saiba sair do seu pequeno mundo do discurso; as verdades da genealogia, a arqueologia, são vistas na «pers pectiva 207208209» de um momento. «De onde pretendeis estar a falar, vós que quereis descrever, de tão alto e de tão longe, o discurso dos outros», pergunta-se ao genealogista2u); ele responde humildemente que é a partir do seu próprio discurso. Analisa discursos de ontem a partir de um discurso que é o seu210 e que o limita. Quando se empenha em dar á luz esse «pensamento prévio ao pensamento livre» que é um discurso, está ele próprio a pensar a partir de um «pensamento prévio ao pensa mento, um pensamento anónimo e constrangedor». Ao ganhar algum recuo relativamente a esse espaço de onde falava, o genealogista coloca-se ipso Jacto num outro discurso que desconhece211 «e que recuará á medida que for descoberto212». O mal-estar testemunhado nestas citações é o do pensamento moderno desde há dois séculos. Estará ele mais seguro da sua crença nos direitos do homem do que esteve ao acreditar em Júpiter? Também aqui a nossa atitude é dupla, como perante o loureiro de Dafne: estamos persuadidos de que as nossas convicções são verdadeiras e ficaríamos indignados se viessem pôr em causa a existência da verdade; mas, ao mesmo tempo, não deixamos de sentir um ligeiro mal-estar quando reflectimos naquilo que os homens do futuro poderão pensar acerca das nossas cogitações (do mesmo modo, no tempo da Europa das pátrias, um patriota avisado não 207 Les Mots et les Choses, p. 383. 208 lbidem, p. 384. 209 DE, I, p. 710 210 L’Archéologie du Savoir, p. 267. 211 DE, I, p. 710. 212 lbidem, p. 515.
91
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
podia pensar sem mal-estar no que seriam as suas próprias convicções se tivesse nascido do outro lado dos Pirenéus ou do Reno; por isso, esse mal-estar ficava mergulhado no silêncio). Os costumes e as crenças variam de acordo com o tempo e os luga res, sabemo-lo desde há vinte e cinco séculos mas, escreve Foucault’15, enquanto Deus estava vivo, isso nada tinha de alarmante: verdade aquém Pirenéus, erro para lá dessas montanhas mas, para Pascal, a verdade verdadeira nem por isso deixava de existir, pois era ensinada e garantida por Deus. As variações humanas eram outros tantos erros devidos à fra queza do homem, face á qual Deus erguia a verdade. A viragem trágica consistiu na descoberta das culturas e religiões exóticas no século XIX e no apagamento do Deus infinito; a finitude humana tinha perdido o garante da verdade e ficou só face às suas errâncias; a verdade e o tempo tornaram-se inimigos. Daí Spengler, daí o relativismo segundo o qual cada época tem a sua verdade, daí também a tentativa sublime ou verbal de Heidegger para reencontrar o absoluto apesar do tempo. Pelo menos, diferentemente de Spengler, Foucault não poderia ser e não foi relativista porque, à falta de totalidade e de verdades adequa das, de coisas em si, ele pretendia, apesar de tudo, alcançar uma certa cientificidade e atingir verdades empíricas perpetuamente provisórias. O relativismo —se alguma vez existiu como algo mais que uma couraça a rasgar —era, apesar do nome, uma doutrina que aspirava, ingenuamente, à verdade total. Isto distinguia-o do historicismo213214, para o qual a ver dade importava menos do que a riqueza e a diversidade da Vida, contava 213 Sobre esta «finitude sem infinito», cf. Les Mots et les Choses, pp. 327-329. 214 Cf. Les Mots et les Choses, p. 384. Pode dizer-se, julgo eu, que o historicismo erigia em atitude filosófica a épochè espontânea dos historiadores, a sua neutralidade axiológica, que dá conta das crenças do passado sem as julgar. Por exemplo, G. Simmel, cuja posição é próxima desta. O que lhe interessa é a vida, cuja riqueza e variedade transbordam os conceitos demasiado estreitos (o amor é bem mais do que aquilo a que é reduzido no Banquete), a vida que é demasiado ampla para que se possa ir censurar os gregos de terem acreditado nos seus mitos. Para Simmel, com o seu pensamento tão acolhedor e a sua grande riqueza de pormenores, será a filosofia ainda uma busca da verdade? Ela possui a sua verdade vital, ou antes, a sua riqueza: ela, ou melhor, o filósofo. Simmel saúda, neste tipo humano, uma outra sensibilidade diferente da do sábio empirista, uma outra dimensão humana, o sentido da totalidade. Por isso, escreve: «será ingênuo julgar-se conclusões filosóficas como se julgam os resultados das ciências experimentais». Será pelo menos necessário perguntar-se se uma filosofia é verdadeira ou falsa? De acordo com Simmel, é obrigatório constatar que as diversas doutrinas se contradizem: é porque cada uma delas (ou, pelo menos, as mais completas) encarna um ponto de vista humano
92
VII. CIÊNCIAS FÍSICAS E HUMANAS: O PROGRAMA DE FOUCAULT
menos do que essa «solenidade do devir» de que fala Simmel —para este pensador tão simpático e sugestivo, existia um a priori psicológico, da mesma maneira que, para Foucault, existia um a priori histórico; cada tipo de espírito engendrava uma certa visão do mundo. O relativismo, esse, era muito diferente. Só se atirava aos extre mos quando acreditava encontrar neles a solidez da Verdade: «já que o tempo histórico que passa arruina toda a verdade, tomemos por base essa mesma caducidade e admitamos essa contradição trágica: a Verdade é uma e muitas, cada época sua verdade». E permitido questionar se esta asserção tem algum sentido: engendra paradoxos comparáveis aos da máquina do tempo. O relativismo supõe a verdade verdadeira, já que afirma que ao possuir a sua verdade cada época possuiu a verdade (mas que só era verdadeira para ela) e não somente as crenças. Aspira tanto à verdade total apesar do tempo que está disposto a tudo, até mesmo a fragmentá-la em verdades de época, para a poder conservar, nem que seja aos pedaços, sendo de esperar que cada um desses pedaços forme uma totalidade parcial, se é possível arriscar este oxímoro. A existir um relativismo digno desse nome, é o de Heidegger: segundo ele, as verdades «epocais» que nos envia sucessivamente a O ri gem são todas igualmente verdadeiras, apesar de inconciliáveis: Heidegger inclina-se perante o arbitrário da Origem, que nos aparece, pois, tão inalcançável quanto os seus decretos incompreensíveis. A mesma coisa com Descartes: «as verdades matemáticas, que nomeais eternas, foram estabelecidas a partir de Deus e dele dependem inteiramente ’’». Para Foucault, ao contrário, as idéias gerais que a humanidade adquiriu ao longo dos séculos são todas falsas, porque são inconciliáveis. Retomemos o fio do nosso propósito, que nos conduzirá às idéias de Foucault que mais interessaram aos seus leitores: o saber, o poder, a formação do homem como sujeito e também a liberdade. A ciência, dizíamos nós, mantém-se e permanece sem a ajuda do céu das idéias, que não existe. E porque se elabora, escreve Foucault, sob o constrangimento de uma instituição —a da investigação universitária —e sob a regra de se conformar a um determinado programa de rigor, sob pena de passar por 215 possível, da mesma maneira que a natureza comporta uin grande número de seres vivos diferentes que são igualmente viáveis. 215 Descartes, carta de 15 de Abril de 1630. Santo Agostinho encontrou um pro blema semelhante: a Lei divina mudou, aquela que Deus deu a Moisés admitia a poligamia, enquanto que a nova Lei proíbe-a. A razão reside no facto da Providência ter proporcionado as suas exigências ao nível de educação atingido em cada época pela humanidade.
FOtICAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
não dizer a verdade216. Assenta num dispositivo que, como já sabemos, é feito de regras, de tradições, de ensinamentos, de edifícios especiais, de instituições, de poderes, etc., e que consagra e perpetua a receita da ciência, «as regras de formação dos enunciados que são aceites como científicamente verdadeiras217», o «jogo da verdade» científica, o dos sucessos adquiridos, dos erros rectificáveis e rectificados. Este dispositivo forma, ao mesmo tempo, o objecto «ciência» e os indivíduos que só reconhecerão verdade àquilo que for dito conforme as regras de uma ciência exacta. Esses indivíduos revestem-se daquilo que alguns sociólogos designariam por tipo social, o papel de sábios. Interio rizam esse papel, moldam-se a ele, e tornam-se os sujeitos correlativos ao objecto «ciência». Objectivação e subjectivação «não são independentes uma da outra; é do seu desenvolvimento mútuo e do seu elo recíproco que nascem 218» os «jogos de verdade», que filtram as afirmações repu tadas científicas. Sim, um desenvolvimento com desfasamentos219 entre sujeitos e objectos que «não cessam de se modificar» um em relação ao o u tro 220 — porque acontece que um sujeito possa ser o autor de uma modificação das regras do falar-verdade no interior do dispositivo ou, se preferirmos, junto da comunidade científica. A genealogia da ciência não se reduz à simples história das grandes descobertas ou das teorias científicas221; ela não é mais do que essa gênese recíproca do sujeito da ciência e do objecto do conhecimento 222 de que o dispositivo é a interface. O sábio faz a ciência, e ela retribui-lhe. Uma vez que o tipo social do sábio é de origem empírica, é neces sário que ele seja constituído, produzido pelo dispositivo. Mesmo se a sua liberdade de investigador se opuser um dia a esse dispositivo, esse investigador é o produto do que designaremos uma subjectivação. Porquê ter assim acrescentado ao objecto constituído esta subjectivação com que emparelha? Não para submeter o sujeito humano, o seu pensamento 216 DE, III, p. 158. 217 DE, II, p. 143-144; cf. III, p. 402: «A que regra se é obrigado a obedecer, em dada época, quando se quer ter um discurso científico sobre a vida, sobre a história natural, sobre a economia política?» 218 DE, IV, p. 632. 219 Ibidem, p. 277. 220 Ibidem, p. 634. 221 Ibidem, p. 635. 222 Ibidem, p. 54-55.
94
VII. CIENCIAS FÍSICAS E HUMANAS: O PROGRAMA DE FOUCAULT
e a sua liberdade à tirania do dispositivo mas sim para pôr fim à ficção segundo a qual o sujeito, o eu, seria anterior aos seus papéis —pois não existe sujeito «no estado selvagem», anterior às subjectivações; um tal sujeito não seria original mas sim vazio. Na história, não se encontra em lado nenhum uma forma universal do puro sujeito 223. O dispositivo e o sábio têm poder um sobre o outro e a ciência tem poder sobre a sociedade porque tem a reputação de dizer a verdade; dis positivo, sujeito, poder e verdade estão assim ligados. O poder do saber é particularmente potente nas sociedades ocidentalizadas, mas não nos enganemos: ele não se exerce apenas sobre o complexo militar-industrial ou na comissão da energia atómica! O poder médico não assenta na lei, mas num saber; purga-se, sangra-se porque se sabe e porque o paciente deixa fazer. Depois de a Faculdade se ter pronunciado, há que inclinar-se. Mas o poder não se reduz a saberes especializados e a instituições de poder normativo, à medicina e ao seu ministério da saúde, à psiquiatria, à psicanálise, às ciências humanas 224. Por todo o mundo, aquilo que é considerado verdadeiro num dispositivo tem o poder de se fazer obede cer e forma os sujeitos humanos à obediência; é verdade que o poder do príncipe é legítimo, é verdade que se tem de obedecer ao príncipe, do qual nos tornamos fiéis «súbditos», nos dois sentidos do termo. Todo o poder, toda a autoridade prática ou espiritual, toda a mora lidade se reclama da verdade, supõe-na e é respeitada como fundada sobre ela; «o problema político mais geral é o da verdade». Ora o mestre ou os seus conselheiros inventam uma nova maneira de governar, que imediatamente se torna verdade, o que engendra uma nova partilha do verdadeiro e do falso; ora é uma nova partilha que é inventada, o que pode convencer o mestre a governar de uma nova maneira 225. Retomemos a capella. A verdade existe em dois sentidos. O que dela diz o pensador céptico (e que estamos aqui a ler), designadamente que as verdades gerais não são verdadeiras, é absolutamente verdade; mas, quantitativamente, essa verdade verdadeira representa muito pouca coisa. A imensa maioria das verdades nas diferentes épocas não são absoluta mente verdadeiras, mas nem por isso são menos existentes; elas são «deste mundo». E até se dirá que existem em excesso, porque são «produzidas
223 DE, IV, p. 733; cf. p. 718. 224 Ver o comentário de V. Marchetti e A. Salomoni em M. Foucault, LesAnormaux, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 1999, p. 316. 225 L’Impossible Prison, p. 51; DE, p. 30.
95
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
graças a múltiplos constrangimentos»; tidas assim como verdadeiras, essas verdades dos discursos possuem «os efeitos próprios aos discursos verdadeiros» 226 — porque são imanentes a dispositivos institucionais, costumeiros, didácticos, legais, etc. São bem mais do que ideologias e super-estruturas! Foram elas que suscitaram, justificaram, desenvolveram a economia socialista na URSS e nos países satélites 227. Resumamos em três frases: a imensa maioria das verdades deve-se a «um conjunto de procedimentos regulados para a sua produção, o seu estabelecimento, a sua colocação em circulação e em funcionamento». Estas verdades encontram-se «circularmente ligadas a sistemas de poder que as produzem e apoiam, e a efeitos de poder que elas induzem e que as reconduzem». De tal modo que «a questão política não reside no erro, na ilusão, na consciência alienada ou na ideologia: é a própria verdade. Daí a importância de Nietzsche 228». Acrescentemos que o papel da ver dade é particularmente grande nas sociedade ocidentais, produtoras de um saber científico perpetuamente provisório e de valor universal, que faz parte integrante da história do Ocidente 229. Eis uma pista a seguir, seguramente... Vai notar-se que a poção tem um travo amargo. Se considerar mos que qualquer verdade é boa para se dizer e que é preciso salvar os valores, como fizeram os gansos do Capitólio (o que parte de um bom sentimento), então rompamos imediatamente: não temos mais nada a dizer-nos. E este o antigo debate entre a filosofia (se não for platónica) que quer dizer a verdade, nem que seja à custa da vida e do mundo tal como está; e a retórica, ou seja, a propaganda, que, para melhor con vencer, se apoia em patranhas que as pessoas têm em mente, segundo a definição irónica de Aristóteles. Se preferirmos Aristóteles, ponhamos os olhos em frente aos bura cos, como se diz na minha terra: o que vemos nós quando olhamos para sociedades de outrora ou de outro lugar? Culturas, civilizações inteiras que eram outras tantas verdades maciças sob as quais todos se vergavam. Nós, que temos sobre esse passado a superioridade dos cães vivos sobre os leões mortos, faríamos bem em escarnecer amargamente de tantos pre conceitos. O Sol gira à volta da Terra, a escravatura é natural, o racismo
226 DE, III, p. 158, para tudo o que precede. 227 Ibidem, p. 160 228 Ibidem. 229 DE, IV, p. 30 e III, p. 258.
VII. CIÊNCIAS FÍSICAS E HUMANAS: O PROGRAMA DE FOUCAULT
igualmente, Júpiter é um deus; foram queimadas bruxas23'1 na Europa até 1801. Depois, cansamo-nos do escarnio, que é sempre a mesma coisa: tudo isto existiu de facto, impôs-se aos melhores espíritos, a Descartes, a Leibniz. Para rotular tudo isto de erro ou ilusão seria preciso que nós próprios fossemos capazes de fazer melhor: é certo que tudo assentava em nada, a não ser nos respectivos discurso e dispositivo, mas estaremos nós mais bem servidos? Será mais instrutivo mostrar por que genealogia o nada se tornou a realidade do seu tempo, como o é do nosso. Mas então, o que somos nós próprios, nós os modernos? Quais são os nossos discursos sobre os diversos objectos que compõem a nossa actualidade? Apenas o saberão aqueles que, um dia, nos considerarem diferentes deles: saberão o que terá sido a nossa modernidade — nós próprios não podemos prever «antecipadamente a figura que faremos no futuro». Porém, podemos vislumbrar, senão aquilo que somos, ao menos aquilo que acabámos de deixar de se r230231; alguns preconceitos estão a começar a apagar-se, tal como a homofobia: reconhecemos a arbitrariedade dessa mentalidade (a materialidade desse incorporal). Mas não teremos nós outros preconceitos? Quais? Os nossos sobrinhos-netos saberão, depois do nosso desaparecimento, quando se tiverem tornado diferentes de nós. Enfim, apenas conhecemos e nunca conheceremos mais do que diferenças.
230 As últimas bruxas a serem queimadas vivas foram-no em Espanha, em 1799 e no cantao suíço de Uri, em 1801. 231 L’Archéologie du Savoir, p. 172.
97
mmm Uma história sociológica das verdades: saber, poder, dispositivo Com a morte de tantas diferenças, com o nascimento de novas ver dades nas quais não seremos obrigados a acreditar e que estão votadas à rejeição, alguns concluíram que nada de verdadeiro existiría, «quando o meu problema é inverso ’33». Trata-se de discernir de que modo uma certa definição de loucura entrou num dispositivo que fez dela uma rea lidade, designadamente, a doença mental tal como era concebida nessa época, com todas as consequências bem reais que foram as maneiras de tratar os loucos. Uma citação textual dirá tudo: A política e a economia não são nem coisas que existem, nem erros, nem ilusões, nem ideologias. São algo que não existe e que, porém, está inscrito no real, derivando de um regime de verdade que par tilha o verdadeiro e o falso.333 Foucault constata esta fabricação social e institucional de verdades recebidas. Diferentemente de Nietzsche, abstém-se de acrescentar que a não-verdade é uma das condições da existência humana. Não generaliza, e também não faz metafísica, nem sequer a da vontade de potência. Um certo regime de verdade e certas práticas formam assim um dispositivo de saber-poder que inscreve no real aquilo que não existe, submetendo-o todavia à partilha entre verdadeiro e falso. Daí uma das teses favoritas do nosso autor: uma vez constituído pela concatenatio causarum, pela causalidade do devir histórico, o discurso impõe-se como um a priori histórico 23234235; e, aos olhos dos contemporâneos, só se con siderará que dizem a verdade, unicamente serão recebidos «no jogo do verdadeiro e do falso 335» aqueles que falarem em conformidade com o discurso do momento; enquanto, do outro lado, as práticas discursivas serão aplicadas como coisas evidentes. E isto uma civilização. Advinha-se
232 DE, IV, p. 726. 233 Naissance de Ia biopolitique, pp. 21-22. 234 Foucault retomará ainda esta expressão cm 1984, em DE, IV, p. 632. 235 Ibidem, p. 634. É o que Foucault designará por problematizaçao.
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
o que devemos pensar da nossa. Foucault não fazia uma teoria lógica ou filosófica da verdade, mas sim uma critica empírica e quase sociológica do dizer verdade, ou seja das «regras» da veridicção, das regras do WahrsagenJi6. Nietzsche, dizia-me ele, não era um filósofo da verdade, mas do dizer verdade. A verdade não é porém uma palavra vã. Porque, «se nos colocar mos ao nível da proposição, no interior de um discurso, a divisão entre o verdadeiro e o falso não será nem arbitrária nem modificável, nem institucional nem violenta23 ». Mas é apenas verdade a este nível e, como diz o saudoso Dominique Janicaud, temos a escolha de uma outra escala 38, a da genealogia das realidades de uma certa época, escala à qual nada resiste. Nada, excepto, repitamo-lo, os factos singulares, empíricos, de que nunca céptico algum duvidou (a inocência de Dreyfus, à cabeça); excepto, também, tudo o que acabámos de ler, designada mente a genealogia, esse balanço verídico de discursos e dispositivos que assentam, eles, no vazio. Verídico porque, se as verdades estão sujeitas à critica nietzschiana, a verdade nem por isso deixa de ser a condição de possibilidade dessa crítica. O que está em jogo em todo o meu trabalho, dizia ele em 1978, é «mostrar como o acoplamento entre uma série de práticas e um regime de verdade forma um dispositivo de saber-poder23Q». O que é tido como verdadeiro faz-se obedecer. Voltemos a esse poder: o que vem ele fazer para aqui? Vem porque o discurso se inscreve na realidade e que, na realidade, o poder está em toda a parte, come se irá ver: o que se considera ser verdadeiro faz-se obedecer. O poder vai muito mais longe do que o saber psiquiátrico ou que o uso militar da ciência. O que eu faço na minha vida amorosa ou noutra situação, o que fazem as pessoas, o que faz o governo, está bem ou está mal, isto é, está em conformidade com uma certa divisão entre o verdadeiro e o falso? E um facto que, sem que qualquer violência seja exercida sobre elas, as pessoas conformam-se com regras, seguem costumes que lhes parecem 236789
236 DE, IV, p. 445. 237 L’Ordre du discours, p. 16. 238 Quer se queira quer não, Nietzsche nunca pretendeu que nenhuma realidade existia; ver o que escreveu Dominique Janicaud na compilação Michel Foucault philosophe: rencontre internationale, Seuil, 1989, pp. 331-353, cf. p. 346, e em A nouveau la philosophie, op. cit., p. 75. 239 Naissance de la biopolitique, p. 22.
100
VIII. UMA HISTÓRIA SOCIOLÓGICA DAS VERDADES: SABER, PODER, DISPOSITIVO
evidentes. Se deixarmos de ter uma ideia demasiado exígua ou fantasma górica do poder, se não o reduzirmos ao Estado, ao poder central, esse monstro frio que, dizem alguns, não pára de engordar, saberemos vê-lo em todo o lado. O que é pois o poder, do qual Foucault não tinha uma ideia diabólica 240? Tracemos dele um ideal-tipo em grande escala. É a capacidade de conduzir não fisicamente as condutas de outrem, fazê-las caminhar sem lhes pôr, com a mão, os pés e as pernas na posição ade quada. E a coisa mais quotidiana e a mais bem partilhada; há poder na família, entre dois amantes, no escritório, no atelier e nas ruas de sentido único. Milhões de pequenos poderes formam a trama da sociedade da qual os indivíduos constituem o liço. Daí decorre que haja liberdade em toda a parte, porque há poder em todo o lado241: constata-se que alguns respingam, enquanto outros deixam andar. A filosofia política tem demasiada tendência para reduzir o poder unicamente ao poder central, ao Leviatã, besta do Apocalipse. Mas o poder não decorre por inteiro de um pólo de detestação, «é veiculado por uma rede capilar tão estreita que nos perguntamos onde poderá não existir poder 242». O mecânico dos caminhos-de-ferro de Auschwitz obedecia ao Monstro porque a mulher e os filhos tinham o poder de exigir do pai de família que trouxesse um salário para casa. O que faz mexer ou bloqueia uma sociedade, são os inumeráveis poderzinhos tanto quanto a acção do poder central 243. O Leviatã seria impotente sem a multidão dos pequenos poderes liliputianos; não porque todo o poder derive do centro nem porque esteja em toda a parte, mas porque não teria debaixo dele nada senão uma areia impossível de reter nas mãos. Há que lançar algumas rochas à areia, dizia Napoleão ao criar a Legião de Honra e o seu regime de notáveis. Em parte alguma nos é possível escapar às relações de poder; em contrapartida, podemos sempre e em toda a parte modificá-las; porque o poder é uma relação bilateral; faz par com a obediência, que somos livres (sim, livres) de conceder com mais ou menos resistência 244. Mas,
240 DE, IV, pp. 727 e 740. 241 DE, IV, p. 720 242 Entrevista de Foucault por R.-P. Droit, op. cit., p. 129. 243 Ver DE, IV, p. 450 e, no índice de Dits et Écrits, na entrada Pouvoir, numerosos outros textos, frequentemente detalhados. 244 DE, IV, pp. 225-226, 740 e noutros pontos ainda (ver, no índice, a entrada Résistance).
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
é claro, essa liberdade não flutua no vazio e não pode querer não importa o quê numa época qualquer; a liberdade pode ultrapassar o dispositivo do momento presente, mas é esse mesmo dispositivo mental e social que ela ultrapassa; não se pode exigir do cristianismo antigo que tivesse pensado em abolir a escravatura. O dispositivo é menos o determinismo que nos produz que o obstá culo contra o qual reagem ou não reagem o nosso pensamento e a nossa liberdade. Estas activam-se contra ele porque o dispositivo é ele próprio activo; é um «instrumento que tem a sua eficácia, os seus resultados, que produz algo na sociedade, que está destinado a ter um efeito2+3». Não se limita a informar o objecto de conhecimento: age sobre os indivíduos e a sociedade; ora, quem diz acção, diz reacção. O discurso comanda, reprime, persuade, organiza; é o «ponto de contacto, de fricção, eventu almente de conflito» entre as regras e os indivíduos 2452462478950. Os seus efeitos sobre o conhecimento podem assim ser efeitos de poder. Não que os jogos de verdade não sejam mais do que o disfarce dos jogos de poder24', mas alguns saberes, em determinadas épocas, como na nossa, podem contrair relações com certos poderes. Na Antiguidade, o (bom) saber era como a antítese do (mau) poder; nos nossos dias, o poder utiliza certas ciências e, de modo geral, quer-se racional, informado‘4S. A liberdade é um problema filosófico tão confuso que é preciso ter sobre o assunto uma linguagem concreta e tomar o termo num determi nado sentido: «Acredito na liberdade dos indivíduos. Perante uma mesma situação, as pessoas reagem de maneira muito diferente2"9», eis tudo. Sobre isto, Foucault resmungava uma frase descontente onde se julgava discernir a palavra «sociólogo». Há por toda a parte poder, pensamento e liberdade; no interior da comunidade científica poderão estalar conflitos entre um jovem investigador e «as regras de formação dos enunciados que são aceites como cientificamente verdadeiros2’0». O sujeito não é constituinte, é constituído como o é o seu objecto, mas nem por isso é
245 DE, II, p. 636. 246 Ibidem, p. 723. 247 DE, IV, pp. 724-725 e 676. Cf. p. 726. 248 Entrevista a Foucault feita por R.-P. Droit, op. cit., p. 128. 249 DE, IV, p. 782. 250 DE, III, p. 143; cf. III, p. 402: «A que regra se é obrigado a obedecer, em dada época, quando se quer ter um discurso científico sobre a vida, sobre a história natural, sobre a economia política?»
102
VIII. UMA HISTÓRIA SOCIOLÓGICA DAS VERDADES: SABER, PODER, DISPOSITIVO
menos livre de reagir graças à sua liberdade e de ganhar recuo graças ao pensamento. O dispositivo é menos um limite posto à iniciativa dos sujeitos do que o obstáculo contra o qual esta se manifesta251253. Concepção da liberdade que pode parecer próxima daquela que, na Fenomenología da Percepção, Merleau-Ponty defende contra Sartre e a sua liberdade vazia, sem obstáculos. Avancemos um pouco mais: o homem não pára de inventar, de criar novidade. Sejam quais forem os motivos ou mobiles, sociais ou individuais, que o «levem» a fazê-lo, como se costuma dizer, é preciso que tenha a liberdade de se «deixar levar» a fazer a novidade, em vez de ficar prisioneiro da sua redoma discursiva. Aliás, nunca o indivíduo e a sua liberdade poderão ser aniquilados, sobreviverão sempre, nem que seja tornando-se o contrário de si mesmos. Foucault não o disse nem escreveu mas é possível que a sua doutrina o suponha. «Até na obediência há resistência», escrevia Nietzsche2b2 em 1885, «nada renuncia à sua potência própria, e o comando comporta sempre alguma concessão». Efectivamente, escrevia ele também, as liberdades «lutam pelo poder e não pela existência; o vencido não é ani quilado, mas é reprimido ou subordinado; nada é aniquilado na ordem do espírito (es gibt im Geistigen keine Vernichtung) 2jJ». Cada indivíduo é o centro de uma energia que só pode ser vitoriosa ou vencida; no segundo caso, torna-se ressentimento ou, pelo contrário, fiel dedicação ao ven cedor, ou as duas coisas ao mesmo tempo, mas esta vontade de potência nunca é neutralizada nem abolida. Torna-se «o contrário de si mesma desde que permaneça», como o amor-próprio, segundo La Rochefoucauld, que diz que um tonto não tem força suficiente para ser bom. Do mesmo modo, pode acrescentar-se, quando se está em posição de rivalidade com algo mais forte, não há escolha: fica-se a admirá-lo ou fica-se invejoso. A menos que se tenha recuado perante o confronto; nesse caso, não se deixará de sentir desdém por todo esse vão debate e pelos dois rivais. Igualmente, por fim, ter suportado uma infeli cidade, atravessado anos dolorosos sem se furtar ao sofrimento, gera, além de pesar densamente, o sentimento positivo de um acréscimo de si mesmo. Altruísmo e egoísmo, felicidade e infelicidade não são dados últimos.
251 L’Archéologie du Savoir, p. 272. 252 Cito as velhas publicações que tenho à mão: Nietzsche, Umwertung aller Werte, edição Würzbach (1977), n.° 85, e p. 302, n.° 190; La Volonté de Puissance, trad. Bianquis (1995), p. 249, n." 91 e p. 290, n.° 196. 253 Cf. CEuvres philosophiques completes, vol. XII, P. 302, FR. 7 [53].
103
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
Foucault declara-se «pasmado» 2’" que se possa ter visto nele «a afirmação de um determinismo ao qual não se pode escapar». Não se cansa de empregar a palavra estratégia, entendo por ela o fim escolhido numa luta onde é questão de vencer2’5. Com efeito, o «pensamento2’6», que é um combate, como estamos recordados, tem a liberdade de ganhar um recuo crítico sobre a sua própria constituição, retirando às coisas à sua enganadora «familiaridade2’7». Daí a sua crítica de um certo socio logismo; está entendido, a sociedade encerra-nos, determina-nos, mas, escreve ele: E preciso libertar-se da sacralização do social como única instân cia do real e deixar de considerar como se vento fosse essa coisa essencial na vida humana e nas relações humanas, quero dizer o pensamento . De maneira que contestar um discurso, «desqualificar enunciados2’9», pode ajudar a derrubar o dispositivo que os apoia. Coisa caricata, fez-se a este partidário da liberdade 2546789260 a afronta que ele próprio fazia ao sociologismo, a de ser determinista; com efeito, Foucault passava então por estruturalista; ele encadeava, é certo, os homens ao dispositivo, «condenara ao conformismo a menor das suas inovações261». Os acusadores estavam tanto mais indignados quanto partilhavam pela metade, temo, a opinião que atribuíam ao acusado; porque a nossa cultura, composta por uma mistura de humanismo e de sociologismo, ora nos faz enaltecer a liberdade do homem, ora lamentá-lo por ser a vítima das condições sociais que o determinam 262. 254 DE, IV, p. 693. 255 Por exemplo, DE, II, pp. 305, 632, 638. 256 Ver sobretudo DE, IV, p. 597. 257 DE, IV, p. 597, cf. p. 180. 258 Ibidetn, p. 180. 259 Entrevista a Foucault feita por R.-P. Droit, Junho de 1975, publicada no Dossier sobre Foucault distribuído no jornal Le Monde de 19 e 20 de Setembro dc 2004. 260 Ver por exemplo DE, IV, p. 693. 261 L’Archéologie du Savoir, p. 271. 262 Interpreto livremente DE, IV, p. 205. Cf. também I, p. 608 e Les Mots et les Choses, p. 333 e seguintes. Para filosofias que não são as de Foucault, mas que eram as da sua época, o homem, esse dobrete empírico-transcendental, era ao mesmo tempo objecto
104
VIH. UMA HISTORIA SOCIOLÓGICA DAS VERDADES: SABER, PODER, DISPOSITIVO
Uma variante da mesma afronta (ou do mesmo mérito, de acordo com outros) consistiu em ver em Foucault um estruturalista, um negador do sujeito humano. Foi um efeito da moda, ou antes, da actualidade: aquilo a que então se chamava estruturalismo e de que se fazia grande alarido supunha essa negação do sujeito. O que, no caso de Foucault, não deixa de surpreender; além do facto de o termo estrutura não se ler em lado nenhum nos seus escritos, ele acreditava, como se viu, na liberdade dos sujeitos. Protestou com violência262263contra a sua assimilação ao estruturalismo, mas não adiantou nada: a juventude das escolas tratava-o de estruturalista para o honrar, tal como, um quarto de século antes, havia inopinadamente honrado Sartre com o vocábulo do momento, «exis tencialista», ao qual o interessado acabou por se resignar, como contou Simone de Beauvoir. Havia, porém, alguma razão para esta assimilação de Foucault ao estruturalismo, bem como para a voga estruturalista em si: serviu de incubadora para idéias novas. Foucault acreditava na historicidade do dizer verdade, na singularidade e na «raridade»; através destes três traços, tinha cm comum com o estruturalismo o facto de admitir que o pensamento não nasce inteiramente por si e que deve ser explicado através de outra coisa que ele próprio —pelo discurso e o dispositivo, com Foucault, pelas estruturas, com os estruturalistas. As duas doutrinas, de facto, só tinham em comum as suas negações. Uma e outra afirmavam que entre as coisas e a consciência havia um tertium quid que escapava à soberania do sujeito, uma opacidade que ia mais longe do que a má fé e a ambiguidade, que eram caras à subtileza sartriana. Passava facilmente por estruturalista todo o pensamento que se separava do marxismo, da fenomenología e das filosofias da consciência; por exemplo, por razões diferentes, o estruturalismo e Foucault contes tavam a oposição entre explicar e compreender 264. Com o nosso autor, empírico a conhecer e sujeito que funda a possibilidade desse conhecimento; ao mesmo tempo objecto e fundador da sua história. 263 DE, I, pp. 816-817. E preciso dizer, para desculpar esta violência, que o seu interlocutor era um marxista cujo dogmatismo tão brutal quanto limitado faz hoje sorrir. Uma tradição oral pretende que Foucault terá atirado um osso para aguçar o apetite dos jovens admiradores que julgavam incensá-lo dizendo dele que era estruturalista: mesmo no fim da sua lição inaugural no Collège de France, terá lançado ao público estas pala vras desdenhosas: «se estiverem virados para esse lado, será questão, nas minhas aulas, de estruturalismo». A frase não figura no texto impresso da lição. 264 DE, I, pp. 126-127 e 446.
105
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
o a priori histórico, que é dispersão mais do que estrutura, impõe-se a nós sem que o compreendamos ou divisemos.
Quando o estruturalismo era fecundo... Ao falar do estruturalismo, fiz mal ao pronunciar as palavras voga e moda; é vão fazer a sátira bimilenar dos caprichos do século e, qual novo Juvenal, estigmatizar a loucura do momento presente; e é desajei tado julgar um movimento intelectual a partir do vocábulo com o qual o mascáramos e condená-lo em nome dos grandes princípios. A coberto ou sob o engodo desse vocábulo nascem na recente geração idcias novas. Tal é, muitas vezes, a fecundidade das «modas» intelectuais, mesmo que sejam erradas ou confusas nos seus princípios; os jovens cérebros só podem abrir novos caminhos através de moitas tão jovens quanto eles próprios. As estruturas e o discurso não eram nem Husserl, nem Marx, nem humanismo; era o bastante para serem mal vistas, por volta de 1970, pelos historiadores da sociedade e pelos filósofos da consciência e do sujeito; Foucault e o estruturalismo, a mesma heresia. Mas, para outros, a mesma excitação por ver despontar novidade. O estruturalismo foi, para alguns, um choque fecundante; permitam-me evocar, a propósito, velhas recordações, porque a micro-história dos indivíduos permite tactear a textura dos efeitos do agregado colectivo. Há um bom meio-século, sendo eu assistente de história antiga, recebia as confidências de um estudante então comunista, mas leitor de 0 Ser e o Nada, que se tornou desde então um orientalista de renome. As suas convicções sartro-marxistas viram-se postas em causa, em 1955, por um texto de Claude Lévi-Strauss que analisava o sistema das pinturas cor porais numa tribo amazónica; aí se via, com imagens de suporte, como uma espécie de combinatoria estrutural era suficiente para explicar a diversidade de um plano de realidade. Foi um rasgo de luz: afinal nem tudo remetia para a sociedade ou para a consciência; existia um terceiro patife, um tertium quid. O estruturalismo terá permitido no seu tempo um escape para o sempiterno frente-a-frente entre o sujeito e o objecto, sem contudo cair no sociologismo. Deslizando pela fenda (minúscula, é certo, mas a juventude vive com pouco) entre marxismo e sartrismo, o meu confidente, que me dava que pensar, pôs-se a encontrar em toda a parte outros exemplos deste tertium.
VIII. UMA HISTÓRIA SOCIOLÓGICA DAS VERDADES: SABER, PODER, DISPOSITIVO
Por que motivo, por exemplo, não seria a linguística estruturalista? O arbitrários dos signos e das estruturas gramaticais impunha-se ao sujeito, dizia-me ele; nenhuma consciência intencional e husserliana anima o facto de a água se chamar aqui água e ali wasser. Como escreveram José Estaline e Raymond Queneau, quem teria interesse em que a água não se chamasse mais água? Nem tudo deve ser ridículo no estruturalismo! Havia que convir o seguinte, a diferença de classes e a opressão eram uma constante na história, mas não a luta de classes: os oprimidos, com demasiada frequência, não vislumbravam a sua opressão e não lutaram; não se ver, em qualquer época, o que salta aos olhos, era incompreensível, havia ali, dizia-me ele na sua linguagem, um facto bruto e absurdo, uma materialidade que era contrária ao materialismo segundo Marx (uma coisa é certa: pressagia a materialidade dos incorporais em Foucault). O meu candidato à licenciatura em letras pôs-se depois a escarne cer do seu professor de gramática comparada, que os seus condiscípulos admiravam pelo engenho com que o mestre lhes explicava os desvios da sintaxe latina pela psicologia dos locutores. Passando à fonética, negou que as mudanças fossem o resultado de uma busca, bastante compreensí vel, do menor esforço para os músculos da boca, como lhe ensinavam: a passagem de um som a outro numa língua pode produzir-se em sentido inverso numa outra língua. O meu jovem estava maduro para ler Troubetskoi e Henri Martinet. Por fim, aprendeu que na arte egípcia reinava uma convenção segundo a qual a figura humana era sempre representada de perfil, excepto os ombros e o busto, que surgiam de face26’; apercebeu-se, ao folhear Malraux, que as outras civilizações (arte africana, maia...) tinham cada uma a sua imagem convencional do corpo humano e que essa arbitrariedade do signo plástico não exprimia as intenções do artista ou a mentalidade da sociedade; era um mero facto de língua onde não havia nada a com preender. Estava maduro para ler Wõlfflin. Vê-se que o sentido da analogia tinha levado o meu confidente a aplicar um mesmo processo heurístico, a procura do tertium quid, a várias disciplinas diferentes; compreende-se então como, no século XVIII, um mesmo discurso, de acordo com As Palavras e as Coisas, pôde encontrar-se na história natural, na gramática e na economia política. O Zeitgeist e265 265 É, desde H. Schaeffer (1930), a chamada «imagem conceptual» do corpo humano. No Egipto, é muito raro que um rosto seja representado de frente ou em três quartos numa pintura ou num baixo-relevo; as excepções concernem suh-homens (pri sioneiros de guerra, escravas dançarinas).
107
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
Spengler nada tinham a ver com isso, o espírito da época não foi mais do que esse contágio analógico que por vezes se produz. Vimos recentemente o mesmo contágio com o linguistic turn. Abramos um paréntesis. E, uma vez que já pronunciei o nome dele, houve outrora um estruturalista que não tinha consciência de o ser e cujo nome é pouco referido, Heinrich Wõlfflin. «Lê-o, é o Foucault da história da arte», sugeri uma noite ao principal interessado. Porque Wõlfflin, também ele, tinha descoberto um objecto científico novo, tão omnipresente e evidente nas obras de arte que nem sequer se via; eram os factos, não de estilo nem de expressão, mas de língua plástica que são os de toda uma época ou de todo um grupo de «locutores». Entre as obras de arte, por um lado, e, por outro, as intenções e expressões do artista (ou, através deste, as da sociedade), há um tertium quid que é «a forma plástica geral de uma época» e que se situa «abaixo do indivi dual»2662678. As suas transformações fazem passar formas humanas pintadas em vasos gregos do século Vil às do século V, a plástica greco-romana à da Idade Média, a do Renascimento italiano à do Barroco: novas ima gens do corpo humano, passagem da forma fechada à forma aberta, do linear ao pictural, etc., e outros factos da língua plástica que trazem à luz as análises brilhantes dos Conceitosfundamentais da história da arte e do Renascimento e Barroco. Aqui está «uma evolução específica das form as»26'. E preciso distinguir entre «a arte como história da expressão e a arte como his tória interna da forma». Já que, «por muito meritórios que sejam os esforços para colocar a incessante mudança das formas em relação com as mudanças do mundo ambiente, e por muito indispensáveis que sejam o carácter humano de um artista e a estrutura social e mental de uma época para explicar a fisionomia de uma obra de arte, não se deve por isso esquecer que a imaginação criadora de formas tem uma vida e uma evolução que lhe são próprias». De maneira que «não se deve interpretar tudo uniformemente no sentido da expressão; a história da arte não é pura e simplesmente idêntica à história da civilização». Wõlfflin escreve, quase com as mesmas palavras que Foucault: «Tudo não é possível em todos os tempos» 6\ Acusou-se Wõlfflin de «eliminar o sujeito, a per sonalidade» e de reduzir a história da arte a um processo impessoal, a
266 H. Wõlfflin,
R é fie x io n s s u r 1’h is to ire d e 1’a r t ,
trad. Rochlitz, 1982 (1997), p. 43.
267 Réflexions, pp. 43-44, e, para o que se segue, pp. 29, 35, 79, 198. 268
P r ín c ip e s J o n d a m e n ta u x d e 1’h is to ir e d e 1’a r t ,
trad. Raymond, 1929, p. 215.
VIII. UMA HISTÓRIA SOCIOLÓGICA DAS VERDADES: SABER, PODER, DISPOSITIVO
uma «história sem nomes próprios»269270. A mesma censura será feita a Foucault, praticamente nos mesmos termos.
Sim, Foucault acredita no sujeito que é o homem E, no entanto, Foucault, na sua doutrina, não riscava os nomes próprios. «Eu não neguei, longe disso», escreve ele, «a possibilidade de mudar o discurso; retirei o direito exclusivo e instantâneo de o fazer à soberania do sujeito»2/0. Porque, longe de ser soberano, o livre sujeito é constituído, processo que Foucault baptizou de subjectivação: o sujeito não é «natural», é modelado em cada época pelo dispositivo e pelos dis cursos do momento, pelas reacções da sua liberdade individual e pelas suas eventuais «estetizações», das quais tornaremos a falar. A questão do sujeito, dizia-me Foucault, fez correr mais sangue no século XVI do que a luta de classes no século XIX; de acordo com Lucien Febvre, precisou ele, o que, para os protestantes, estava em jogo nas guerras de Religião, era a sua constituição como sujeitos religiosos que, para aceder a Deus, já não tivessem de passar pela mediação da Igreja, dos padres, dos confessores. Foi por volta de 1980, como se viu, que Foucault descobriu o terceiro painel da sua problemática 271; ao saber verdadeiro e ao poder soma-se a constituição do sujeito humano como devendo comportar-se eticamente desta ou daquela maneira, como fiel vassalo, como cidadão, etc. A constituição do sujeito acompanha a das suas maneiras: comportamo-nos e vemo-nos como fiel vassalo, súbdito leal, bom cidadão, etc. Um mesmo dispositivo que constitua os seus objectos —loucura, carne, sexo, ciências físicas, governamentalidade —, faz do eu de cada um, um certo sujeito. A física faz o físico. Tal como, sem um discurso, não haveria para nós objecto conhecido, sem uma subjectivação não existiría sujeito humano. Engendrado pelo dispositivo da sua época, o sujeito não é soberano mas sim filho do seu tempo; não nos podemos tornar num sujeito qualquer
269 Réflexions, pp. 43-44. 270 LArchéologie du Savoii, p. 272; DE, I, p. 788. 271 Ele disse-o diversas vezes, por exemplo em DE, IV, p. 393. O problema tinha sido confusamente vislumbrado em 1970 (DE, II, p. 12).
109
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
num momento qualquer. Em contrapartida, podemos reagir contra os objectos e, graças ao pensamento, ganhar recuo em relação a eles e à religião enquanto Igreja e clero, por exemplo. De maneira que o homem nunca cessou «de se constituir na série infinita e múltipla de subjetividades diferentes e que nunca terão fim», sem que nunca estejamos «face a algo que seja o homem. [...] Ao falar da morte do homem ’ de modo confuso, simplificadora, era isto que eu queria dizer 2' 3». A noção de subjectivação serve para eliminar a metafí sica, o dobrete empírico-transcendental que retira do sujeito constituído o fantasma de um sujeito soberano. Os sociólogos professam, à sua maneira, a mesma doutrina: só existe indivíduo socializado. A subjectivação segundo Foucault ocupa a mesma localização na sociedade que, em Bourdieu, a noção de habitus — esse par de conversão entre o social e o individual —; ou que a noção sociológica de papel, sobre a qual é necessário determ o-nos. Por volta de 1940, Linton ou Merton descreveram, com a designação “papéis”, um conjunto de posições na sociedade, tendo cada uma um estatuto, direitos, deveres, posições essas que vão incessantemente ser ocupadas por indivíduos que se revezam. A utilidade sociológica desta ideia é inegável, mas é sintomático que esses sociólogos tenham recorrido ao termo “papel”, o que outros lhes censuraram, porque parece supor que o indivíduo fica á distancia da sua posição e não faz mais do que prestar-se a uma comedia social com a qual não se identifica. Mas o termo é revelador da nossa tendência para separar o sujeito, o eu, do seu conteúdo para fazer dele uma forma vazia, pronta a ser erguida em dobrete transcendental do sujeito empírico. Da subjectivação, essa espécie de socialização, é preciso distinguir, na minha opinião, um processo diferente a que Foucault chamava “estetização”, entendendo por isso, já não a constituição do sujeito nem qualquer estetismo de dandj, mas a iniciativa de uma «transformação de si por si próprio»2'4. Foucault constata, com efeito, por volta de 1980, que além das técnicas aplicadas ás coisas e as que são dirigidas aos outros, algumas sociedades, entre as quais as da Antiguidade greco-romana, conheceram técnicas que trabalham sobre o eu /S. Falar de estetização servia-lhe para sublinhar, imagino eu, a espontaneidade dessa iniciativa, espontaneidade27345
272 Na famosa última frase de Les Mots et Ies Choses. 273 DE, IV, p. 75. 274 DE, IV, p. 535: «Por estetismo, entendo a transformação de si». 275 DE, IV, pp. 171, 213, 576, 706, 719, 729, 731 e, cm particular, p. 785.
110
VIII. UMA HISTÓRIA SOCIOLÓGICA DAS VERDADES: SABER, PODER, DISPOSITIVO
que é o oposto da subjectivação. Esta teoria do trabalho de si sobre si agradou bastante, porque se julgou que Foucault pretendia dar-nos uma moral para a nossa época; ora, assim que é questão de moral, muitas pessoas prestam atenção. Seria verdadeiramente o propósito inicial de Foucault? Andaria a jogar aos gurus? Veremos isso mais tarde, tratemos primeiro do mais urgente. Como a revolta ou a submissão, a estetização em questão é uma iniciativa da liberdade. Tipos humanos, estilos de vida como o estoicismo, o monaquismo, o puritanismo ou a militância são, imagino, outras tantas estetizaçÕes. Não são maneiras de ser impostas pelo dispositivo, pelas objectivações do meio ambiente; ou, pelo menos, «aumentam-nas», de maneira que se pode considerá-las como invenções, escolhas individuais que não se impunham por si. Pasquale Pasquino e Wolfgang Essbach aproximaram, com direito de causa, a estetização segundo Foucault daquilo a que Max Weber cha mava, depois de Nietzsche, ethos27627. Todavia, com este termo, Weber designava ao mesmo tempo estetizaçÕes livres e subjectivações sofridas. O seu célebre texto sobre as origens do capitalismo não ensina que a religião influenciou a economia mais do que o seu inverso, mas antes que um ethos, o do puritano laborioso, poupado, ascético e leal nos negócios, foi inventado a partir do que chamamos um engodo, o calvinismo. Depois, esse ethos, esse estilo pessoal, alargou-se como norma pelo mundo dos negócios sob uma forma abreviada, reduzida a uma atitude «racional em finalidade» e menos ascética; ela já não se bastava como fim em si, estava agora centrada na busca do rendimento e do lucro —dado que o sucesso nos negócios era um sinal da eleição junto do Senhor. Nas Caves do Vaticano, de Gide, um dos heróis, um negociante protestante, chama-se Profitendieu 211. Este estilo de vida que se revelara útil, da estetização que era passou a simples subjectivação como correlato do «capitalismo» (ou economia empresarial de acordo com Schumpeter), onde duas realidades se chamam mutuamente: os agentes da nova economia e essa economia «capitalista» 276 P. Pasquino, «Moderne Subjekt und der Wille zum Wissen», A n sc h lü s se : Versuc h e n a c h M ic h e l F o u c a u lt (G. Dane ed.), Tübingen, 1985, p. 39; W. Essbach, «Durkheim, Weber, Foucault; Religión, Ethos und Lebensführung», em L ’É th iq u e p r o te s ta n te d e M a x W eber e t l ’e s p r it d e la m o d e r n ité , M a x W ebers p r o te s ta n tis c h e E t h i k u n d der G e ist d e r M o d e r n e
,
Maison des Sciences de 1’Homme, 1997, p. 261. 277 Em português, o apelido da personagem do romance de André Gide seria algo como Lucrendeus. ( N . d o T.)
111
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
para a eclosão da qual o ethos puritano —involuntariamente ou até contra a vontade2'8 — contribuiu. Não deixemos de citar os próprios termos de Weber: «Der Puritaner Wollte Berufsmensch sein, — wir müssen es sein, o puritano queria ser o homem de uma vocação e profissão [é a estetização], nós devemos sê-lo» [é a subjectivação engendrada e exigida pela economia empresarial]; é a nossa standige Lebensführung 279, «a moral do nosso estatuto». Acrescentemos que um sujeito que se estetiza livremente, activamente, através de práticas de si, é ainda filho do seu tempo: essas práticas não são «algo que o indivíduo inventa por si mesmo, são esquemas que encontra na sua cultura» 2789280, o calvinismo, por exemplo. E evidente que não se atribuirá a Foucault, grande leitor de Séneca, o projecto de popularizar uma estetização renovada dos estoicos gregos. Na derradeira entrevista que a vida lhe permitiu conceder, ele exprimiu-se muito claramente: nunca se encontra a solução para um problema actual numa resposta de outra época, porque essa será necessariamente a resposta a uma pergunta diferente. Não existem problemas que atra vessem os séculos, o eterno retorno é também uma eterna partida (ele apreciava estas palavras de René Char). A afinidade entre Foucault e a moral da Antiguidade está num único detalhe: o trabalho de si sobre si, o «estilo». Este termo não significa aqui distinção, dandismo: «estilo» deve ser entendido no sentido dos gregos, para quem um artista era antes de mais um artesão. A ideia de estilo de existência e, logo, de trabalho de si sobre si, desempenhou um grande papel nas conversas e sem dúvida na vida interior de Foucault durante os últimos meses de uma vida que só ele sabia ameaçada. Lançando-se ele próprio sobre si mesmo, enquanto obra a trabalhar, o sujeito dar-se-ia uma moral que já nem Deus, nem a tradição, nem a razão sustentam. Esta teoria da subjectivação e da estetização revela bem o que foi a iniciativa de Foucault: «problematizar» um objecto, perguntar-se como terá sido pensado, numa dada época, um ser (é a tarefa daquilo a que chamava arqueologia), e analisar (trabalho da genealogia, no sentido nietzschiano do termo) e descrever as diversas práticas sociais, científicas, éticas, punitivas, medicais, etc., que tiveram como correlato o facto de
278 M. Weber, Gesammelte Aufsdtze zut Religionssoziologie, Tübingen, Mohr, 1920 (1963), vol. I, p. 524: «durchaus gegen seinen Willen». 279 Ibidem, vol. I, pp. 203 e 408, cf. p. 485 (onde o termo ethos é retomado sob a forma Lebensführung). 280 DE, IV, p. 719.
112
VIII. UMA HISTÓRIA SOCIOLÓGICA DAS VERDADES: SABER, PODER, DISPOSITIVO
o ser ter sido pensado assim281. A arqueologia não procura resgatar estruturas universais ou a priori, mas reduzir tudo a acontecimentos não universalizáveis. E a genealogia faz descender tudo de uma conjuntura empírica: a contingência sempre nos fez ser aquilo que fomos ou somos. «O que é nem sempre foi; ou seja, é sempre na confluência de encontros, de acasos, no decorrer de uma história frágil, precária, que se formam as coisas que nos dão a impressão de serem as mais evidentes» 282.
Problema transcendente e transcendental: Husserl Eis-nos no centro do problema. A crítica genealógica procura o nas cimento empírico e não a origem ou o fundamento. 2832845«Pretende libertar a história do pensamento da sua sujeição transcendental» 28+. Será um sujeito husserliano, trans-histórico, capaz de dar conta da historicidade da razão? Para um leitor de Nietzsche, o sujeito, a razão e até a verdade possuem uma história e não são o desdobramento de uma origem 283. Ora, de acordo com o nosso autor, a filosofia do tempo da sua juventude pretendia fazer do homem empírico, histórico, «o fundamento da sua própria finitude». Como se viu, as positividades dos discursos, todas datadas e circunscritas numa certa época, fazem do homem um ser finito, circunscrito pelo tempo histórico. O sofisma da metafísica está em acreditar que a mesma finitude torna possível essa mesma historici dade. E erigir em condição de possibilidade transcendental a finitude, que é o carácter imánente da condição empírica do homem. Está aqui uma «repetição do positivo no fundamental», «um dobrete histórico-transcendental» que passará por ser o lugar de uma origem metempírica ou de uma essência autêntica nas coisas humanas —reconhecemos o Ego transcendental, a liberdade heideggeriana de ver o verdadeiro, a origem husserliana da geometria... 281 VUsage des plaisirs, pp. 17-18. 282 DE, IV, p. 449 283 Ibidem, p. 574. 284 L’Arcbéologie du Savoir, p. 264. 285 DE, IV, p. 436.
113
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
Ora, segundo Foucault, que não recua perante a blasfêmia, estas ilus tres doutrinas são uma «tautología» pura e simples, um «paralogismo»286287 saído da análise reflexiva; esta coloca condições de possibilidade demasiado gerais, correndo atrás de ilusões, enquanto Foucault, em bom positivista, procura as condições particulares de realidade, designadamente os discur sos e o seu dispositivo. Apenas existe o facto empírico, histórico, ou pelo menos nada nos autoriza a afirmar que também exista o transcendente, ou sequer o transcendental s7. O jovem filósofo pretendia «libertar a história do pensamento da sua sujeição transcendental» 288; por esta via, rompia com a sua corporação de origem e, como diz Passeron, tornava-se órfão de qualquer pai filosófico para permanecer fiel ao seu amor pelas singularidades. O jovem órfão não queria partir de uma teoria do sujeito, «como se podia fazer na fenomenología ou no existencialismo», nem, partindo dessa teoria, inferir de que modo, «por exemplo, tal forma de conhecimento poderia ser possível». O que ele queria era, pelo contrário, mostrar de que maneira o sujeito era constituído «através de um certo número de práticas que eram jogos de verdade, práticas de poder, etc. 289». Foucault admite que o homem tome iniciativas, mas nega que o faça graças á presença nele do logos e que a sua iniciativa possa resultar no fim da história ou na pura verdade. As descobertas dos físicos não são
286 L A r c h e o lo g ie d u S a v o ir , p. 265; D E , I, p. 774-775. Se objecção for feita defen dendo que essa crítica histórica é um positivismo cego à dimensão transcendental ou à origem metempírica (A r c h ., p. 267), Foucault replicará com a crítica do «dobrete histérico-transcendental» (cf. A r c h ., p. 159), «tautología» ( A r c h ., p. 268; D E , I, p. 675) ou «paralogismo» ( D E , I, p. 452) que tenta fazer valer o homem da economia, da ciência, da linguagem, etc. «como fundamento da sua própria finitude» (L e s M o ts e t Ies C hoses, p. 352), através de uma «repetição do positivo no fundamental» (p. 326). Todas circunscritas numa época, as positividades históricas f a z e m com que o homem seja um ser finito, enquanto a finitude passa por to r n a r p o ss ív e l a historicidade como a sua condição de possibilidade a p r io r i (p. 383). 287 Reenviemos novamente à segunda parte de L e s M o ts e t les C hoses. Ver o estudo de G. Lebrun sobre Foucault crítico de Husserl, em M ic h e l F o u c a u lt p h ilo s o p h e , R e n c o n tre I n te r n a ti o n a le , Seuil, 1989, pp. 33-53. Para o que se segue, Renán, E ssa is d e m o ra le e t de c r itiq u e , 1860, pp. 82-83; retomado em (E u rr e s c o m p le te s, edição definitiva, Calmann-Lévy, 1948, vol. II, pp. 73-74.
114
288
L A r c h é o lo g ie d u S a v o ir ,
289
DE,
IV, p. 718.
p. 264.
VIII. UMA HISTÓRIA SOCIOLÓGICA DAS VERDADES: SABER, PODER, DISPOSITIVO
inspiradas por uma teleologia da ciência29°, a linguagem e a etimologia das palavras gregas ou alemãs não desvendam a verdade do Ser, Napoleão não era o furriel do Espírito, o revoltado não é movido por um apelo à desalienação que lhe enviaria a sua essência nativa'91; nada é transcen dente, nem sequer, no sentido kantiano, transcendental. Também não há qualquer escatologia acessível, nem a revolução de Marx nem a era positiva de Augusto Comte 2901292; é por isso que «o trabalho da liberdade é indefinido 293». O sujeito não é uma «dobra» maior no Ser 294295; o leitor viu que o indivíduo possui uma liberdade que não domina tudo de cima, uma «liberdade concreta 29'» que só pode reagir contra o seu contexto momentâneo: há que renunciar à esperança de alguma vez aceder a um ponto de vista que nos poderia dar acesso ao conhecimento completo e definitivo dos nossos limites históricos. Aqui está um modo de pensamento que nos é familiar desde os anos 1860, quando começou, é de acreditar, a nossa modernidade — com o espírito histórico, as descobertas sensacionais do orientalismo e a história crítica das origens do cristianismo que tocaram no âmago a ideia que tínhamos de nós próprios. E certo que sempre se soube que a verdade variava, mas era sobretudo geograficamente: verdade aquém dos Pirenéus ou do rio Halys, erro para lá deles. A diversidade das leis e dos costumes 290 UArchéologie du Savoir, p. 262. 291 DE, IV, p. 74. Quem quer que esteja inserido, activa ou passivamente numa relação de poder grande ou pequena, isto é, toda a gente, pode aceitar ou revoltar-se (DE, IV, p. 93); mas essa revolta não será um regresso do recalcado, o retorno de uma liberdade original, de uma verdadeira natureza do homem desalienado (IV, pp. 74 ou 710). As nossas passagens dos limites são elas próprias limitadas; melhor ainda, não podemos desdobrar sobre elas um conhecimento total, é-nos impossível saber completa e definiti vamente onde estão os nossos limites (IV, p. 757). 292 Les Mots et les Choses, p. 331. 293 DE, IV, p. 574. 294 Não acredito numa dobra onde Foucault tivesse descoberto o Sujeito; Deleuze, nobre carácter e pensador original, fala aqui não na qualidade de grande historiador da filosofia, que ele foi, mas como pensador pessoal que sonha o seu próprio pensamento em margem do de outrem (o que ele fazia de bom grado, segundo a sua própria confissão), atribuindo-lho. Cf. DE, IV, p. 445. 295 Cf. DE, IV, p. 449: o diagnóstico consiste em seguir a linhas de fragilidade de hoje, para captar por onde e como aquilo que é poderia já não ser, porque essa linha de fractura virtual abre «um espaço de liberdade, entendido como espaço de liberdade concreta, isto é, de transformação possível» do discurso.
115
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
é o argumento ancestral do cepticismo; Sextus Empiricus acrescentava-lhe a das crenças e das filosofias, as quais opunha umas às outras. O argumento é banal desde Montaigne. Só que, a partir dos anos 1860, o passado, transbordando imensamente o quadro sumário do Discurso sobre a História Natural, tornou-se uma parte enorme do nosso saber colectivo. Albert Thibaudet, agregado em filosofia, era bom profeta ao escrever, em 1931: Um espírito critico de historiador é um espírito neutralizado para a procura da verdade, e que, aliás, ganha em não ser prolongado por um espírito de filósofo crítico que colocaria a pergunta: O que é a verdade?296 Esta pergunta, longe de ser original —tem já mais de um século —, mas continuava para nós a ser simplesmente familiar; as doutrinas rei nantes (marxismo, fenomenología, filosofias do conhecimento) tinham uma preocupação totalmente diversa: a busca do absoluto. A pergunta ganhou acuidade com os «discursos» foucaultianos e talvez mais ainda com os «dispositivos»: através desses dispositivos, aquilo a que chama mos sociedade dita, num dado tempo e num dado lugar, o que é dizer a verdade e o que é dizer falso 297. Contas feitas, a obra de Foucault é toda ela uma continuação da Genealogia da Moral nietzschiana: procura mostrar que qualquer concepção que se julgue eterna tem uma história, «deveio», e que as suas origens nada têm de sublime. Posto isto, como poderia Foucault não ter reivindicado o cepticismo? Nas suas notas íntimas, Nietzsche desejou um dia ter discípulos como ele próprio 298.
296 A. Thibaudet, K é fle x io n s s u r Ia litté r a tu r e , ed. Compagnon et Pradeau, Gallimard, coll. Quarto, 2007, p. 1416. 297 Cf. Malebranche, R e c h e rc h e d e Ia v é r ité , 11, 3, cap. S: «É por causa da união que temos com todos os homens que vivemos de opinião». 298 Nietzsche, CEuvres p h ilo s o p h iq u e s p. 198 = Cahiers N VII 1.34 [147],
c o m p le te s ,
vol. XI (trad. Haar e de Launay),
Foucault corrom pe a juventude? Desespera Billancourt? Para muitas mentes que têm as suas razões para não serem nietzschianas (nos anos noventa fizeram passar um mau bocado ao estruturalismo), esta visão do mundo é falsa e repugnante. Alguns temem que o fim das transcendencias seja um dissolvente niilista que corrompa a juventude. De maneira que existem, entre as tribos filosóficas, duas espécies parti culares e inimigas: aquela que, na ordem do pensamento, se deleita em divulgar verdades raramente edificantes; e aquela que defende, contra a precedente, a vida tal como ela vai —por julgá-la realmente em perigo ou por estar indignada. Um dia em que um dos espíritos desta última espécie pretendia dar uma lição ao seu colega Foucault, membro da primeira, viu-se chamado de «chui»; Foucault soltou uma espécie de citação e fez voluptuosamente vibrar, entre dentes, esse monossílabo agudo, cujo eco foi considerável nas paredes do Collège de France, que o ouviam pela primeira vez. Mas haverá realmente perigo? Não vou discutir a repugnância, mas sugiro que há quem faça tempestades num copo de água. Nenhuma das nossas opiniões sobre a verdade, o bem ou o normal pode ser fundada, mas isso não nos impede de viver a vida e nem sequer de acreditar no normal, no bem ou na verdade. A filosofia não tem o poder de desesperar a humanidade. Sabe-se qual o pathos que o último Nietzsche, tornado profeta, empregou contra o niilismo —essa «recusa de um valor e de um sentido» (ao arrepio do seu naturalismo elitista) 299 —e sobre a verdade 299 E divertido constatar que Nietzsche, tão hábil a descodificar os valores e fins de outrem, não tenha percebido a arbitrariedade dos seus, que consistiam em secundar «os esforços da natureza [ele refere noutro lugar o termo biologia] para produzir um tipo humano superior» ((Euvres philosophiques completes, vol. XII, p. 325; XIII, pp. 19, 55, etc.). Este grande incrédulo nunca duvidou que «o destino da humanidade dependesse do sucesso do seu modelo» (X, p. 192) nem que fosse necessário colocar-se no sentido da evolução natural, da Vontade de potência, como outros se colocaram no sentido da história. E deplora em inúmeros lugares o igualitarismo e a misericórdia, essas «aberra ções da humanidade em relação aos seus instintos fundamentais» (XIII, p. 277 e 336). Empreendeu a sua revolução filosófica como um profeta para «levar o tipo homem ao seu esplendor e à sua maior potência» (XII, p. 224); para permitir a vinda de «alguns homens superiores» que seriam «os mestres dos outros homens» (X, p. 314), ou antes, que não se preocupariam sequer em sê-lo (XIII, p. 86) —«os mestres da terra, uma nova
117
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
que mata ií)0; no entanto, ninguém morreu, e os pensadores cépticos, no momento de votar, não hesitam entre Ségolène e Sarkozy. Quando Nietzsche exaltava apaixonadamente a vida, a inocencia do devir e a sua aceitação, atrocidades e tragedias incluídas, estava a prescrever um remedio cavalar contra uma doença imaginária; as suas tiradas contra o niilismo, mais do que à realidade, pertencem à ordem oratória. Só poderiam inquietar-se professores que exagerassem a importân cia do que é dito nas cátedras e ensaístas satíricos que gostariam de se assustar. O mundo em que se pensa não é o mundo em que se vive, dizia Gastón Bachelard. O fim da era em que se acreditava em transcendencias é um acontecimento que se acantona nos intelectos e que nada tem de catastrófico. Tê-lo-ia sido se o homem fosse um ser totalmente intelec tual que se governasse de acordo com razões30301; se, por exemplo, os
casta reinante. Nascendo deles, aqui e ali, o Super-homem» (XI, p. 270). Ao ponto de «sacrificar o desenvolvimento da humanidade», reduzida à escravatura, «para permitir que uma espécie superior ao homem exista» (XII, p. 274). Mas enfim, objectaremos, se a Vontade de potência é verdadeiramente mestra em toda a parte, será quanto basta para esta tarefa, sem que tenhamos de nos envolver —e por que motivo teríamos nós o direito de nos envolver? E mais, o que poderiamos nós acrescentar à gravitação universal, e porquê acrescentar? Digamos depressa que Nietzsche não pensa na Alemanha, pela qual só sente desdém (XI, p. 444, etc.; ele preferia os judeus e os eslavos); desdém que só é ultrapassado pelo seu desprezo para com «a corja anti-semita» (XI, pp. 225, 228; XII, p. 310; XIII, pp. 65, 73, etc.; Par-delà le Bien et le Mal, § 251), para com a «vigarice racial» (XII, p. 205); porque «a mistura das raças» era mais propícia à sua grande esperança profética (XII, p. 55). 300 Nietzsche, Par-delà le Bien et le Mal, § 39: «Ninguém terá a ligeireza de considerar verdadeira uma doutrina pela simples razão de ela proporcionar felicidade ou virtuosidade. Uma coisa pode ser verdadeira sendo eminentemente nociva e perigosa; a natureza funda mental do ser poderia mesmo implicar que se morra de conhecer a verdade inteira». 301 Não façamos uma ideia demasiado esquemática do homem, pois ele também aprecia atribuir-se razões, ou antes, ter os seus sonhos, que preza, e nos quais acredita. Professar um ideal religioso ou cívico é para ele uma satisfação platónica e esse sonho pode ser auto-suficiente. Porém, é preciso distinguir entre a moral assim professada e a moral praticada, que, sem hipocrisia, podem ser bastante diferentes —senão a diferença nem se vislumbra. O cristianismo, escreve algures Simmel, ofereceu às massas, pela primeira vez na história, um sentido acabado da existência. Talvez, mas o que resultou dele nas condutas? Terão os dogmas cristãos suficientemente modelado, de modo amplo e quotidiano, as sociedades europcias para merecerem o estatuto de raízes de um conti nente? Terão eles, por exemplo, mudado alguma coisa na atitude humana face à morte? Repitamo-lo, o mundo em que se pensa não é o mundo em que se vive.
118
IX. FOUCAULT CORROMPE A JUVENTUDE? DESESPERA BILLANCOURT?
sujeitos ou cidadãos obedecessem ao rei ou ao Estado persuadidos por uma religião ou uma ideologia. Assim, estou em condições de garantir que Foucault não era o diabo, como julgaram alguns, e não dos mais insignificantes 302. Acreditaram que o cepticismo de Foucault abalava o Bem e o normal e que ele não tinha outro objectivo senão arruinar toda a moral e toda a normalidade. Não era nada disso: não fez mais do que propor reformas de pormenor na ordem estabelecida (como a supressão da pena de morte), e não ensi nava a anarquia e a devassidão. Mas adivinha-se de onde vem o erro: de acordo com a crença mais espalhada, só se respeitam os valores que temos por verdadeiros, só se obedece àquilo que se julga verdadeiro. Ora, essa crença não é partilhada por todos: um espírito filosófico, se for céptico, pode perfeitamente passar sem a ilusão de um fundamento verídico e viver sem matar nem furtar, e até sem ensinar o assassínio e o roubo —porque, para tal, precisaria primeiro de acreditar nisso... Flume afirmava, justamente, que o cepticismo não devia acompanhar mos na vida quotidiana e que, aliás, não conseguiría; continuaremos a jogar às cartas, a gostar de conversar e a acreditar que o Sol se levantará amanhã, visto a natureza ser a mais forte. Só um estoico poderia imagi nar que, à força de se imbuir da ideia de que o amor não é mais do que a fricção de duas epidermes (como diz Marco Aurélio, em termos mais crus), se poderia tornar dono da libido. A natureza leva a melhor, ima gino eu, até na escolha das nossas leituras: deixamos de duvidar para ler os filósofos —que são tão interessantes e inteligentes (Santo Agostinho, entre outros, o leitor talvez se lembre). «O trabalho monumental de Gueroult desencorajou as pessoas de se interessarem por Fichte», dizia uma noite Foucault, «no entanto, ainda deve haver coisas interessantes para descobrir em Fichte». Por se ser céptico não se é menos homem; ora, segundo o próprio Husserl, os instintos fundamentais do homem são o gregarismo, a conservação e também a curiosidade 303.
302 O filósofo Jules Vuillemin, muito ligado a Foucault, cuja eleição no Collège de France propôs e apoiou, nem por isso deixou de expor, no seu elogio fúnebre, pronunciado no Collège em 1984, que a filosofia do defunto consistia em negar aquilo em que sempre se acreditara, designadamente, a verdade, a normalidade e a moralidade. 303 A. Diemer, E d m u n d H u sse rl, Versuch eirter s y s te m a tis c h e n D a r s te llu n g d e r P h a n o m e n o lo g ie , Meisenheim, 1965, p. 101. O interesse, esse objecto da curiosidade, é uma motivação na qual se pensa demasiado pouco. E porém uma motivação específica e tão importante como qualquer outra; não se confunde com nenhuma outra e o seu papel na história é grande (o povo romano interessava-se tanto pelos jogos do circo que esquecia,
119
FOUCAULT, ü PENSAMENTO, A PESSOA
Os homens são mais quotidianos do que metafísicos (não, esta não é uma proposição de antropologia geral, esse saber a que chamei vão, mas sim um provérbio, ou um aspirante ao posto de provérbio). Ser céptico é estar dividido na sua cabeça, mas vive-se bastante bem assim e só é perigoso no papel. É possível não ter ilusões e ser-se ainda mais resoluto, como era o caso do meu herói. Que nos importa o que o futuro vier a pensar de nós? A nossa temporalidade é feita da nossa actualidade. Olhem para os estudantes; estudam Platão, mas entusiasmam-se sobretudo com os filósofos vivos, com os do seu tempo; olhem para os artistas, fazem todos a mesma coisa ao mesmo tempo, designadamente o que se faz agora. Diga-se, a propósito, que o papel de pivô da actualidade, mais decisivo na temporalidade humana do que o passado e o futuro (pode pensar-se que Heidegger, Gadamer e Sartre não estariam completa mente de acordo com este julgamento) funciona também em matéria de moral. Pensemos no fim da escravatura ou da colonização por volta de 1850, e nos anos 1950, houve na sua localização uma mudança de redoma. A antiga redoma, o antigo discurso dos escravos e das colô nias tornou-se caduco na actualidade e apareceu retrospectivamente tão antiquado quanto as lamparinas a óleo e a navegação à vela; enquanto,304 pretende Juvenal, a alta política). A filosofia, as corridas no circo, o futebol e a cultura em geral, tudo isto é interessante (o prazer da música ou da poesia são outra coisa, apesar das artes, noutros aspectos, serem também interessantes). É lícito pormenorizar os sabores do futebol por oposição ao rugby, mas a especificidade do interesse que engloba ambos, não subsiste menos por causa disso. É por ser interessante, logo, apaixonante, respeitável, educado, que o futebol pode servir paixões públicas, como a religião também o pode fazer, permanecendo igual a si própria, esquivando-se a qualquer reducionismo. Não se pode pretender, excepto por dandismo, que a guerra ou o amor são interessantes, que é interessante ganhar dinheiro ou governar povos: são outras paixões. Também não se pode dizer que assistir à missa seja «interessante». O jogo é outra coisa mais, ao que consta; as emoções do futebolista não são as dos espectadores do encontro, tal como as emoções do romancista não são as dos seus leitores. As proezas, o sabor do perigo e gosto de «superar-se a si mesmo», navegação ou alpinismo, são ainda outra coisa. A especificidade do interesse permanece intacta. 304 Foi muitas vezes referido que as cruzadas éticas contra os escândalos da sua época (a escravatura, o colonialismo) só se iniciam ou multiplicam quando esses escândalos estão votados a uma abolição próxima, ou quando os oprimidos começam a revoltar-se. Não que os cruzados voem para garantir a vitória, mas sentem indistintamente que estes são escândalos herança de um passado bárbaro, que estão condenados pela história e são indignos «da nossa época».
IX. FOUCAULT CORROMPE A JUVENTUDE? DESESPERA BILLANCOURT?
de pleno direito, escravatura e colônias surgiam na nova redoma como contrárias a toda a equidade. Por volta de 1960, a colonização da Argé lia tornara-se caduca e utópica aos olhos de De Gaulle e de Ravmond Aron (as «colônias» com os seus «indígenas»! Estas palavras estavam tão ultrapassadas quando a própria coisa); aos olhos das gentes de esquerda era pura e simplesmente intolerável. As mudanças de discurso podem assim segregar a ilusão do progresso de uma imperiosa e intemporal consciência ética. Pode a humanidade passar sem mitos como os desta consciência e deste progresso? Não sei, mas não a vemos dispensá-los, como não dispensa a religiosidade nem a curiosidade filosófica. Apesar de todos os Nietzsche e os Foucault deste mundo, gosta de invocar a Verdade e considera verdadeiro aquilo em que quer acreditar. «Mitos» é um termo demasiado carregado de sentidos múltiplos, falemos antes de engodos. O calvinismo foi o engodo da economia capitalista. O termo engodo surgiu ocasionalmente pela pena de Foucault, e sentimo-nos tentados a dizer que é a gratuidade primeira das estetizações: estas não respondem a uma necessidade (criando-a antes) e não visam qualquer fim —aqueles que pretendem perseguir são pretextos, como a salvação, a tranquilidade da alma, o nirvana, etc. A sua energia provém da sua liberdade, de uma pulsão do eu, da misteriosa «caixa negra» íntima, mais do que de qualquer doutrina persuasiva: esta serve unicamente de engodo, de racionalização e de campo de treino. Em 1968, Foucault, professor em Tunes, assistiu e participou num movimento estudantil que se reclamava do marxismo; uma greve geral foi seguida de uma repressão policial (Foucault foi severamente maltratado) e de detenções em massa. Um dos adolescentes foi con denado a catorze anos de prisão. Este episódio atingiu profundamente Foucault, que dele falava com emoção e que nele discerniu «a evidência da necessidade do mito, de uma espiritualidade» que dá «gosto, capa cidade e possibilidade de um sacrifício absoluto, sem que nisso possa ser surpreendida a menor ambição ou o mais pequeno desejo de poder ou de l u c r o Efectivamente, «a formação marxista dos estudantes tunisinos não era muito profunda nem pretendia sê-lo í()6»; a precisão da teoria e o seu carácter científico eram para eles «questões totalmente secundárias que funcionavam mais como um engodo do que como3056
305 DE, IV, p. 79. 306 Ibidem.
121
:
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
princípio de conduta». Um engodo é, por exemplo, as más razões (mas poderão existir boas?) que damos para justificar o que desejamos fazer; quando uma velha senhora condena a pena de morte por ingênuas e más razões, não deixa de ter razão no sentido iü': ela sabe o que quer. No terreno prático da acção, o irracionalismo foucaultiano resulta num decisionismo individual.
Em política, decida-se o que se quiser, mas não se disserte Porque, ao lado do historiador genealogista de que falámos até agora, havia em permanência, em Foucault, um militante (cujo programa não era minimamente o do activista de 1960 que consta da lenda). Nas nossas cabeças de modernos, dizíamos nós, enredam-se a tristeza historiadora do cemitério das certezas defuntas e a imperiosa continuação da vida. Foucault resolveu esta contradição cortando pura e simplesmente o nó górdio; lembremos a regra que ele propôs: «Não utilizeis o pensamento para dar a uma prática política um valor de verdade» 307308. O decisionismo dispensava Foucault de fundar as suas acções militan tes na verdade, em doutrinas. E o sábio que ele era não pregava qualquer política aos seus ouvintes nem nos seus livros; as suas próprias escolhas políticas nem sempre estavam em sintonia com os seus livros ou com o respectivo ensino. Sucede que a história genealógica põe a nu a arbitra riedade de todas as instituições e a gratuidade de todas as certezas, de maneira que os leitores e ouvintes do sábio podiam aí sorver motivos para militarem nalgum ponto contra a ordem estabelecida. E possível que o sábio tenha sentido tácitamente alguma satisfação. Do mesmo modo, á regra que acabo de enunciar segue-se imedia tamente uma segunda: «Não utilizeis a acção política para desacreditar um pensamento como se ele fosse uma pura especulação». Não se tratava aqui, escreve Jean-Claude Passeron, de um desdobramento do pensador reclamado por Foucault, mas de uma clara articulação entre duas práticas incomensuráveis; a análise científica ou filosófica pode motivar intervenções
307 Ibidem, p. 756. 308 DE, III, p. 135.
IX. FOUCAULT CORROMPE A JUVENTUDE? DESESPERA BILLANCOURT?
políticas3(We não deve, pois, ser desdenhada510. Segundo o testemunho de Passeron, «ele nunca escondeu aos seus amigos mais analíticos que as suas revoltas políticas eram antes de mais ataques de desejo, nem aos polemistas profissionais que os seus ataques de ira tinham origem numa interrogação filosófica». «A crítica é aqui entendida como a análise das condições históricas segundo as quais se constituem relações com a verdade, com a regra e consigo próprio»30931311312. O foucaultismo é uma crítica da actualidade que se abstém de ditar prescrições para a acção, mas que lhe fornece conhecimentos. O que, no ano da sua morte, o levou a propor uma nova concepção da filosofia cuja paternidade ele atribui a Kant (mas pensava nisso havia já quinze anos, como demonstra uma página hesi tante da Arqueologia do Saber512). Num opúsculo intitulado Qu’est-ce que les Lumieres?, o filósofo alemão da época das Luzes procurava caracterizar o seu próprio tempo. O Aufklarüng aí se designa a si mesmo Aufklarüng-, os homens de um certo século, o XVIII, puderam dizer «nós outros, homens do século XVIII e das Luzes», e sentiram-se diferentes dos seus antepassados. Kant não procura caracterizar a época em que viveu em si mesma: ele «procura uma diferença: que diferença hoje introduz em relação a ontem? 3H». Segundo Foucault, o que entendemos por filosofia poder ia, doravante, não consistir já em fazer científicamente a exegese do passado nem em pensar a totalidade ou o futuro, mas em dizer a actualidade e, à falta de melhor, caracterizá-la negativamente, «diagnosticar o presente, dizer o que é o presente, dizer em que é que o nosso presente é diferente e
309 J.-Cl. Passeron, Découverte, 2008.
Itin é r a ir e d ’u n so cio lo g u e: tra m e s, b ifu r c a tio n s , r e n c o n tre s,
ed. La
310 Como acontece frequentemente que o seja pelos políticos e, nomeadamente, dizia-me Foucault por volta de 1982, pelos socialistas (subentendido: «apesar de um pensador crítico como ele poder naturalmente parecer mais próximo da esquerda do que dos conservadores»), 311
DE,
IV, p. 580.
312 L ’A rc h é o lo g ie d u S a v o ir , pp. 171-172: Ao relembrar que os nossos próprios pres supostos permanecem irreconhecíveis e incontornáveis para nós mesmos, Foucault hesita; a arqueologia deverá estudar preferencialmente o passado mais longínquo? Mas pode ela renunciar a conhecer-se a si própria, e a estudar portanto o passado imediato, para nos definir pela nossa diferença mais próxima? 313
DE,
IV, pp. 564 e 680-681, e ainda III, p 783.
123 i
í
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
absolutamente diferente de tudo aquilo que não é ele3I4315». O nosso autor já não concebe outra filosofia possível além desta crítica histórica; fora dela não há nada que valha na nossa época: «O que é, pois, a filosofia hoje —quero dizer a actividade filosófica —, se não for o trabalho crítico do pensamento sobre si próprio31s?». Como já se viu, pensamos, em cada momento, no interior de um discurso que não se pode conhecer a si próprio, mas que permite pelo menos constatar que pensamos diferentemente do que pensaram os homens de outrora. Melhor ainda, bastará que se forme o projecto de uma genealogia ou de uma arqueologia e que se manifeste a possibilidade desse recuo, para que nos reencontremos à distância de nós mesmos e do nosso hoje 3I6. Este projecto escava debaixo de nós um abismo: «nós somos diferença» e não sabemos mais do que isso31'. Semelhante iniciativa de diferenciação é mais do que história, merece o nome de filosofia porque é, negativamente, uma reflexão sobre nós mesmos e também porque incita a reagir. Efectivamente, a história arqueológica semeia a dúvida; doravante uma fissura, uma «fractura v irtu al318», listrará o nosso eu bem como as nossas evidências: não lhes toqueis, estão quebradas. Ou, pelo contrário, tocai-lhes, se decidis fazê-lo: a nova filosofia em questão é «a história indispensável à política319». Esta nova filosofia faz com palavras aquilo que a liberdade pode cumprir diariamente: pensar, reagir, problematizar 320 activamente a nossa posição tal como o dispositivo a fez321. A ontologia diferencial de nós próprios é uma exegese histórica dos nossos limites que torna possível a superação deles 322. Pensar a sua própria história é «libertar o pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente e permitir-lhe pensar diferentemente, em vez de legitimar aquilo que já se sabe 323»,
314 Ver sobretudo DE, I, p. 665 e IV, p. 568; cf. I, pp. 580 c 613; III, p. 266. 315 DE, IV, p. 543. 316 DE, I, p 710. 317 L’Arcbéologie du Savoir, p. 172. 318 DE, IV, p. 449. 319 DE, III, p. 266. 320 Sobre a noção de problematização, DE, IV, pp. 670 e 612. 321 DE, IV, p. 597. 322 Ibidem, p. 575 e 577. 323 L’Usage des plaisirs, p. 15
124
IX. FOUCAULT CORROMPE A JUVENTUDE? DESESPERA BILLANCOURT?
como fazia com demasiada frequência a antiga filosofia. A genealogia da racionalidade faz vacilar as certezas e os dogmatismos melhor do que fariam raciocínios 524: Foucault é ávido em «escamar algumas evidên cias», mostrar que aquilo que ê nem sempre foi, poder ia não ser e é um mero produto de determinados acasos e de uma história precária 32\ A filosofia torna-se uma «crítica permanente do nosso ser histórico» para relançar «o trabalho indefinido da liberdade i26», essa historicidade que não conduz a nenhum fim da história. Podemos conhecer científicamente o percurso passado da espécie humana, podemos pôr em dúvida o nosso presente, mas não teremos ciência positiva da humanidade, do seu destino, da sua crrância. E essa negatividade sem totalidade talvez se deva ao próprio ser do homem, animal errático do qual nada mais há a saber do que a sua história. Esse Foucault é um longínquo continuador das Luzes e um discípulo mais próximo do Nietzsche voltairiano, da Aurora ou da Gaia Ciência-, derrama sobre os erros, ilusões e logros, uma claridade susceptível de os matar. Mas, como pensador, não irá mais longe, não acabará com eles com as próprias mãos. Como homem, como militante, Foucault não era mais partidário de 68 do que foi estruturalista; não acreditava nem em Marx, nem em Freud, nem na Revolução nem em Mao —escarnecia em privado dos bons sentimentos progressistas, e não lhe conheci qualquer posição de princípio sobre os grandes problemas, como o terceiro mundo, a sociedade de consumo, o capitalismo ou o imperialismo americano. Porque, também aqui, a finitude é devastadora, separa irremediavelmente o sábio e o partidário. Uma surpresa espera-nos porém: Foucault opunha-se tácitamente a Raymond Aron, mas o mais radical dos dois não era aquele que podemos imaginar; Aron não acreditava que o corte entre o sábio e o político fosse tão profundo quanto pensava Max Weber (que era demasiado nominalista a seus olhos) —era o pretenso extremista de Vincennes que achava irremediável esse abismo. Uma vez que todas as coisas foram feitas, escreve Foucault, também «podem ser desfeitas, na condição de se saber como foram feitas». Mas as «descrições» genealógicas que o professor Foucault traçava perante os32456
324 DE, IV, p. 160. Cf. IV, p. 779: «Todas as minhas análises vão contra a ideia de necessidades universais na existência humana. Elas sublinham o caracter arbitrário das instituições.» 325 Ibidem, pp. 30 e 449. 326 DE, IV, pp. 571, 574, 680.
125
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
seus numerosos ouvintes «nunca têm», dizia ele ainda, «valor de prescri ção 327»; cada qual fará delas o que entender. «O papel de um intelectual consiste em arruinar as evidências, dissipar as familiaridades adquiridas; não consiste em modelar a vontade política dos outros, de lhes dizer o que têm de fazer. Com que direito o faria?» 328; é «irrisório querer fazer a lei dos outros» 329. Ano após ano, no início da sua primeiro aula, o professor repetia: «Eis como, grosso modo, me parece que as coisas se terão passado, mas recuso-me a dizer: “eis o que deveis fazer”, ou ainda, “isto é bom, aquilo não”. » 330 Se o genealogista não pode querer no lugar dos outros, pode, em contrapartida, «ensinar às pessoas o que não sabem sobre a sua própria situação, sobre as suas condições de trabalho, sobre a sua exploração»; este jogo de verdade opor-se-á ao jogo de verdade dos exploradores331. No início de outro curso 332, ele declarava, substancialmente: Não vos direi: “eis o combate que devemos travar”, porque não vejo nenhum fundamento para poder dizê-lo, exceptuando talvez o critério estético (isto é, sem razão, sem qualquer justificação possível além do prazer, o qual não se discute mais do que os gostos ou as cores). Em contrapartida, vou descrever-vos um certo discurso actual do poder, como se desdobrasse diante de vós uma carta estratégica. Se quiserdes combater, e consoante o combate que escolherdes, aí vereis onde se encontram os focos de resistência, onde estão as passagens possíveis. Com os seus ouvintes, Foucault tinha a relação do príncipe e do seu conselheiro. O príncipe disse: “Quero a felicidade do meu povo”; o sábio conselheiro diz-lhe então, “Se tal é a vossa decisão, eis os meios que devereis adoptar para alcançar os vossos fins”. A reflexão política não é totalmente impossível; mas uma vez escolhidos os fins, por livre escolha ou até por real capricho, a reflexão só pode recair sobre a racionalidade
327 Ibidem, p. 449. 328 DE, IV, p. 676. 329 L’Usage des plaisirs, p. 15. 330 DE, III, p. 634. 331 DE, IV, p. 724. 332 Sécurité, territoire, population. Coursau Collège de France 1977-1978, Hautes Études-Gallimard-Seuil, 2004, p. 5.
IX. FOUCAULT CORROMPE A JUVENTUDE? DESESPERA BILLANCOURT?
dos meios e não sobre uma impossível racionalidade dos fins em si. E isto não se deve a que os julgamentos de facto («isto é racismo») sejam distintos dos julgamentos de valor («é mau ser racista») e de não se poder retirar nenhum dever ser daquilo que é: deve-se, sim, à finitude. Cada um tem a tarefa de querer e saber aquilo que quer, sem poder sacudir esse cuidado para cima das Tábuas da Lei ou sobre um dos seus sucedâneos — natureza, tradição, autoridade, ideal, utilidade, carácter inato, simpatia, imperativo categórico, sentido da história. Foucault limitava-se a dizer que as suas opiniões, tomadas de posição e interven ções eram uma escolha pessoal sua que não justificava nem impunha, porque nenhum raciocínio poderia provar a sua justeza. «Não dou um passo em frente como o combatente universal [...]. Se eu luto, por esta ou aquela razão, faço-o porque, de facto, essa luta é importante para mim, na minha subjectividade ” s». Ele militava contra os redutos de alta segurança nas prisões francesas, que considerava insuportáveis, ora, «quando é insuportável, já não se suporta», concluía ele para abreviar o comentário filosófico da sua idiossincrasia política (como diz Passeron). E, em Vincennes, deplorava-se o que as suas escolhas de acção e recusas de agir tinham de caprichoso. Houve um serão em que Foucault e eu estávamos a ver, na sua minúscula televisão, uma reportagem sobre o conflito israelo-palestiniano. Surge no ecrã um combatente de um dos campos (não importa qual), que declara: «Desde a minha infância, bato-me pela minha causa, é assim, sou feito disto, e não direi mais». «Finalmente, chegámos ao que interessa», exclamou Foucault, feliz por se sentir dispensado de uma tagarelice que, na melhor das hipóteses, teria sentido como retórica política ou propaganda. Imagine-se um instante uma cidade onde não se discutiriam grandes ideais nem preferências estéticas, Bizâncio sem querelas bizantinas... Eu sou, pela parte que me toca, americanófilo e partidário da energia nuclear bem como da tourada” 4: vou incomodar a vizinhança com as minhas preferências? Mas é raro que nos abstenhamos de nos darmos razão; cedemos geralmente àquilo a que Foucault chamava de vontade de verdade.34 333 DE, IV, p. 667. 334 Em 2007, convém ser anti-americano, contra as OGM (ou a energia nuclear) e a tourada (ou a caça). Ao ler os papéis póstumos de Nietzsche, é divertido saber que, cm 1885, louvava-se Richard Wagner por «aliar tudo o que há de bom hoje em dia: ele é antisemita, vegetariano e detesta a vivissecção» (CEuvres philosophiques completes, vol. XI, p. 414).
127
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
Sucede que nos contentemos com o enunciado da nossa escolha, como um facto bruto; um patriota talvez diga, «right or wrong, my country». Mas sentirá mais frequentemente a necessidade de afirmar que a sua pátria tem razão ou que a verdadeira moral está em tomar o partido da sua pátria, de tal modo c potente a vontade de verdade. Para citar Santo Agostinho333, «ama-se tanto a verdade que, se se amar algo diferente déla, quer-se que aquilo que se ama seja a verdade». Será preciso dizé-lo, as nossas justificações são sofismas, julgamos a verdade de acordo com as nossas escolhas e não escolhemos mediante a verdade, e são as nossas escolhas que fazem aparecer os fins33533637. Todos estão neste ponto, incluindo os numerosos defensores do logos, da verdade, da razão e do entendimento. Espinosa ensinava-o 337: não desejamos uma coisa porque a consideramos boa; mas, ao contrário, julgamos que uma coisa é boa porque a desejamos. Esta vontade de verdade procura, certam ente, tranquilizar-se, porque pode tornar-se um instrum ento de poder, propaganda, e sabe-se qual é o poder da linguagem 33839. Além disso, a vontade de verdade é contingente; é mais vincada no Ocidente do que noutros pontos, está organizada em ciências poderosas, oficiais, imperiosas. Alguns espíritos, porém , esquivam-se à vontade de verdade; é menos frequente que sejam filósofos, com o seu logos, do que homens da segunda função, segundo Dumézil guerreiro com o seu ardor, a sua ira, o seu thymosi39. O ra, Foucault era um guerreiro, e um guerreiro não vai construir frases, advogar, dizer que tem razão: não está indignado, está irado; desposou a sua causa, ou antes, esta desposou-o a ele, bate-se por ela e não está disposto a discutir. Não está convencido, mas resolvido («ter convicções é ser-se tolo», disse ele um dia). Reencontramo-nos sob o céu rasgado entre os deuses, de que fala Max Weber. Talvez se objecte: «Mas por que motivo quererão as pessoas mudar as coisas, se não têm qualquer razão para o fazer?». Efectivamente, mas
335 Confessions, X, 25, 34. 336 DE, I, p. 619. 337 Ética, III, 9, escolio. 338 «“Olha Tartufo: ele é gordo, é feio, mas seduz a casa inteira apenas com pala vras.” O título da peça poder ia ser Tartufo ou o psicanalista», dizia Foucault, que se deliciava com Tartufo e ia ver todas as suas encenações. 339 Platão, República, 440b e seguintes.
IX. FOUCAULT CORROMPE A JUVENTUDE? DESESPERA BILLANCOURT?
o facto está aí: não sendo intelectuais cartesianos, decidem-se sem boas razões, inventando geralmente uma; e aqueles que nada querem mudar, também não têm razão. Há em Foucault um voluntarismo, à falta de melhor; ele não decide que é preciso querer aquilo que se quer, julga cons tatar que é assim que os homens se comportam. O facto de se querer fazer pensar a sua verdade a todos os homens, de se querer o bem de outrem - como ele gostava de dizer - , era-lhe pessoalmente odioso. E era isto que o cristianismo, o marxismo e, infelizmente 340, as sabedorias pagãs já faziam. Foucault voltava incessantemente a este ponto: «é uma questão que me diz pessoalmente respeito quando eu decido, a propósito das prisões, dos asilos psiquiátricos, disto ou daquilo, de me lançar a um certo número de acções 341»; ou ainda, «nunca me comporto como um profeta, os meus livros não dizem às pessoas o que devem fazer» 342. Ele próprio, como se viu, lutava pelo que lhe importava «na [sua] subjectividade». A dita subjectividade não era puro capricho, estava fundada numa experiência pessoal e numa competência. A Polônia oprimida foi uma das suas causas mais caras 343; porque ocupara um posto na embaixada francesa em Varsóvia, porque vira a bota soviética pesar sobre o país e porque conhecera a «miséria socialista e a coragem de que necessita» 344. Já falei da sua denúncia dos crimes estalinianos. Havia também nele uma simpatia profunda pelos excluídos, os oprimidos, os revoltados, os mar ginais. Daí a amizade apaixonada (nada mais, nada menos) que me disse ter sentido certa altura por Jean Genet. Melhor é deixar falar uma testemunha participante: acontecia a Fou cault sentir «a urgência de preparar um golpe político sobre a desumani dade dos complexos de alta segurança ou sobre outra dessas causas ditas, por miopia, apolíticas, que sempre haviam deixado indiferentes partidos revolucionários e caridades religiosas, emoções populares e petições de
340 D E , IV, p. 673. Como diz Peter Brown, em L ’E ssor d u c h r is tia n is m e o c c id e n ta l, trad. Chemla, Seuil, 1997, p. 174, com os cristãos, o cuidado de si torna-se cuidado pelos outros, por condescendência (s y n k a ta b a s is ) no sentido primeiro do termo. 341
DE,
III, p. 634; cf.
342
DE,
IV, p. 536.
343
Ib id e m ,
DE,
IV, p. 667.
pp. 211-213, 261-269, 338-341, 344-346, etc.
344 Como se podia ler na sobrecapa de (cito de memória).
L ’H is to ir e de la f o l i e ,
em edição original
FOUCAULT, O PENSAMENTO, A PESSOA
sábios progressistas 3453467». Militou pela legalização do ab o rto í46, mas recusou, aquando da eleição presidencial de 1981, associar-se aos apelos a favor de Mitterand, uma vez que um intelectual não é um director de consciência. Ciente do dilema entre retórica e filosofia, entre propaganda e cepticismo, ele não argumentava a favor das suas causas: procurava antes suscitar indignações e esperava que um punhado de indignados viesse até si. Não fazia das grandes questões um hábito, mas não deixava de militar a favor de reformas. Quando seguimos a sua biografia, mês a m ês