Palavra de Deus nas narrativas dos homens (A) 9788515029761, 8515029766
255 42 5MB
Portuguese Pages 145 [143]
A Palavra de Deus narrativas dos homens
Prefácio
Narrar histórias e escrever a história
Criação, dilúvio, torre de Babel. Narração das origens e origens da narração
Abraão e os patriarcas, atores da história ou figuras legendárias?
David e Salomão. Grandes reis ou pequenos arquétipos locais?
Israel e Judá no vórtice da política internacional
Historia e narrativa, arte e poesia
Breve bibliografia
Tabelas cronológicas
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Jean-Louis Ska
File loading please wait...
Citation preview
Jean Louis Ska
A Palavra de Deus nas narrativas dos homens
TRADUÇÃO:
Aida da Anunciação Machado
Edições Loyola
Título original: La Parola di D io n ei racconti degli uom im
© Cittadella Editrice, Assisi, 2000 Ia ed. ottobre 1999 ISBN 88-308-0696-X
P reparação: Albertina Pereira Leite Piva D iagramaçâo: Ademir Pereira R evisão: Mauricio Balthazar Leal
Edições Loyola Rua 1822 nö 347 - Ipiranga 04216-000 São Paulo, SP Caixa Postal 42.335 - 04218-970 - São Paulo, SP (§ ) (11) 6914-1922 ( D (11) 6163-4275 Home page e vendas: www.loyola.com.br Editorial: [email protected] Vendas: [email protected] Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma e/ou quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação) ou arquivada em qualquer sistema ou banco de dados sem permissão escrita da Editora.
ISBN: 85-15-02976-6 © EDIÇÕES LOYOLA, São Paulo, Brasil, 2005
Sumário PREFÁCIO..........................................................................................
9
Capítulo 1 NARRAR HISTÓRIAS E ESCREVER A HISTÓRIA................. I. A história antiga e o mundo da televisão................... II. A história antiga e a Pietà de M ichelangelo................. III. A "verdade" das narrativas bíblicas................................ IV. História e histórias.................................................................
15 16 16 17 18
Capítulo 2 CRIAÇÃO, DILÚVIO, TORRE DE BABEL. NARRAÇÃO DAS ORIGENS E ORIGENS DA NARRAÇÃO............................... 25 I. A criação do mundo (Gênesis 1 - 2 ) .............................. 25 II. O dilúvio (Gênesis 6 - 9 ) ..................................................... 31 III. A torre de Babel (Gênesis 11,1-9)................................... 34
Capítulo 3 ABRAÃO E OS PATRIARCAS, ATORES DA HISTÓRIA OU FIGURAS LEGENDÁRIAS?....................................................... I. Introdução: as narrativas patriarcais e o início da "história de Israel” ........................................................... IL A historicidade dos patriarcas ou da época patriarcal III. A data de redação de alguns textos-chave.................... IV. A intenção das narrativas...................................................
37 37 38 45 47
Capítulo 4 MOISÉS. DO PALADINO PRÉ-DAVÍDICO AO FUNDADOR DO ISRAEL PÓS-EXÍLICO........................................................... I. O quadro histórico da narrativa b íb lica ...................... II. O personagem M oisés...................................................... III. A escravidão dos hebreus no Egito (Êxodo 1 e 5 ) ...... IV. As pragas do Egito (Êxodo 7 - 1 2 ) ..................................... V. A saída do Egito e a passagem do mar (Êxodo 13-15) VI. A permanência no deserto.............................................
51 51 52 53 56 58 63
Capítulo Quinto CONQUISTA DA TERRA, SEDENTARIZAÇÃO DE PASTORES NÓMADES, REBELIÃO CAMPESINA OU EVOLUÇÃO SOCIAL?....................................................................................... 73 I. O livro de Josué e a arqueologia.................................. 73 II. As teorias sobre a posse de Israel na terra de Canaã. 75 ■ III. O livro de Josué e o espírito das bem-aventuranças . 87
Capítulo Sexto DAVID E SALOMÃO. GRANDES REIS OU PEQUENOS ARQUÉTIPOS LOCAIS?........ ........................................................ 91 I. O livro dos Ju íz e s.............................................................. 91 II. A monarquia de David e Salomão................................ 92 III. Roboão, Jeroboão e Shishaq, Faraó do Egito............... 96 IV. O reino do Norte e a casa de O m ri................................ 96 V. O reino de Iehu (841-814 a .C .)...................................... 104 VI. O tributo de Joás, rei de Israel (798-783 a .C .)...........109
Capítulo Sétimo ISRAEL E JUDÁ NO VÓRTICE DA POLÍTICA INTERNACIONAL............................................................................ 113 I. O fim do reino do Norte (722/721 a .C .)......................... 113 II. As campanhas de Sargon II (721-705 a.C.) contra a Filistéia................................................................................. 114
III. A campanha de Senaquerib (705-681 a.C.) contra Judá em 701 a.C................................................................... 116
Epílogo HISTÓRIA E NARRATIVA, ARTE E POESIA............................. 135 BREVE BIBLIOGRAFIA...................................................................139 TABELAS CRONOLÓGICAS......................................................... 141
Prefácio
O objetivo deste pequeno volume é colocar à disposição de um vasto público as conferências e discussões de dois semi nários que se realizaram, respectivamente, um em Roma, em fevereiro, e o outro em Gênova, em abril de 1999. As conferên cias, seguidas de debates, tinham como intuito introduzir em uma leitura simples da Bíblia. Um dos temas tratados foi a liga ção entre as "histórias" da Bíblia e a "história" como definida em um mundo moderno, quer dizer, os acontecimentos cuja "histo ricidade" pode ser assegurada com base em documentos e teste munhos que merecem consideração. O problema em pauta era delicado. Com efeito, por um lado, a teologia tradicional afirma que o Deus da Bíblia é um Deus "que age na história", ao contrário das "divindades pagãs", que pertencem ao mundo imaginário do mito. Para a teologia cristã, é realmente fundamental poder asseverar a radicação histórica das afirmações de fé. Compreender-se-á de imediato que um dogma como o da encarnação deve possuir, necessariamente, uma forte ligação com uma história concreta e, para aquele que crê, que seja de algum modo suscetível de verificação. De fato, as afirma ções centrais do Novo Testamento estão fundadas sobre o que as primeiras testemunhas experimentaram, e não sobre lendas, es peculações ou teorias abstratas. "... O que ouvimos, o que vimos
com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos tocaram... damos testemunho e vos anunciamos”, como diz o início da pri meira carta de João (lJo 1,1). Para o Antigo Téstame nto, a situação não é muito diferen te. Deus se apresenta com freqüência como “o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito” (cf. Ex 20,2). Se essa afirmação não corresponde a alguma realidade concreta, a algum aconte cimento de certo modo passível de demonstração, a fé de Israel parece estar construída sobre areias movediças. O Antigo Testa mento apresenta um Deus que guia seu povo em todas as vicis situdes de sua história. Portanto, também neste caso, a ligação entre fé e história é essencial. Por outro lado, os recentes estudos, que de quando em quando têm um eco até mesmo na imprensa, afirmam que é cada vez mais difícil 1er as narrativas bíblicas como narrações “historiográficas”, ou seja, como relatos exatos dos fatos aconte cidos. É preciso defender a posição usual e afirmar a "histo ricidade” fundamental das narrações bíblicas? Ou abandonar posições um tanto retrógradas para dedicar-se a uma crítica des regrada de toda a "história bíblica”, que não incluiria nada ou quase nada de "histórico"? Como se sabe, a posição correta evita os dois extremos. Isso é válido também no campo da exegese. De nada adianta, também, polemizar sem antes haver tomado conhecimento do dossiê. Posições muito obstinadas ou demasiadamente ousadas, em geral, não resistem por longo tempo. É preciso, pois, encon trar um "caminho intermediário”, e é o que pretende fazer este pequeno volume. Para percorrer esse “caminho intermediário”, convém pro ver-se de alguns instrumentos que serão indispensáveis para a viagem. A primeira ferramenta a ser posta na bagagem é o co nhecimento de quanto sucedeu no século passado no campo do estudo da história bíblica. Para muitos autores dessa época, que estudaram os escritos bíblicos do ponto de vista da "historicidade", as narrativas bíblicas não nos revelam muito sobre o mundo que descrevem (o "mundo do texto”), mas bastante sobre o "mundo
dos autores”. Em outras palavras, o primeiro nível de "história” que podemos atingir quando lemos a Bíblia é o de quem escre veu. As narrativas bíblicas testemunham, pois, preocupações, interesses, debates e uma visão do mundo da época de seus au tores. Para tomar um exemplo muito simples, mas talvez um pouco ousado, os autores dessa tendência diriam que o evange lho de Mateus não nos informa tanto sobre o que Jesus pregava na Tterra Santa quanto sobre o que e como se pregava nas comu nidades de Mateus. Um segundo exemplo será talvez ainda mais fácil de compreender. O relato da criação em Gênesis 1 não quer descrever com exatidão como Deus criou o mundo. Antes, explica-nos como seus autores, os autores sacerdotais do século VI antes de Cristo, viam o universo. Compreende-se desde logo que esse conhecimento deve rá ser utilizado com a devida cautela. Entretanto, quem se recu sa a priori a tomar consigo tal “manual”, não pode hoje percorrer essas paisagens sem se perder. Menos ainda poderá galgar os escarpados de uma leitura inteligente da Bíblia no mundo de hoje. Essa simples distinção entre "mundo da narração” e "mun do do autor" é fundamental. Certamente não a adotaremos mui tas vezes de modo explícito, mas estará sempre no back-ground, a saber, no fundo de nossas pesquisas. O segundo instrumento útil será certo senso crítico. O mun do hoje tornou-se "crítico” no sentido positivo da palavra. Vale dizer, nenhuma pessoa inteligente de hoje lê a Bíblia de modo "ingênuo” e infantil. Não é possível tomar a Bíblia "ao pé da le tra”, segundo uma filosofia inspirada de modo mais ou menos consciente no fundamentalismo, sem fugir ou afastar-se dos con temporâneos e principalmente do mundo que reflete com rigor e honestidade sobre os fundamentos da existência humana. Quem busca hoje o sentido da vida, seja cristão ou não-cristão, não pode contentar-se com respostas prontas, com lugares-co muns e fórmulas passe-partout, à guisa de chave-mestra. Não se pode mais 1er a Bíblia do mesmo modo que se vai a um restau rante fast-food, com a finalidade de consumir um alimento já pronto, homogeneizado e padronizado, que não varia nem com
as estações, nem com o clima, nem com os países, nem com as latitudes. A Bíblia não oferece respostas “já prontas" a perguntas já homologadas. Requer a possibilidade de tomar certa distância, exatamente a "distância crítica", que permite ver as coisas na justa perspectiva. A Bíblia foi escrita há muito tempo, em um outro mundo, em uma outra cultura, e para responder às per guntas desse mundo antigo, que, todavia, está na origem de nos sa fé e de nossa cultura cristã. Só depois de haver tomado essa distância e reposto cada coisa em seu contexto adequado, podese começar a compreender o que a Bíblia quer nos transmitir. É preciso aprender a fazer perguntas justas para obter as respostas adequadas. Depois, poder-se-á naturalmente "atualizar" a mensa gem. Seria, porém, uma ilusão perigosa, e é precisamente a ilu são do fundamentalismo pensar que a linguagem da Bíblia seja uma "língua” contemporânea e que, por exemplo, as palavras e as imagens tenham exatamente o mesmo significado. As manei ras de escrever e de contar também são diferentes e, para chegar ao nosso ponto mais importante, o modo de conceber a "história" e o modo de escrevê-la são diversos. Não se pode deixar de levar em conta esse fato continuamente. E só quem realizar esse esfor ço poderá comunicar a seus companheiros as riquezas descober tas quando, ao retornar, irá partilhar pelos caminhos e pelas pra ças de nosso mundo as riquezas de seu novo saber. O terceiro instrumento que o leitor fará bem de introduzir em sua mochila antes da partida é uma boa dose de gosto pela aventura. Falo do gosto pela descoberta, certa curiosidade inte lectual e espiritual, o gosto de explorar terrenos desconhecidos e atravessar regiões completamente novas. Isso implica também, com certeza, a capacidade de avaliar os perigos e calcular os riscos. Tbdavia, quem teme os riscos não poderá degustar o sal da verdadeira vida. "Quem tiver a própria vida assegurada perdêla-á” (Mt 10,39), diz o evangelho. E acrescenta: "Quem perder a vida por minha causa vai achá-la” (Mt 10,39). Quem não estiver disposto a perder suas aparentes garantias e frágeis seguranças não poderá provar o verdadeiro banquete que é a Palavra de Deus.
Esse gosto pela aventura comporta ainda outro elemento: a gratuidade. Quem quer descobrir não deve procurar desfrutar imediatamente sua descoberta. Se alguém pergunta a si próprio a cada minuto “qual é o proveito?” e quer a todo custo que as coisas "tenham serventia", se busca apenas coisas úteis, ainda que para sua própria vida espiritual ou em seu próprio benefí cio, deve, antes, permanecer em casa. Não deve tomar em mãos este livro, porque o obrigará a um percurso demasiado exigente, a um percurso deveras extenuante. A aventura, ao contrário, está aberta a quem quer com preender “gratuitamente”, porque é uma alegria, um "prazer verdadeiro" descobrir o sentido de um texto bíblico, poder corri gir visões parciais e superadas, poder aprofundar o sentido da própria fé e dos ideais de uma comunidade cristã. A aventura está aberta para quem sabe que a Palavra de Deus tem um valor em si, e não só porque “é útil para mim”. As coisas verdadeiras deste mundo são coisas que têm um valor em si mesmas. O amor, diz são Bernardo de Claraval, é recompensa para si mes mo. Pode-se dizer o mesmo do esforço da inteligência reta, leal e honesta. Por fim, será muito útil fazer uma generosa provisão de confiança. Confiança na Palavra de Deus, em Deus mesmo e no “sentido da fé”, que é o patrimônio da comunidade dos cristãos e da Igreja de Deus. “Procurai, e encontrareis" (Mt 7,7), diz ain da o evangelho. Quem busca a verdade não poderá estar iludi do. E acrescenta o evangelho de João: “a verdade fará de vós homens livres" (Jo 8,32). Quem se aventura no mundo da exegese sabe que algumas convicções bastante comuns podem ser aba ladas. Que aquilo que parecia intocável mostra-se repentinamen te frágil. A verdadeira fé, porém, é uma busca permanente. Não pode ser confundida com certezas imutáveis, especialmente com formulações que não podem nunca exaurir o conteúdo da expe riência em geral e da experiência de fé em particular. Se o nosso Deus é o Deus da verdade e o Deus da liberdade, não há motivo para temer “perder” algo essencial durante a viagem. Só se pode perder o que se tornou inútil ou que o era há muito tempo. A fé
só se reforça nesse exercício de leitura rigorosa e nessa busca de uma verdade sólida. Nossa fé é como nosso corpo. Ttem necessi dade de exercícios para fortalecer-se. Se faltarem os exercícios, tal como ocorre com o corpo, a fé se enfraquece. Um dos exercí cios que fortalecem a fé é o que consiste em enfrentar com fran queza e serenidade as perguntas que o mundo científico e técni co de hoje lhe dirige. Resta-me apenas uma coisa a fazer: augurar ao leitor, mu nido desses instrumentos e provisões, que faça uma agradável viagem de exploração ao longo das páginas de um livro velho, de mais de dois mil anos, porém sempre jovem. E desejo-lhe que volte para casa, após as fadigas do percurso, com lembran ças inesquecíveis.
h i
Narrar histórias e escrever a história
Tïadicionalmente, a Bíblia se apresenta como um livro de história ou de histórias com um começo, um longo desenvol vimento e um fim. O começo da história coincide com a criação do mundo, e o fim, com a pregação do evangelho no Império Romano do primeiro século depois de Cristo. Antes, poder-se-ia afirmar que nos últimos capítulos do Apocalipse a Bíblia descre ve por antecipação o fim último de toda a história, quer dizer, o fim do mundo. Dito com palavras pobres, a Bíblia contém uma história do mundo desde seu início até seu fim. A história é parcial e fragmentária, e não pretende de modo algum ser exaus tiva, mas dizer o essencial sobre o nosso mundo. Afirma saber como foi criado, como foi constituído, por que existe, qual é a vocação da humanidade no universo e como acabará o universo que conhecemos. A história narrada na Bíblia é a história deste nosso mundo, e é a nossa história. Conta-nos, particularmente, como a humanidade buscou por muito tempo a salvação que lhe foi oferecida em Jesus Cristo. Durante séculos, essas afirmações não criaram qualquer dificuldade no mundo cristão. Hoje, porém, com o surgimento do espírito crítico, as coisas são diferentes, e tornou-se necessá-
rio indagar qual é a ligação entre a "historia narrada pela Biblia” e a "historia real”. De fato, surge a pergunta simples, mas funda mental, no sentido de saber se o que diz a Bíblia “aconteceu verdadeiramente”. Thata-se, pois, de estabelecer com maior pre cisão se a "história” narrada pela Bíblia merece crédito ou não.
I. A história antiga e o mundo da televisão Introduzir essa pergunta no mundo hodierno significa co locar em questão uma de nossas atitudes mais comuns e incons cientes diante da realidade e de nossas imagens da realidade. De fato, nosso mundo é dominado pelos meios de comunicação, em particular pela televisão. Esses meios criam a ilusão — visto tratar-se de uma verdadeira ilusão — de que é possível fornecer imagens fiéis da realidade. O que vemos na televisão seria — segundo a opinião comum — uma fotografia do mundo real. Essa fotografia pode ser parcial, pode ter sido escolhida com cuidado, ou alguns detalhes podem permanecer escondidos. Esquecemos talvez com excessiva ffeqüência ou demasiado rapidamente que as imagens são filtradas, que o ângulo de visão e o enquadra mento são muito estudados, que até a seqüência das imagens e o momento em que são apresentadas não são fruto do mero aca so, e sim de estratégias muito elaboradas. Permanece, porém, verdadeiro que para nós uma filmagem de atualidade é sempre um fragmento de realidade. Não existe, assim pensamos, distân cia entre a fotografia e a realidade fotografada.
II. A história antiga e a Pietà de Michelangelo Não pretendo discutir esta nossa crença, embora talvez fosse oportuno fazê-lo. Quero, antes de tudo, colocar em dúvida a legitimidade de tal atitude no que diz respeito à Bíblia. A histó ria que a Bíblia nos apresenta não é uma filmagem da televisão. Não assistimos nunca aos acontecimentos narrados como se
estivéssemos diante da telinha. Na realidade existe uma distân cia muitas vezes considerável entre os acontecimentos e a des crição dos acontecimentos que encontramos nas Escrituras. Como Michelangelo não pôde tomar como modelos Maria e Je sus para esculpir sua Pietà, porque Maria e Jesus viveram quin ze séculos antes dele, assim os escritores bíblicos, especialmen te os do Antigo "testamento, freqüentemente escreveram muito tempo depois da ocorrência dos acontecimentos que descrevem. Por outro lado, a Pietà de Michelangelo exprime algo da partici pação de Maria na paixão e na morte de seu filho que um sim ples relato jornalístico não teria nunca apreendido do mesmo modo, nem com a mesma intensidade. Michelangelo faz tam bém parte de uma longa cadeia de artistas que representaram essa cena ou cenas semelhantes, cada qual segundo a sensibili dade da própria época. Com efeito, as narrativas bíblicas estão geralmente muito mais próximas das obras de arte, como a Pietà de Michelangelo, do que das manchetes dos jornais ou dos noticiários televisuais. Não visam tanto a uma crônica fiel e detalhada. Procuram, an tes — e em primeiro lugar —, transmitir uma mensagem exis tencial a propósito dos acontecimentos que descrevem. Com pa lavras simples, querem "formar" mais que "informar". O "signifi cado" do evento narrado é sempre mais importante que o “mero fato”, se é que existem em nosso mundo “meros fatos". Assim sendo, a relação dos textos bíblicos com a “realidade" histórica é complexa, e certamente mais complexa que a relação de uma reportagem televisiva com um fato da atualidade.
III. A “verdade” das narrativas bíblicas Portanto, a tarefa destas páginas é dupla. De um lado, é preciso corrigir a nossa representação da "história bíblica". De outro, será necessário definir melhor que tipo de "verdade" en contramos nas Escrituras. Para alcançar esse duplo escopo e convencer-se de que a Bíblia não foi escrita por repórteres que
seguiam personagens e acontecimentos com blocos de aponta mentos e máquinas fotográficas ou câmaras de televisão, faz-se necessário confrontar a história bíblica com os documentos que os estudiosos, historiadores e arqueólogos podem fornecer com relação ao que nos é narrado pela Bíblia. Será muito instrutivo retomar toda a história bíblica, a partir da criação, e indagar-se se as afirmações bíblicas podem ou não ser confirmadas por documentos contemporâneos.
IV. História e histórias Conforme já foi dito, o método narrativo da Bíblia não é exatamente o de um "telejornal", mas também não é o dos histo riadores modernos. Para melhor me fazer compreender, apre sento um primeiro exemplo.
1. O batismo de Jesus Na narração do batismo de Jesus que encontramos nos três evangelhos sinópticos (Mateus, Marcos e Lucas), o céu se abre e o Espírito Santo desce sob forma de pomba sobre Jesus, logo após batizado. Mas quem vê essa pomba? Segundo esses três evangelhos, apenas Jesus a vê. Entretanto, se é assim, sur ge imediatamente outra pergunta: como, então, os evangelistas podem narrar o fato? Haverá uma resposta imediata: o próprio Jesus terá relatado o fato a seus discípulos. Tbdavia, um proble ma permanece. Tfata-se de uma simples questão de estilo. A narrativa é feita em terceira e não em primeira pessoa. O evan gelista não escreve: "Jesus contou-me que naquele momento viu o Espírito Santo descer sobre ele sob a forma de uma pom ba". O autor da narrativa não é Jesus, mas alguém que fala como se fosse testemunha ocular do evento. Ora, a própria narração exclui a possibilidade de que alguém tenha podido ver o fenô meno além de Jesus. E, como quer que seja, com toda a probabi-
lidade os discípulos não estavam presentes, porque Jesus os cha mou depois do batismo, e não antes. Além do mais, Marcos e Lucas tornaram-se discípulos ainda mais tarde, depois da res surreição. A narração coloca seu leitor diante de uma impossibi lidade: se Jesus foi a única personagem presente que pôde ver o Espírito Santo, então ninguém pode dizer "Jesus viu o Espírito Santo”, porque ninguém viu o que estava acontecendo, exceto Jesus, que, todavia, não narra o fato. Ou pode eventualmente suceder que estejamos diante de um modo de falar e de escrever que era habitual e aceito naque la época. Esse modo de escrever é ainda muito comum nos dias de hoje, não no mundo do jornalismo ou da historiografia, mas sim no mundo do romance e da novela. Um autor pode, sem problemas, dizer o que pensa um personagem que se encontra sozinho, digamos, num quarto. Faz ver e ouvir o que não pode ter testemunhas. Ninguém se revolta dizendo que o autor "in venta” o que diz porque a cena se desenrola na ausência de teste munhas. Neste caso, porém, todos sabem que o romancista não pretende contar fatos vividos. Estamos no mundo da ficção e o mundo descrito não é exatamente o mundo real. É um mundo criado e plasmado pelo autor do romance. Este mundo, porém, é verossímil, ou seja, semelhante ao mundo verdadeiro. É um mundo que poderia haver ou poderia ter havido, do mesmo modo que os personagens poderiam existir ou poderiam ter existido. Essas observações muito simples criam, sem dúvida algu ma, um grande constrangimento entre os que crêem porque, para eles, a Bíblia e os evangelhos não podem assemelhar-se a um romance, isto é, a um conto saído da imaginação de seus autores. A história bíblica é verdadeira, e não inventada ou legendária. A Bíblia narra fatos que “verdadeiramente" aconte ceram, fatos sobre os quais nossa fé pode apoiar-se com segu rança. A história da salvação é história “verdadeira”, ou então nossa fé perde seu fundamento. Ou os personagens de que nos fala a Bíblia existiram ou acreditamos em quimeras. É deveras difícil sair deste dilema.
2. Escrever um romance ou escrever como nos romances? üma vez chegados a este ponto, é preciso introduzir uma distinção importante, primeiro para tranqüilizar-nos, mas tam bém para dar um passo à frente em nossa compreensão da Bí blia. Afirmar que a Bíblia utiliza alguns recursos literários que encontramos hoje no romance moderno não significa de modo algum dizer que a Bíblia seja um romance. Significa apenas afir mar que o modo de escrever dos escritores bíblicos está mais próximo do utilizado pelos romancistas modernos que daquele utilizado pelos cronistas, jornalistas e repórteres de nossas tele visões. Em palavras muito singelas, essa constatação refere-se apenas à forma das narrativas bíblicas, e não implica nenhum juízo sobre seu conteúdo.
3. A historiogrqfia moderna Qual é, então, a verdadeira diferença entre a história como a entendemos hoje e as narrativas bíblicas? A história, ou a ciên cia histórica chamada historiografia, baseia-se em documentos e testemunhos. Os documentos podem ser escritos ou não-escritos. Um palácio ou uma casa, um túmulo, uma ponta de flecha, um grafito numa pedra ou as cinzas deixadas por uma fogueira são todos documentos que permitem ir ao encalço da existência de pes soas. A partir de tais documentos é possível — com a devida cau tela e o necessário rigor — elaborar um retrato das pessoas que os deixaram e reconstruir o mundo no qual viviam. Verdade é que os documentos escritos são de primeira importância. Devem, po rém, ser usados com espírito crítico, porque podem distorcer a verdade. Tbdos nós conhecemos documentos inaceitáveis. Hoje conhecemos também fotografias, filmagens e regis tros. Na Antiguidade, porém, existiam diversas formas de iconografia e de escultura. Alguns estudiosos,' por exemplo, de dicaram recentemente muito tempo ao estudo das figuras e dos emblemas encontrados no Oriente Médio antigo e conseguiram
extrair deles informações bem interessantes sobre a história da religião popular daquela época. As testemunhas, por sua vez, são testemunhas oculares, quer dizer, pessoas que presenciaram os acontecimentos. Podem ser também pessoas que colheram os depoimentos de testemunhas oculares. Seja como for, na base dos depoimentos requer-se sem pre uma testemunha direta. Por essa razão, a história ocupa-se apenas de acontecimentos públicos, não de acontecimentos pri vados. A oração de uma pessoa sozinha em seu aposento não faz parte da história porque faltam forçosamente as testemunhas. Quando faltam documentos e testemunhas, o historiador se cala. Na Bíblia, porém, o leitor depara-se muitas vezes com nar rativas que não correspondem exatamente a essa definição de "historiografia". Normalmente ele não reage, porque os textos são muito conhecidos e quase ninguém se questiona a respeito deles. Apresento a seguir alguns exemplos de narrações bem conhecidas que obviamente não podem ter sido escritas por tes temunhas diretas. Estes exemplos são semelhantes à narrativa do batismo de Jesus, já mencionada.
4. A sarça ardente Um primeiro exemplo simples é a famosa cena da sarça ardente (Ex 3,1-6). Os personagens são dois: Moisés e Deus. Quem assiste à cena? Ninguém. Quem pode narrar a cena? Pode-se dizer: "Moisés”. Tbdavia, a narrativa não é feita em primeira pes soa, mas em terceira. Tãmbém aqui o narrador “simula" ser tes temunha, ou seja, ele se coloca nas roupagens de uma testemu nha ocular para poder relatar o que acontece.
5. A agonia de Jesus Outro exemplo muito claro provém do Novo Ttestamento. Durante sua agonia, Jesus reza no "monte das Oliveiras”. O lei tor dos Evangelhos de Marcos e Mateus pode também saber quais
as palavras pronunciadas por Jesus nesses momentos. No entanto, quem estava presente e ouviu o que Jesus dizia? Ninguém. De fato, os três discípulos que acompanhavam Jesus, sempre segundo Marcos e Mateus, estavam dormindo. O próprio Jesus, desta vez, dificilmente teria podido comunicar a seus discípulos o que se passava. Foi preso, depois condenado e crucificado. Os discípulos, por sua vez, desapareceram. Não importa, agora, sa ber de que modo os evangelistas conseguiram escrever essa pá gina. É essencial notar que ela não foi escrita por um "cronista" que seguia Jesus e registrava o que dizia naquele momento. É simplesmente impossível. Portanto, a “verdade" dessa cena do Getsêmani — dado que tem sua própria "verdade" — não pode ser a de um fato de "crônica", tal como encontramos todos os dias nos jornais. Para encontrar essa “verdade" do relato evangé lico, é preciso buscá-la em outra parte e interrogar-se sobre o modo particular de escrever dos evangelistas.
6. A passagem do m ar Um último exemplo vem da narrativa da passagem do mar (Ex 14). Quando os egípcios fogem porque as águas voltaram, segundo o texto bíblico, dizem: "Fujamos para longe de Israel, pois é o Senhor que combate por eles contra o Egito!" (Ex 14,25). Para quem coloca diante de si o problema da "historicidade" da narração, surgem muitas perguntas. Um primeiro problema, que é menor, provém da língua. Obviamente, eles falavam o egíp cio. Entretanto, em Êxodo 14,25, as palavras do exército egípcio são em hebraico, como se eles falassem essa língua. Ttata-se, com certeza, de uma convenção, porque o mesmo fenômeno volta a ser encontrado em quase todas as partes da Bíblia. É mais difícil saber quem ouviu essas palavras. Os egípcios mor reram todos e não puderam contar nada (Ex 14,28). Por outro lado, uma nuvem os separava dos israelitas, soprava um forte vento do leste (14,21) e era noite (14,19-20). Pela manhã, os israelitas descobriram os corpos dos egípcios na orla do mar
(14,30b). Mas o que puderam eles ver e ouvir durante a noite? O narrador, porém, faz com que o leitor assista à cena como se fosse um espectador direto. Se isso não é impossível, está suficien temente claro que, relativamente ao estilo, essa parte da narra tiva é mais uma "reconstrução" do que o relato de uma testemu nha ocular dos acontecimentos. Como conclusão, temos de admitir que há diversos modos de escrever a “história”. Por essa razão, é oportuno interrogar-se sobre o que o narrador podia ou não podia saber. Este livro é destituído de notas para permitir uma leitura mais cômoda. Quem for prático nesta matéria não terá dificul dade em encontrar os autores e as obras a que se fará referência no decurso da exposição. Aquele, ao contrário, a quem o assun to é pouco familiar não ficará distraído com nomes e títulos des conhecidos, e com freqüência em línguas estrangeiras. Seja como for, o volume está provido de uma breve bibliografia de consulta que permitirá, a quem o desejar, completar a leitura ou obter mais informações sobre algum ponto de maior interesse.
Criação, dilúvio, torre de Babel. Narração das origens e origens da narração
Para melhor estabelecer que tipo de narração nos apre senta a Bíblia, é preciso percorrer agora algumas páginas mais importantes com um olho mais crítico. Para simplificar a ques tão, retomarei a narrativa bíblica como se apresenta atualmen te. Iniciarei, pois, o percurso com o relato da criação. Em cada parte importante do relato, formularei as mesmas perguntas: Quem narra? Como pode o narrador saber o que relata? Existem documentos extrabíblicos sobre os mesmos acontecimentos? Quais são as diferenças entre os relatos bíblicos e os documen tos extrabíblicos? Como explicar essas diferenças? I. A criação do mundo (Gênesis 1-2) O que podemos saber a respeito da criação? Bem pouco, com certeza, porque nenhuma testemunha estava presente quan-
do o mundo ainda não existia. As primeiras testemunhas apare ceram — obviamente — só depois da criação do gênero humano. Portanto, o narrador que descreve como Deus criou o universo não pode ser uma testemunha ocular, especialmente no caso do primeiro relato da criação (Gn 1,1-2,3), relato que começa com as palavras bem conhecidas: "... Deus iniciou a criação do céu e da terra”. Neste relato, com efeito, Deus cria o primeiro casal humano só no sexto dia. Para poder contar o que acontece nos primeiros cinco dias, o narrador deve, forçosamente, extrapolar ou “imaginar" o que nenhuma testemunha humana pôde ver com os próprios olhos. Na linguagem técnica da análise literá ria, o narrador de Gênesis 1 é "onisciente", quer dizer, dispõe de conhecimentos e de informações inacessíveis a uma pessoa co mum. Por exemplo, esse narrador sabe o que Deus pensa e diz. Disso informa seu leitor, sem procurar, de algum modo, justifi car-se. O fato “vai por si”, porque se trata de um modo de narrar que é aceito. Na realidade, essa técnica do "narrador onisciente" é utilizada com muita freqüência pelos romancistas antigos e modernos. Encontramos aqui um primeiro ponto de contato entre os relatos bíblicos e as técnicas da literatura universal. Mas exis te algo mais: o estilo de Gênesis 1 encontra-se, com efeito, bas tante próximo do de algumas teorias modernas sobre a origem do mundo. Esclareço de imediato que falo unicamente do estilo e, como é óbvio, não do conteúdo dessas teorias. O fato pode surpreender. Porém, se interrogarmos os cien tistas sobre a origem do universo e ouvirmos suas respostas, perceberemos que utilizam meios similares: têm de "imaginar" a origem do mundo a partir de observações científicas sobre o mundo de hoje. Ninguém “viu” como nasceu ou como se for mou nosso universo. O cientista deve, pois, apelar para sua “fan tasia” para reconstruir a origem do mundo. Na realidade, o autor de Gênesis 1 age de modo muito semelhante. Não possuía, cer tamente, os conhecimeíitos dos cientistas de hoje. Sua lingua gem e seu modo de pensar não são tampouco os dos cientistas,
CRIAÇÃO. DILÚVIO. TORRE DE BABEL. NARRAÇÃO DAS ORIGENS E ORIGENS DA NARRAÇÃO
mas, antes, os dos teólogos ou dos poetas. Tbdavia, o modo de proceder é idêntico: a partir da observação de seu universo, pro cura compreender e reconstituir a origem dele. Por essa razão, para melhor compreender a intenção des sa narrativa, é oportuno situá-la em seu contexto histórico. Para a maioria dos exegetas, este texto foi concebido e escrito duran te ou, talvez, imediatamente após o exílio (586-536 a.C.), por uma série de sólidas razões. Uma, entre outras, é a impossibili dade de 1er Gênesis 1 sem perceber a influência da mitologia mesopotâmica. O simples fato de descrever o mundo originário como um “caos aquático", isto é, um universo completamente recoberto de águas e imerso nas trevas (cf. Gn 1,2), é típico da Mesopotâmia, planície atravessada por dois grandes rios, mas não o é da terra de Israel, onde o "caos primitivo" é representado antes como uma terra deserta e sem água (cf. Gn 1,2-5). Vale, então, a pena reler o texto neste quadro histórico para dar maior relevo a sua mensagem específica. Cinco pontos merecem ser salientados.
Primeiro ponto Contrariam ente às mitologias da Mesopotâmia, para Gênesis 1, o início da "história universal” coincide com o início do mundo. À primeira vista, essa afirmação parece plenamente satisfatória. Não é, porém, o nosso caso, porque na Mesopotâmia, como na maior parte das mitologias, a "história” começa antes da criação do mundo e da humanidade como uma história dos deuses que precede a criação de nosso mundo. Os acontecimen tos dessa "história divina" têm uma incidência direta sobre a história humana e a predeterminam. Para citar apenas um exem plo, segundo um mito mesopotâmico bastante famoso, o mito de Hatrahasis, o gênero humano foi criado para substituir os deuses inferiores que se recusavam a trabalhar para os deuses superiores. Esses deuses inferiores haviam se recusado parti-
cularmente a escavar os canais de irrigação absolutamente ne cessários ao cultivo dos campos na Mesopotâmia. Portanto, se gundo essa narração, o destino da humanidade foi fixado pelos deuses antes da criação e, a partir do momento em que são cria dos, os homens só podem submeter-se a seu destino, o de traba lhar pelos deuses e nutri-los oferecendo sacrifícios. Para a Bíblia, ao invés, o início da história coincide com o início de nosso mundo. Nada “aconteceu" antes desse momen to; só existia Deus e a terra era "deserta e vazia" (Gn 1,2). A história da humanidade é, pois, determinada exclusivamente pelo que é decidido no momento da criação de nosso mundo e de pois dessa criação, não, porém, antes dela. A liberdade humana é, portanto, menos "predeterminada” na Bíblia do que no mun do mesopotâmico.
Segundo ponto O Deus de Israel é o criador do mundo, e não as divinda des pagãs, particularmente as divindades mesopotâmicas. A narrativa bíblica revela progressivamente que o Deus criador é também o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó; é o Deus que faz seu povo sair do Egito e o conduz no decorrer das'diversas vicis situdes de sua história. Esta visão, que pode parecer banal ao leitor moderno, especialmente para alguém que crê, não era absolutamente evidente para o povo de Israel quando passou a confrontar-se brutalmente com a cultura e a religião da Meso potâmia, que possuía diversos “mitos da criação”, nos quais os deuses estendiam seu domínio sobre o universo por eles cria do. Era uma cultura muitíssimo superior à de Israel e, além dis so, era a cultura dos vencedores. Não obstante isso, o texto de Gênesis 1 certifica a superio ridade do Deus de Israel sobre todas as divindades da Mesopo tâmia (e das outras nações). Mais do que isso, essas divindades são na realidade “criaturas” do Deus de Israel. Os astros, por
exemplo, aparecem criados por Deus no quarto dia da criação (Gn 1,14-19). Ora, as divindades m eso p otâm icas eram identificadas com os astros (o deus Shamash era o sol, o deus Sin era a luz, a deusa Ishtar era o planeta Vénus etc.). Tàmbém os monstros m arinhos — que aparecem em alguns mitos mesopotâmicos sobre a criação — são criados por Deus no quin to dia (Gn 1,21). A conclusão do raciocínio é evidente: se o Deus de Israel criou os astros e existia antes deles, a religião de Israel não tem nada a invejar da religião da Mesopotâmia, que venera esses astros. O fato é bem conhecido, mas vale a pena reforçar que a fé de Israel sobreviveu às provas do exílio graças a esse esforço de reflexão teológica.
Terceiro ponto A destruição de Samaria em 721 a.C., e mais tarde a de Jerusalém, em 586 a.C., foram experiências dramáticas e trau máticas. Muitos "perderam a fé”, diriamos hoje, ou pelo menos viram suas esperanças reduzidas a pedaços por um Deus que parecia ter abandonado seu povo a sua triste sorte. Segundo o texto de Ezequiel 37,11, muitos deportados estavam mais do que desanimados e diziam: "Nossos ossos estão ressequidos, nossa esperança desapareceu, estamos esfacelados". O texto de Isaías 49,14, que remonta à mesma época, põe palavras amargas na boca de Jerusalém: “O Senhor me abandonou, meu Senhor me esqueceu!" (v. também Is 40,27). Para combater o desespero e o desânimo muito difundi dos entre os israelitas, o texto de Gênesis 1 torna a partir das origens do mundo para mostrar que o "mal" não faz parte do plano divino. O mundo criado por Deus é de todo positivo. Por exemplo, o texto de Gênesis 1 não contém uma única negação. Por bem sete vezes (número sagrado), o texto repete que "Deus viu que [o que havia feito] era bom” (1,4.10.12.18.21.25.31). Na última vez diz mais, que "Deus viu tudo o que havia feito. Eis
que era muito bom" (1,31). Significa, portanto, que a raiz de to das as coisas e de todo ser neste mundo é sadia. Se existe corrupção, morte e mal, estes chegaram apenas em um segun do compasso. Basta (por assim dizer) "escavar" sob a corrupção e a perversidade presentes no universo para encontrar um es trato intacto da bondade inicial da criação como saiu das mãos de Deus na alvorada do universo. Sobre esse fundamento, podese reconstruir a esperança de Israel.
Quarto ponto Uma quarta afirmação põe radicalmente em questão o sen so de superioridade que alguns povos como os assírios ou os babilónios não podiam deixar de desenvolver depois de haver fundado imensos impérios. Israel, de sua parte, devia natural mente experimentar um profundo complexo de inferioridade. Tâmbém neste caso, o texto bíblico introduz uma crítica radical da mentalidade contemporânea. Com este intuito, Gênesis 1 mos tra claramente que os homens são todos iguais. Com efeito, as plantas e os animais são criados "segundo a sua espécie" (1,1112.21.24-25). Entretanto, o mesmo não acontece quando Deus cria o primeiro casal humano (1,26-27). Não são criados “segundo a sua espécie”, mas “à imagem de Deus, segundo a sua semelhan ça". Não há, pois, “raças humanas", e ninguém pode pretender pertencer a uma "raça superior". Tbdos são iguais, porque todos são criados à imagem do mesmo Deus (cf. 5,1). Conseqüentemente, todos os homens carregam em si algo “sagrado" e inviolável.
Quinto ponto O texto foi delineado e talvez também redigido enquanto Israel se encontrava distante de sua terra. Tãlvez tenha sido es crito depois do final do exílio, quando os primeiros deportados se encaminharam novamente para a terra de Israel. Como quer
que seja, nesta época Israel não "possui" sua terra: ou se encon tra ainda na Babilônia, ou está regressando a uma terra que já faz parte do império persa. Além disso, Israel não tem mais tem plo ou ainda não reconstruiu seu templo, vale dizer, não dispõe de um "lugar sagrado” para celebrar seu Deus. O texto de Gênesis 1 propõe uma solução bastante original para este problema: afirma que o “tempo" prevalece sobre o "es paço". Por exemplo, três dias inteiros são consagrados exclusiva mente ao tempo, os três dias mais importantes da semana: o pri meiro, o quarto — precisamente no meio da semana — e o séti mo e último dia. No primeiro dia, Deus cria o ritmo primordial do tempo, a saber, a alternância entre dia (luz) e noite (trevas) (Gn 1,3-5). No quarto dia, o dia central da semana, Deus instala o "grande relógio" do universo para escandir o ritmo do ano, o reló gio dos astros que permitia fixar o calendário (1,14-19). Como se sabe, o calendário é uma das importantes descobertas da Mesopotâmia. Gênesis 1 retoma e interpreta esses dados para dizer que o Deus de Israel é o Senhor do tempo e da história. Por fim, no sétimo dia, Deus repousa (2,1-3). Neste dia, pois, não há qualquer atividade divina. Deus, e só Deus, preen che o sétimo dia com sua presença e por isso “consagra” e “aben çoa” este dia (2,3). Deus, portanto, habita o tempo antes de habi tar em um templo. Deste modo, Israel pode encontrar e venerar seu Deus sem possuir um "lugar sagrado". Esses cinco destaques levam-nos a concluir que a teologia da narrativa, em toda a sua riqueza, pertence certamente a um período tardio da história de Israel e seria imprudente querer fazer com que essas idéias remontassem a períodos mais anti gos sem elementos sólidos e indiscutíveis.
II. O dilúvio (Gênesis 6-9) A narração do dilúvio apresenta um problema peculiar. Segundo a Bíblia, o dilúvio destruiu a humanidade inteira. Tira ta-sé, portanto, de um fenômeno universal. Será possível encon-
trar traços de tal fenômeno? De um lado, o estudo das religiões e das tradições populares do mundo inteiro parece confirmar tal idéia. De fato, existem narrativas semelhantes à da Bíblia não só no Oriente Médio antigo, especialmente na Mesopotâmia, mas em todos os continentes: na América do Norte, na América Cen tral e na América do Sul, na Europa, na África, na índia, na China etc. Até os esquimós têm narrações semelhantes. Parece que a “memória coletiva” da humanidade conservou a lembran ça desse dilúvio universal. Tbdavia, outro elemento obriga a corrigir essa primeira impressão positiva. A análise cuidadosa das narrativas do dilú vio que foram encontradas na Mesopotâmia — ou seja, em uma cultura próxima à do Israel bíblico — conduz a uma conclusão muito sóbria: na base dessas narrativas há um fenômeno bem conhecido nas grandes planícies dessa região. Trata-se da cheia anual dos dois rios da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, que na primavera segue ao derretimento das neves sobre as planícies da Anatólia oriental. De tanto em tanto, a cheia é mais impor tan te. Os arqueólogos en co n traram em um a cidade da Mesopotâmia um estrato de mais de dois metros de lama depois de um alagamento de proporção insólita. Seja como for, torna-se muito difícil encontrar “um" único dilúvio que possa ser o descrito pela Bíblia: houve muitos na Mesopotâmia. A existência de narrações análogas em diversas partes do mundo confirma apenas uma coisa: a história do dilú vio faz parte do patrimônio religioso universal. Não é um "mo nopólio" da Bíblia. Também por essa razão, torna-se difícil isolar um único evento histórico que tenha podido estar na origem da narração bíblica. Por outro lado, é preciso reconhecer que as narrativas bíblicas devem muito às narrativas da Mesopotâmia. Existem equivalências surpreendentes em relação a diversos pontos, como sobre a arca, o dilúvio de água, a salvação de uma única família, o envio de pássaros no final do dilúvio e o sacrifício final. O “modelo” da narrativa bíblica é, portanto, com toda a
probabilidade, uma narração mesopotâmica ou uma tradição mesopotâmica, antes que o relato acurado de uma experiência vivida. Estamos, pois, bastante longe de uma "narração históri ca” no sentido moderno da palavra; ao contrário, estamos dian te de uma narração'bastante rica do ponto de vista teológico. Mas também o conteúdo dessa narrativa há de ser enquadrado em uma situação histórica suficientemente precisa, isto é, o período do exílio e pós-exílio. Exegetas sempre mais numerosos estão convencidos de que todo o texto, com seus diversos com ponentes, seja tardio. Israel entrou em contato com as narrati vas mesopotâmicas do dilúvio durante o exílio. Apropriou-se dessa narração e adaptou-a a suas necessidades: Na Bíblia, o pro tagonista do dilúvio é Noé, uma personagem tradicional do "fol clore”, conhecido como "justo” na mesma categoria de Jó e Daniel (v. Ez 14,14.20; cf. Gn 5,29) e, portanto, muito adequado a con cluir esta relação. A narração procura responder a uma pergunta fundamen tal na época do exílio: em que condições o universo pode sobre viver? Quem ou o que impedirá que uma catástrofe cósmica possa fazer com que o mundo desapareça no nada? Para quem percebe a analogia entre dilúvio e exílio, a pergunta adquire uma nuança suplementar e passa a ser: "Viveremos um fim de mun do semelhante à destruição de Jerusalém, ao saqueio do templo e ao fim da monarquia?” A resposta à pergunta é dúplice. A parte mais antiga da narrativa, que remonta (de qualquer maneira) ao exílio ou pósexílio, sugere que a sobrevivência do mundo depende unicamen te da graça de Deus, o qual conclui uma aliança incondicionada com o "justo" Noé e sua família e promete nunca mais mandar um dilúvio para destruir o mundo (Gn 6,18; 9,8-17). O sinal des sa aliança é o arco-íris (9,8-17). Em outras palavras, bastou umi só justo como Noé para permitir que o mundo fosse salvo, por que Deus concluiu uma aliança de graça com esse justo. ' A segunda resposta, mais tardia, é dada após a reconstru ção do templo e o restabelecimento do culto (por volta de 520-
515 a.C.). Para os textos provenientes dessa época e acrescenta dos à primeira narrativa, a existência do mundo depende do culto. Deus promete não destruir nunca mais o universo porque o sacrifício de Noé lhe agrada (8,20-22). A lição é clara: o culto é condição de sobrevivência para Israel. As duas respostas são complementares. Enquanto a priy meira insiste na graça divina, a outra salienta a necessidade da iniciativa humana, neste caso do culto. Um último elemento merece ser citado. Para Gênesis 6, a causa do dilúvio deve ser buscada no coração humano. O que pode pôr em perigo a própria existência do universo é, portanto, a perversidade do coração humano (6,5; cf. 8,21). Um outro tex to fala mais precisamente da "violência" que invadiu todo o uni verso (6,11.13). Como enfrentar o problema dessa violência? Tãmbém aqui a narração oferece duas respostas complementares. A primeira resposta é a de Gênesis 9,2-3: os homens poderão comer carne, o que equivale a dizer: a “violência" será exercida contra os ani mais, mas não contra outros homens. A segunda resposta en contra-se em 8,20-22: a violência será canalizada no culto. A oferta de “animais” puros é um ato “violento", porém ritualizado, e por isso socialmente aceitável e legítimo. A violência canalizada e "legitimada" desse modo não é mais destrutiva,'mas, antes, con tribui para "pacificar” a sociedade.
•III. A torre de Babel (Gênesis 11,1-9) A narração de Gênesis 11,1-9, comumente intitulada "A torre de Babel", fala não só de uma torre, porém, mais exata mente, da construção de uma cidade com uma torre. O nome “Babel” é certamente conhecido é a identificação dessa cidade não causa problema algum. A verdadeira dificuldade encontrase em outra parte. A narrativa informa com precisão que a cida de e a torre foram abandonadas antes de estar concluídas. Ora,
sabe-se que a cidade de Babel foi destruída e saqueada mais de uma vez. Porém, não existe documento algum ou qualquer pro va arqueológica que comprove substancialmente a narrativa bí blica que afirma, ao invés, que a cidade ficou inacabada. Por outro lado, muitos reis da Assíria conquistaram um grande império e fundaram uma nova capital. Uma cidade, na quele tempo, era sempre dotada de uma fortaleza (uma “rocha” ou um “castelo”). A narração bíblica apóia-se sobre essas lem branças, mais do que sobre um evento particular e fácil de ser localizado. Em outras palavras, como a narrativa do dilúvio, a narrativa da torre de Babel descreve um evento "típico" e "emblemático”. As cidades grandiosas e imponentes da Mesopotâmia, com suas construções colossais, podiam exercer um grande fascínio sobre os israelitas, que certamente não conheciam nada seme lhante. Essa breve anedota "desmitifica” com ironia a potência babilónica, totalitária e imperialista, para mostrar seus limites e prever seu fim. Em sua redação atual, dificilmente a narração pode ser mais antiga que a época do exílio, porque somente durante esse período chegou ao conhecimento de Israel o que eram os grandes impérios da Mesopotâmia. Pretende mostrar, em uma breve anedota, que fim terá um mundo totalitário e imperialista como o da Mesopotâmia. Tál "sonho” de unidade que se pretende realizar a despeito das diferenças culturais está fadado ao fracasso.
Abraão e os patriarcas, atores da história ou figuras legendárias?
I. Introdução: as narrativas patriarcais e o início da “história de Israel” Muitos autores pensam com boas razões que as narrativas de Gênesis 1-11, ou seja, as narrações sobre a criação do mun do, sobre Caim e Abel, o dilúvio e a torre de Babel, pertencem não tanto à história, mas a um período que se apresenta como anterior à própria história. E, assim como essas narrativas tra tam o mais das vezes da origem do universo, não podem ser narrativas “históricas" no sentido estrito da palavra. Eles con têm abundantes elementos “sapienciais” porque pretendem “ex plicar" a origem do mundo ou a condição humana, mas não pre tendem exatamente "descrever” essa origem. Em .outras pala vras, Gênesis 1-11 quer explicar o “porquê" do nosso mundo, mas não pretende explicar "como” surgiu. Com Abraão, porém, entraremos em um mundo diverso, e caminharemos sobre um terreno mais sólido. Abraão é um indivíduo, não mais um “tipo”. As narrativas são mais particu-
lanzadas e o quadro da narração é mais preciso. O tom do con junto das narrativas é diferente, mais concreto e menos próxi mo da “mitologia". Quando começa a história de Israel, começa também a "história” como tal. A questão, todavia, não é de todo segura. Novamente, uma pesquisa sobre o que a arqueologia e a história do Oriente Próximo antigo podem nos dizer sobre os patriarcas revela-se bastante frustradora. II. A historicidade dos patriarcas ou da época patriarcal
1. Os poucos vestígios deixados pelos patriarcas na história Antes de tudo, não existem traços dos patriarcas bíblicos nos documentos contemporâneos. Nenhuma inscrição, nenhum documento e nenhum monumento fala de Abraão*, Sarai, Isaac, Rebeca, Esaú e Jaco e de suas famílias. Não deixaram escritos ou inscrições porque, com toda a probabilidade, não escreviam. Além disso, como viviam sob tendas, é difícil encontrar vestígios de suas habitações. Não construíram monumentos arquitetônicos, exceto altares (Gn 12,7.8; 13,18; 22,9; 26,25; 33,20; 35,3.7), esteias (28,18; 31,45.51; 35,14.20) e túmulos (cf. Gn 23; 25,9; 35,8.20; 49,30-32). Sem falar dos problemas provenientes dos textos que mencionam esses “monumentos” — muitos textos são tardios — há de se reconhecer que os arqueólogos não identificaram com certeza nenhum deles. Na realidade, esses monumentos não são facilmente encontráveis nem identificáveis.
2. Historicidade de uma época patriarcal? Baseados em algum costume característico, alguns exegetas quiseram provar, não exatamente a historicidade dos patriarcas, * O faraó Shishak (950-926 a.C.) menciona, entre suas conquistas no sul de Judá, uma "fortaleza de Ab(i)ram" ou “campo de Ab(i)ram”. Alguns vêem neste nome o equivalente de "Abraão”, mas a questão é controversa.
mas pelo menos a historicidade de uma época patriarcal. Por exem plo, só nas narrativas patriarcais é mencionada a possibilidade, para uma mulher sem filhos, de dar uma de suas servas a seu marido. O filho ou os filhos nascidos dessa união são considera dos filhos da mulher. É o caso de Abraão e Hagar, serva dada por Sarai a seu marido e da qual nasce Ismael (Gn 16). Leá e Raquel, as duas mulheres de Jacó, ambas darão a seu marido suas servas, Bilá e Zilpá, em circunstâncias semelhantes (Gn 29-30). Elas co nheceram tempos de esterilidade e resolveram dessa maneira a dificuldade de conseguir filhos. Só nesses dois casos faz-se men ção deste costume, que, portanto, seria característico de um perío do determinado da história de Israel. Alguns documentos mesopotâmicos do segundo milênio antes de Cristo contêm, segun do os mesmos exegetas, contratos similares. Esse fato seria um elemento em favor da antiguidade das tradições patriarcais. Ibdavia, um exame mais rigoroso dos contratos mesopotâmicos reve lou que a comparação não tem consistência.
3. Uma antiga “religião dos patriarcas” ou uma “religião da fam ília”? Outros autores (como Albrecht Alt na Alemanha) afirma ram que a religião dos patriarcas possui algumas particularida des que a distinguem de outras formas da religião de Israel. A mais importante seria o culto do “Deus do pai” ou do "Deus dos pais” (v. Gn 26,24; 28,13; 31,53; 32,10; 46,1; Ex 3,6). Contraria mente às divindades dos cananeus, ligadas a lugares e templos, o Deus dos patriarcas estaria primariamente ligado às pessoas. Esse tipo de religião seria típico dos nômades. A teoria, porém, foi contestada. Os textos bíblicos e os paralelos extrabíblicos são recentes. Quanto ao que diz respeito aos textos bíblicos, seu es copo é, antes de tudo, mostrar a continuidade entre o Deus dos três patriarcas e o Deus do êxodo. Além do mais, esses textos são recentes e foram redigidos para estabelecer uma ligação teo lógica e literária entre as diversas partes do Pentateuco atual. Portanto, não é possível extrair muitos elementos de uma possí vel forma de antiga religião característica dos patriarcas.
Alguns estudos recentes pretendem demonstrar que a reli gião típica dos patriarcas não deve ser situada exatamente em uma época específica da história de Israel. Tfatar-se-ia, antes, de um tipo de religião peculiar, a da família ampliada. Em poucas pala vras, a religião da família é mais pessoal e menos anônima. O Deus é o de um antepassado ou de um clã, e não exatamente o Deus do universo, o Deus de toda uma nação. Esse Deus da família está próximo e revela-se nas ocupações cotidianas. A aliança com a família ou, mais específicamente, com os antepassados da família é normalmente unilateral, quer dizer, incondicionada. Esse Deus promete assistência sem pedir nada em troca. Por essa razão, o Deus dos patriarcas é um Deus de bondade e de mansidão, sempre pronto a ajudar, mas que pare ce fechar os olhos diante das fraquezas de seus eleitos. Por exem plo, Deus aflige o Faraó com chagas quando este último toma Sarai às escondidas em sua casa, mas não pune Abraão porque mentiu dizendo que Sara era sua irmã, expondo assim o Faraó a cometer um adultério (Gn 12). O mesmo Deus promete prote ger Jacó durante toda a viagem que o conduz a seu tio Laban (Gn 28,15), mas nada diz sobre a razão dessa viagem: Jacó rou bou a bênção a seu irmão Esaú graças a um engano planejado por sua mãe Rebeca. Essa "dupla moral" é também característi ca das narrativas patriarcais como da “religião da família". Vê-se, porém, com muita freqüência, que a “justiça” triunfa, mas a lon go prazo: Abraão será expulso do Egito; Jacó ficará vinte anos longe de casa e, por sua vez, será enganado por seu tio Laban. No entanto, essas reflexões tendem a demonstrar que a religião dos patriarcas não é característica de uma época parti cular da história de Israel, mas de um estrato social. A religião dos patriarcas “precede” a religião da nação (a religião de Moisés) só porque a Bíblia considera mais fundamental esse nível da fé em Deus. Tàmbém são Paulo irá afirmar que a fé precede a lei, como Abraão precede Moisés. A religião da aliança unilateral precede a da aliança condicionada, porque a graça de Deus pre cede as exigências da lei e da moral.
Do ponto de vista histórico, significa, pois, que a religião dos patriarcas existiu sob diversas formas durante toda a histó ria de Israel porque é a religião não de uma época, mas, antes, da família ampliada como tal, uma instituição típica de toda a Antiguidade, e não só da Antiguidade.
4. 0 mundo dos nômades e a história Fica ainda uma dificuldade de fundo a propósito dos patriar cas. Seu modo de viver é o dos nômades ou seminômades que se deslocam com seus rebanhos em busca de pastagens. Vivem sob tendas (Gn 12,8-9; 13,3.12.18; 18,1.6.9.10; 24,67; 25,27). Gênesis 18 permite também conhecer com suficiente precisão a dieta dos patriarcas: a carne era reservada para ocasiões excep cionais, era comida com fogaças cozidas sobre uma pedra e o mais das vezes bebia-se leite (Gn 18,6-8). O vinho, ao invés, apa rece apenas na dieta dos sedentários (Gn 14,18). Entretanto, esse tipo de cultura nômade estendeu-se pòr milênios. Os beduínos hodiernos do deserto vivem ainda mais*ou menos como os pa triarcas bíblicos. Portanto, não é possível especificar com certe za a época patriarcal com base apenas em alguns costumes ou em certo estilo de vida.
5. Os patriarcas e o Egito De tanto em tanto, as introduções à Bíblia ou os manuais reproduzem alguma pintura encontrada em algum túmulo egíp cio antigo em Beni-Hassan, representando um grupo de semitas asiáticos em sua chegada ao Egito. Os animais de carga são ju mentos. Esses semitas levam oferendas, entre as quais cabras de seu rebanho. Levam também instrumentos de música e uma bigorna. Para alguns estudiosos, teríamos nesta pintura uma ilus tração das migrações dos patriarcas. Assim poderíamos imagi nar a chegada de Abraão ou dos irmãos de José ao Egito (Gn
12,10-20; 42-43 e 46-47). Esses dados, porém, estão longe de ser tidos como absolutamente seguros. Os documentos egípcios e estas pinturas em particular testemunham apenas a passagem habitual de grupos asiáticos pelo Egito. Não se pode, com base nesses escassos documentos, caracterizar uma época particular da história egípcia na qual alguns grupos específicos de nóma des ou seminômades provenientes da terra de Canaã teriam des cido ao Egito para estabelecer-se. Pensou-se, por exemplo, nos hicsos, uma população asiática que conseguiu governar o Egito por quase dois séculos (1730-1550 a.C.). Os pontos de contato entre os textos bíblicos e os documentos egípcios sobre os hicsos são porém demasiado vagos para permitir que possam ser ex traídas conclusões seguras a esse respeito.
Pintura mural do túmulo de um oficial (governador) do Faraó Sesóstris II, de nome Khnum-otep, túmulo que se encontra em Beni-Hassan. Data: 1890 a.C., aproximadamente. O governador é o personagem de grande estatura, à direita da pintura. Segundo as regras da pintura egípcia, o tamanho do personagem é proporcional a sua importância. Inclusive sua veste branca, e em parte trans parente, é típica dos personagens da aristocracia. O grupo de semitas (talvez amorritas) é precedido por dois criados egípcios trajando vestes brancas, sen do também estes ligeiramente maiores que os asiáticos. A inscrição que se encontra no alto explica a cena: "Chegada da pintura negra para os olhos, trazida por trinta e sete asiáticos". A barba é um sinal característico dos asiáticos, as sim como as yestes variegadas. O chefe da delegação segue imediatamente o segundo criado egípcio, inclina-se em um gesto de saudação respeitosa e ofe rece como presente um cabrito-montês domesticado. Seu nome está escrito diante dele: "O chefe Ibsha". O bordão recurvado que se vê sobre os chifres do cabrito é o símbolo egípcio tradicional para designar um príncipe asiático ou beduíno. Vê-se um bastão bastante semelhante na mão esquerda de Ibsha. Na procissão que segue reconhecem-se homens, mulheres e crianças. Os homens levam arcos e flechas, lanças e bastões, enquanto o penúltimo homem toca uma lira a oito cordas. Os asnos carregam pequenos fardos, entre outros odres e uma lança. O chefe Ibsha e o homem que o segue com uma cabra estão com os pés nus, talvez em sinal de respeito, ao passo que se pode observar que homens e mulheres usam diversos tipos de calçados. O governador Khnumothep usa sandálias muito finas, seus criados também estão com os pés nus. Fonte: Atlas van de Bijbel, p. 38, n. 121.
Não existe qualquer indício de um personagem de nome José nas listas de funcionários egípcios. Os capítulos sobre a permanência de José no Egito (Gn 39-50) poderiam deixar pen sar que estamos sobre um terreno mais sólido. As narrativas supõem certo conhecimento dos costumes egípcios. Fala-se por exemplo do fato de que os egípcios não querem comer com es trangeiros (Gn 43,32) de ou que abominam os pastores (46,34). A história de José contém também uma palavra que poderia ser egípcia (41,43: "Abrek” [Atenção!], uma palavra gritada diante do carro de José). A tradução, todavia, é incerta e a origem da pala vra muito discutida. Tüdo somado, o conhecimento do Egito que supõe a história de José continua sendo muito aproximativo. Os autores de Gênesis 37-50 conhecem do Egito o que qualquer habitante da terra de Canaã com um pouco de cultura podia saber. De modo algum se haverá de supor que deva ter vivido no Egito em um período particular ou que a história de José deva corresponder a uma época precisa da história egípcia.
6. Um argumento em favor da historicidade dos patriarcas Os estudiosos podem invocar um único argumento sufi cientemente sólido em favor da "historicidade”das figuras patriar cais: são antepassados e é difícil "inventar" os antepassados de um povo. Se a figura não estiver bem ancorada na tradição de um povo, não existem possibilidades concretas de ser aceita e menos ainda de tornar-se parte do patrimônio literário desse povo. De acordo com essa linha de argumentação, os patriarcas bíblicos eram, pois, figuras populares conhecidas ao menos em algumas partes da terra de Israel. É até provável que cada um dos patriar cas tenha tido uma "pátria" diferente. As figuras de Abraão e Sarai, por exemplo, estão ligadas de modo especial a Hebron (ou Mamrê, próximo ao Hebron; v. Gênesis 13,18; 14,13; 18,1; 23,2.17). A figu ra de Isaac parece situar-se mais ao sul, na região de Beer-Sheba, na fronteira com Négueb (Gn 25,11; 26,33; cf. 34,27 que, todavia, é um texto tardio porque pertence à fonte "sacerdotal" pós-exílica).
Jacó, ao invés, permanece antes no norte e, após sua permanên cia junto ao tio Laban em Harran, viaja entre Siquém e Betei (28,19; 33,18; 35,1.16). No entanto, o argumento invocado pelos estudiosos a pro pósito dos patriarcas é bastante formal. Permite-nos encontrar a raiz popular e tradicional das narrações, mas não permite que se possa fornecer grandes informações sobre a historicidade das mesmas narrativas e principalmente de seus pormenores. Quan do tais figuras se tornaram os antepassados do povo? Quando se estabeleceu a genealogia que conhecemos, ou seja, na ordem, Abraão, Isaac e Jacó? Foi sempre Abraão o "pai” de Isaac e o "avô” de Jacó? Isaac e Rebeca foram "desde a origem" os pais de Jacó e Esaú? Foi sempre Jacó o pai de doze filhos que deram seu nome às doze tribos de Israel (isto é, os antepassados “epônimos” das doze tribos?) As respostas a essas perguntas, como a muitas outras, permanecem forçosamente muito vagas. No patrimônio popular, existe efetivamente um "fundamento” sobre o qual se constituiu o que se tornou o “povo de Israel”, mas não é possível encontrá-lo facilmente sob tudo quanto foi acrescentado pela tradição para celebrar essas figuras de antepassados.
III. A data de redação de alguns textos-chave Com referência às narrativas sobre os antepassados de Is rael, faz-se necessário acrescentar um último dado. Muitos tex tos fundamentais desses capítulos do Gênesis revelaram ser tar dios, ou seja, foram redigidos depois do exílio. A imagem de um Abraão "peregrino" que vem de Ur dos caldeus para estabelecerse na terra de Canaã (Gn 11,28.31; 12,1-3; 15,7) é muito difundi da. Ora, o chamado de Abraão (Gn 12,1-3), um texto-chave do livro do Gênesis e uma pequena jóia de teologia veterotestamentária, é considerado hoje um texto pós-exílico. O intuito desse trecho é apresentar Abraão como antepassado da comuni dade que voltou da Babilônia para reconstruir Jerusalém e seu templo. Abraão foi chamado por YHWH, o Senhor de Israel, dei-
xou sua pátria para dirigir-se a uma terra desconhecida, a terra prometida (Gn 12,1). Abraão obedeceu (Gn 12,4 a) e por isso Deus o abençoou. A mensagem está patente: a bênção prometi da a Abraão vale também para todos aqueles que voltaram da Mesopotâmia depois do exilio para estabelecer-se novamente na terra de Canaã. Na realidade, poucos são os textos que afirmam que Abraão veio da Caldéia. Se prescindirmos de Gênesis 11,28.31 e 12,1-3, fala-se a esse respeito em Gênesis 15,7 e Neemias 9,7. Tbdos esses textos são recentes. Além disso — e este é um argumento de peso — as outras narrações sobre Abraão não fazem alusão a sua origem mesopotâmica. Abraão vive na terra de Canaã como se fosse a sua. Não é considerado estrangeiro, nem se comporta como estrangeiro. Ou melhor, vive como um nômade que se desloca com seus rebanhos segundo as necessidades do momen to. Quando domina a carestia (Gn 12,10), não volta “para casa”, em direção à Mesopotâmia, mas, ao invés, desce ao Egito (12,1020) ou ao “país dos filisteus” (20). A narração de Gênesis 24, na qual o servo de Abraão volta a Harran a fim de encontrar uma mulher para Isaac, é um texto muito tardio. O texto utiliza, por exemplo, o apelativo divino "Deus do céu" (24,7), que encontra mos novamente no edito de Ciro (2Cr 36,23; Esd 1,2). A expres são é típica da época dos persas. Jacó também é apresentado como modelo dos israelitas que partiram para o exílio e mais tarde voltaram para casa. A viagem de Jacó é uma prefiguração da "odisséia" dos exilados. Por exemplo, quando o patriarca tem de partir para viver junto ao tio Laban (Gn 28,15; cf. 28,21), Deus lhe promete a volta para sua terra, a terra de Canaã. A idéia do “retorno” constitui um dos “fios escarlates" do ciclo de Jacó (31,3.13; 32,10; 33,18). Grande parte desses textos é recente. Essas poucas observações baseadas em elementos esparsos nas narrativas sobre Abraão (Gn 12-25) e Jacó (Gn 25-35) mos tram de maneira cabal que as figuras desses dois patriarcas são
abra Ao h o s patriarcas , a to res da h ist ó r ia o u fig u ra s legen dá rias ?
até certo ponto o fruto de uma releitura e de uma reatualização de textos mais antigos para responder às preocupações da co munidade pós-exílica, que voltou para Jerusalém após o térmi no do exílio, ocorrido por volta do ano 530 a.C. Esse dado obriganos a ser prudentes quando buscamos uma possível ligação en tre os textos bíblicos sobre os patriarcas e os movimentos de populações entre o norte da Mesopotâmia e da Síria ou a terra de Canaã por volta de 1800 ou 1700 a.C., data por vezes proposta para a época patriarcal.
IV. A intenção das narrativas
1. “Lendas” e personagens “legendários” O caso das narrativas patriarcais é semelhante ao de mui tas lendas. Os personagens das lendas não são necessariamente legendários ou "inventados” pelo fato de aparecerem nas len das. Entretanto, muito do que se conta nas lendas é verdadeira mente "legendário” e é difícil, ou melhor, em muitos casos im possível, separar os elementos legendários dos que são estrita mente "históricos".
2. Informar ou form ar? Como vimos, a diferença entre a documentação à disposi ção dos historiadores e os textos bíblicos sobre os patriarcas con tinua sendo considerável. Isso sugere certa cautela em nossas afirmações sobre a "historicidade" dos textos bíblicos e impõe a necessidade de lê-los com olhos diferentes. Sua primeira inten ção não é exatamente a de "informar" quanto à história — sobre "o que realmente aconteceu”—, mas, melhor que isso, a de for-
mar a consciência religiosa de um povo. Essa segunda finalidade não exclui, absolutamente, a presença de elementos históri cos nas narrações. A maneira de narrar, porém, é diferente, por que o que interessa ao narrador não é apenas ou primariamente a objetividade dos dados, e sim o significado dos acontecimen tos para seus destinatários, e os meios utilizados na composição das narrações são selecionados em função desse objetivo.
3. Por que fa la r dos antepassados de Israel? O intuito primário das narrações sobre os antepassados de Israel é duplo. Por um lado, pretendem definir o povo a partir de uma “genealogia”. Na mentalidade popular que se reflete nesse tipo de narrativas, era um modo simples e eficaz para afirmar a identidade do povo: os israelitas distinguem-se dos povos vizinhos, como amonitas, moabitas, filisteus, ismaelitas, arameus e edomitas, porque têm antepassados diferentes. Por outro lado, essa "genea logia" estabelece alguns "direitos fundamentais”, como o direito à terra. Só os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó têm direito à terra de Canaã e às outras bênçãos prometidas por Deus a esses antepassados, e não aos outros membros de suas famílias. Além desses aspectos basilares, as narrativas têm de tanto em tanto uma dimensão "paradigmática” ou "exemplar". Os antepassados são apresentados como modelos a ser seguidos. Isso vale sobretudo para Abraão, mas também, em parte, para Jacó. Abraão é um modelo de fé, de confiança e de obediência (v. principalmente Gn 12,l-4a, a vocação de Abraão, ou a “prova” de Abraão em Gn 22,1-19). Como já foi dito, Abraão e Jacó são modelos de todos quantos voltaram do exílio para a terra de Israel para cumprir o desígnio divino. Jacó, por sua vez, assemelha-se mais aos heróis populares celebrados por suas façanhas ou por sua astúcia, mes mo quando tais “façanhas” são moralmente discutíveis. Essa é a intenção que guiou os redatores ao redigir as narrações patriar cais, mais que a vontade explícita de compilar um arquivo históri co sobre as origens do povo eleito.
Com toda a probabilidade, a última redação destas narra ções data do período pós-exílico, quando Israel não possuía mais sua terra. Ora, segundo a teologia clássica do Deuteronômio, Israel perdeu sua terra porque não observou a lei e "rompeu” a aliança com seu Deus (cf. Dt 28). A causa do exílio é a infidelida de de Israel (cf. 2Rs 17). Mas resta uma esperança para Israel? Sim, respondem as narrações patriarcais (em sua última reda ção), porque a promessa da terra está ligada a uma aliança mais "antiga" que a do Sinai ou do Horeb, aliança condicionada pela observância da lei. Segundo as narrativas patriarcais, a promes sa da terra está ligada a uma aliança unilateral e incondicionada (cf. Gn 15 e Gn 17). Deus promete a Abraão uma terra e uma descendência numerosa, mas não pede nada em troca. Essa alian ça depende só da fidelidade de Deus às suas promessas; a infide lidade de Israel não pode invalidá-la, e de fato não a invalidou. A esperança de Israel está, pois, fundada sobre a graça divina à qual responde a fé de Abraão (Gn 15,6).
Moisés. Do paladino
i
pré-davídico ao fundador do Israel pós-exílico
Para a fé do povo de Israel, o éxodo é o evento mais impor tante. Quando sai do Egito, Israel "nasce" como povo de Deus e como nação. Tbdavia — e o fato pode surpreender, pelo menos à primeira vista —, se interrogamos as fontes egípcias e os docu mentos da época sobre esses acontecimentos, o resultado é novamente um tanto escasso: os estudiosos, historiadores e arqueólo gos não conseguiram até agora descobrir uma única alusão ma nifesta ao êxodo nos papiros ou no material epigráfico egípcio. I. O quadro histórico da narrativa bíblica Não obstante, é possível delinear um esboço da situação de Israel no Egito graças a pinturas, baixos-relevos e alguns do cumentos escritos. Essa investigação permite afirmar que a nar rativa bíblica é verossímil, mas não permite — se formos rigoro-
sos em nossa pesquisa — “provar" de modo definitivo e indiscu tível que tenha havido um êxodo como está descrito na Bíblia. Faltam elementos sólidos para chegar a essa conclusão. A escas sez da documentação não permite ao historiador reconstruir com certeza a seqüência cronológica dos acontecimentos relativos à saída do Egito de um povo chamado Israel. Existem mais teorias sobre o assunto e nenhuma delas consegue se impor. Nos pará grafos seguintes, retomarei os principais capítulos do “dossiê” para analisá-los brevemente.
II. O personagem Moisés O personagem Moisés é fundamental não só nos aconteci mentos do êxodo, mas também na história de Israel como tal. Poder-se-ia pensar que um personagem tão famoso devesse ter deixado forçosamente algumas marcas na história do tempo. Pode surpreender, mas é preciso render-se à evidência: até agora ne nhum documento extrabíblico menciona Moisés. Sua passagem pela corte do Faraó, sua intervenção em favor do povo hebreu e suas longas batalhas com o sucessor desse Faraó ficaram sem eco na história egípcia. A respeito de Moisés, uma única coisa é certa, sempre do ponto de vista estritamente histórico: seu nome é de origem egípcia. A raiz mosè significa em egípcio "gerado por”, "filho [de]”. Encontra-se em alguns nomes de Faraós, como Ramsés ou Ramsete, "filho de Rá” [o deus sol]; TUtmés, "filho de Tbt” [o íbis, deus dos escribas]; Ahmosis, “filho de Ah". O fato tem sua importância. Com efeito, pode-se afirmar que esse nome não pode ter sido facilmente "inventado”. Se os israelitas houvessem tido a oportunidade de dar a si próprios um herói nacional, não lhe teriam dado um nome egípcio, mas um nome tipicamente semítico, a saber, hebraico. Moisés, por tanto, não é um personagem de todo "inventado". No entanto, é difícil poder dizer algo mais. Não significa, certamente, que tudo
o que a Bíblia narra a propósito de Moisés tenha acontecido lite ralmente como o descreve a própria Bíblia. Com toda a probabi lidade, Moisés tornou-se um personagem-chave da história de Israel na época pós-exílica. Naquele momento, a monarquia ha via desaparecido e, a pouco e pouco, abriu caminho a amarga evidência de que não havia qualquer possibilidade de restaurála de imediato. Para contornar a dificuldade, Israel procurou em sua tradição um fundamento mais sólido da monarquia, algo mais antigo, que houvesse sobrevivido à catástrofe do exílio, e era a tradição mosaica. Segundo essa tradição, Israel havia nas cido e recebido todas as suas instituições sacras e civis antes da monarquia. Por essa razão, Israel podia existir sem a monarquia ou depois da monarquia. Moisés era, pois, indispensável à exis tência de Israel; David, ao contrário, não o era. Essa observação tem uma conseqüência imediata sobre a figura bíblica de Moisés. O retrato desse personagem é, portan to, uma obra o mais das vezes pós-exílica, e a tarefa do historia dor que quer determinar quais traços sejam antigos e — quiçá — remontem à figura do Moisés histórico é mais que árdua.
III. A escravidão dos hebreus no Egito (Êxodo 1 e 5) Esta parte do livro do Êxodo contém alguns elementos que, do ponto de vista da história, são verossímeis. Por exemplo, Êxodo 1 e Êxodo 5 falam de uma população de semitas residentes no Egito e obrigada — por motivos estratégicos ou outros — a cons truir cidades com escopo militar não longe do delta do Nilo. De fato, há pinturas egípcias que representam escravos de origem semítica ou asiática ocupados na fabricação de tijolos. Pode-se dizer com certeza que esses escravos são semitas porque a iconografia egípcia segue regras fixas para a representação das diversas raças. Os semitas, por exemplo, usam barba, ao passo que os egípcios são glabros ou usam uma barba postiça; o nariz e os olhos dos semitas também são desenhados de modo reco-
nhecível. A narração bíblica é, pois, verossímil. Tbdavia, não se pode acrescentar muito mais que isso, porque faltam documen tos mais precisos a respeito. Houve muitos escravos no Egito durante toda a história antiga desse país e não deve causar ex cessiva surpresa o fato de não haver referências a um pequeno grupo de escravos hebreus presentes no Egito em um decurso de tempo limitado. As cidades de Pitom e Ramsés, das quais fala o texto bíbli co de Êxodo 1,11 (cf. 12,37), são conhecidas. Porém, fica difícil estabelecer uma ligação entre essas cidades e a ocupação de es cravos hebreus em sua construção. Disso não foi encontrada — evidentemente — qualquer prova certa.
A fabricação dos tijolos no Egito. Túmulo de Rekhmare, ministro de TUtmósis
III. Data: cerca de 1460 a.C. A pintura representa as diversas fases da fabrica ção. No alto, à esquerda, dois escravos tiram água em um pântano circundado por pequenas árvores (note-se o modo particular de representar objetos em perspectiva na pintura egípcia antiga). Ao lado, outros escravos trabalham a argila, transportando-a depois em cestas para ser posta em fôrmas retangula res de madeira. Essas fôrmas são deixadas ao sol para permitir que a argila seque (junto ao pântano). No alto, à esquerda, os tijolosr prontos são transpor tados e utilizados para a construção. O escravo que verifica com um instru mento a verticalidade do muro é um asiático porque usa a barba característica. Dois outros escravos, no mesmo lado esquerdo, muito provavelmente são tam bém asiáticos: sua carnação é mais clara, a forma do nariz é típica e também usam barba. Os vigias estão munidos de bastão ou de chicote. A parte inferior representa outro tipo de construção, mais sofisticada, com um plano inclinado. É construída com pedras de talho, tijolos e possivelmente um tipo especial de cal. Fonte: Atlas van de Bijbel, p. 46, n. 132.
IV. As pragas do Egito (Êxodo 7-12) Os fenômenos descritos na narração bíblica das pragas do Egito são comuns no Egito. Pode-se, por exemplo — ou podia-se, antes da construção do dique de Assuã —, observar todos os anos a água mudar-se em sangue quando o Nilo, na primavera, engrossado pelas chuvas caídas na África central, transporta areia vermelha. Rãs, mosquitos, insetos, gafanhotos, doenças e epide mias eram fenômenos comuns na Antiguidade. Apenas o grani zo é um fenômeno muito raro no Egito. Entretanto, a narrativa bíblica dedica muito espaço a essa praga, precisamente porque é insólita, mas não impossível (Ex 9,13-35). A praga das trevas (Ex 10,21-27), ao contrário, explica-se muito facilmente: trata-se de uma tempestade de areia. A morte dos primogênitos é mais difícil de explicar, espe cialmente se todos os primogênitos morreram na mesma noite, incluindo os primogênitos dos animais. Com certeza, é preciso entender-se com a linguagem hiperbólica da narração. Por ou tro lado, houve provavelmente na narração um processo de de senvolvimento. Um texto como o de Êxodo 4,23 anuncia somen te a morte do primogênito do Faraó. A narração de Êxodo 12 é provavelmente uma ampliação a partir desse primeiro dado tra dicional. Alguns estudiosos acrescentam que existe uma doen ça peculiar que só atinge os primogênitos. Tudo isso demonstra a precariedade de uma pesquisa es tritamente histórica sobre as pragas do Egito. Não faltaram ten tativas a respeito, como não faltam até agora. Porém, como já se disse, os fenômenos descritos são demasiado comuns ou descri tos de modo excessivamente genérico para que possam ser iden tificados com todo o rigor exigido por uma pesquisa histórica séria. Tãmbém nesse caso, o historiador honesto reconhece o fato de chegar à probabilidade, mas não à certeza. Na realidade, a narração contém um elemento único, que não é exatamente de ordem "histórica”, isto é, que não faz parte da simples crônica, postos de lado os eventos. Esse elemento é a reflexão sobre o poder de YHWH, Senhor de Israel, até mesmo
no Egito. Em outras palavras, o Deus de Israel demonstra ser o verdadeiro soberano do Egito e possuir um poder superior ao do Faraó, porque é de outra ordem. Por essa razão, a narração bíbli ca escolheu um "gênero literário” diferente do mero relato e mais idôneo para transmitir uma mensagem de fé. Não se contentou com uma série de informações áridas e neutras sobre o aconteci mento. Isso complica talvez a tarefa do historiador, mas facilita antes a de quem busca o "sentido”: a narrativa sobre as pragas do Egito coloca em destaque, antes de tudo, o aspecto "significativo” do que ocorre. Dessa maneira, convida livremente o leitor à re flexão, não se limitando a informar sobre eventos "sensacionais”. Esse tipo de reflexão teológica permite compreender o caráter "milagroso” das pragas do Egito. O intuito dessas narrati vas não é o de apresentar os fenôm enos como insólitos e inexplicáveis naturalmente. Ao contrário, é o de mostrar que só Deus e o Deus de Israel é senhor da natureza. Nem Faraó nem seus magos são capazes de comandar o Nilo, os insetos, os gafa nhotos, o vento, o granizo, a luz e as trevas. São também incapa zes de impedir as doenças dos homens e dos animais. Em outras palavras, o poder do Faraó é limitado, não porque não consegue causar fenômenos inauditos, mas porque não pode comandar a “natureza". De fato, a mentalidade antiga não distingue, como se faz hoje habitualmente, fenômenos "naturais”, explicáveis pela ciên cia, de fenômenos “sobrenaturais” que a ciência não consegue explicar. O “milagre” principal é, para o mundo antigo, o fato da existência como tal. Existir é um milagre constante, porque a morte é muito mais normal que a vida. O primeiro milagre é o fato da existência de um mundo povoado por seres vivos. Tbdo fenômeno natural é, pois, um “milagre” para os antigos, porque nada acontece sem a intervenção de Deus na natureza e no mundo dos homens. A narração bíblica pretende demonstrar essa verdade essencial com os recursos literários a sua disposi ção. Não deve causar admiração, pois, se hoje tornou-se possível “explicar” de modo bastante simples as pragas do Egito.
Enfim, há de se notar que o autor bíblico conseguiu suficien temente bem ambientar sua narração no mundo egípcio. Como já se afirmou anteriormente, as pragas são todas fenômenos co nhecidos no Egito e típicas desse país. E quando o fenômeno é raro, como no caso do granizo, o autor salienta-o expressamente.
V. A saída do Egito e a passagem do mar (Êxodo 13-15)
1. O papiro Anastasi IV e os outros documentos Quanto à saída do Egito e à passagem do mar, a situação do historiador também não muda muito. Existe, todavia, a propósi to da passagem do mar, uma narração análoga em um documen to egípcio, o papiro Anastasi IV. Ele contém o relato de um oficial de fronteira entre o Egito e o deserto do Sinai sobre um evento acontecido durante seu tempo de serviço. O Egito, de fato, havia instalado postos de fronteira a leste do país para vigiar as inva sões de nómades provenientes da península do Sinai ou a fuga de escravos do Egito. Nesse relato, o oficial diz qué alguns escra vos conseguiram esquivar-se de sua vigilância, escondendo-se à noite nos pântanos da região. É preciso lembrar que antes da construção do célebre canal de Suez o istmo que separava o Me diterrâneo do mar Vermelho era, em parte, uma região coberta de lagos e pantanosa. Outros textos egípcios antigos documentam a passagem de escravos fugitivos que deixavam o Egito para voltar a viver livres no deserto. Oficiais egípcios também fugiam nessa dire ção quando sua situação na corte se tornava insegura, conforme relata, por exemplo, certo Sinuhe (entre 1962-1928 a.C., aproxi madamente). Esse personagem atravessa um lago em uma bar ca, escondendo-se depois atrás de uma moita; aproveita a escu ridão para fugir das sentinelas que vigiavam os movimentos das
populações do deserto sobre um muro construido pelos Faraós com essa finalidade. No deserto, será acolhido por um xeique que o havia encontrado antes no Egito.
2. A falta de documentação e suas razões TUdo isso permite imprimir traços mais concretos à histó ria da passagem do mar, à noite (Ex 14,20.21.24.27). Esse "mar” de que fala o texto seria, de qualquer maneira, com muita pro babilidade, um dos lagos do istmo de Suez, antes que o mar Ver melho. Porém, qualquer tentativa de estabelecer a data do êxodo de modo excessivamente aproximado permanece infrutífera. Houve êxodos em demasia de escravos semitas fugidos do Egito para que se possa dizer qual deles é exatamente aquele de que fala a Bíblia. Além disso, os arquivos egípcios não registraram qualquer desaparecimento de um exército egípcio no mar enquanto per seguia um grupo de israelitas que saíram guiados por certo Moisés. Não lembram tampouco a morte de um Faraó afogado no mar. Na realidade, as crônicas do tempo não registravam der rotas com facilidade. E, mais provavelmente ainda, acontecimen tos como os que a Bíblia narra eram apenas anedotas sem im portância para a corte do Faraó. O êxodo é um evento funda mental para a fé de Israel; é muito menos provável que tenha deixado traços na história do' Egito.
3. O itinerário da saída do Egito Fica uma pergunta a propósito da passagem do mar: a ques tão do itinerário. Existem pelo menos três possibilidades: os hebreus atravessaram o mar Vermelho, ou os assim chamados "lagos Amargos”, ou uma laguna próxima do Mediterrâneo, deno minada lago Menzaleh (ou, antigamente, mar de Sirbonide). Fala-
se habitualmente da "passagem do mar Vermelho”. Tbdavia, é pouco provável que os israelitas tenham escolhido esse itinerá rio, porque o mar Vermelho é demasiado profundo. Seja como for, a tradução “mar Vermelho” não corresponde à expressão hebraica que designa esse mar. Tïaduz-se hoje, com mais exati dão, "mar dos Juncos". Ora, como já se disse, a região onde se encontra atualmente o canal de Suez era na Antiguidade uma região de lagos. Alguns desses lagos existem ainda hoje, como por exemplo os lagos Amargos. É muito mais provável que se deva buscar nessa região o palco da narração do Êxodo 14, perto de um desses lagos ou nas proximidades de uma laguna. Tfata-se porém, novamente, apenas de uma possibilidade. A narrativa bíblica não fornece dados suficientemente precisos para datar e situar geo graficamente o evento. Na narração, a experiência de fé (cf. Ex 14,31) conta mais que a precisão geográfica ou cronológica.
4. O milagre do m ar O "milagre do mar” descreve um evento que pode ser reconstruído de maneira verossímil sem excessivas dificuldades. O grupo de escravos hebreus fugitivos foi perseguido por uma divisão de carros egípcios (Ex 14,5-10). Chegaram à região dos aguaçais que separam o Egito do deserto (14,2.9). Os egípcios, porém, não conseguiram alcançá-los antes do pôr-do-sol. Depois disso, e durante grande parte da noite, um forte vento do leste descobriu uma parte de um lago da região (14,9 e parte do v. 21). Se estavam próximos ao mar, talvez ao vento se acrescentasse a maré. De qualquer maneira, os carros egípcios muito provavel mente avançaram sobre essa parte da costa. O relato bíblico não o afirma expressamente, mas é uma das explicações sugeridas pela narrativa. Além do mais, durante a noite, um forte nevoei ro (ou uma nuvem de areia levantada pelo vento) impediu os egípcios de ver e retomar os israelitas (14,20 e parte do v. 21). Pela manhã — e aqui é preciso novamente introduzir um ele-
mento que a narração não fornece explícitamente — o vento cessou e o mar voltou a seu ponto habitual (14,24). Os carros egípcios ficaram encalhados na lama (14,25), as ondas porém moveram-se com grande velocidade e não houve caminho de salvação para os egípcios, que morreram afogados porque fugi ram para o mar que de fato vinha de encontro a eles (parte de 14,27-28). Ao amanhecer, os israelitas descobriram os cadáveres na orla do mar (14,30). Essa versão é verossímil. Deve-se supor um evento seme lhante a propósito da batalha da torrente do Qishon. Assim Deborá e Baraq derrotaram o rei Siserá de Hasor. A história co nhece outras desforras semelhantes da infantaria contra os car ros e a cavalaria. A visão mais conhecida e propagada pelos grandes filmes hollywoodianos sobre o êxodo, vale dizer, a passagem do mar entre dois muros de água, um à direita e outro à esquerda, pro vém de uma narrativa mais recente que embelezou e ampliou de modo claro a tradição mais antiga (v. Ex 14,21b-22.29). Essa narração pertence à assim chamada tradição sacerdotal, um es crito que remonta à época pós-exílica.
5. O Deus da Bíblia tem aversão ao cavalo Um elemento interessante dessa narração é o já mencio nado antes: a derrota de um exército de carros e de cavalos. Pa rece, para dizê-lo de um modo um tanto paradoxal, que o Deus da Bíblia tem aversão ao cavalo, que, naquela época, era antes de tudo um animal que servia para a guerra e representava a potência militar. Deus repudia o cavalo e prefere o asno, animal mais comum e menos caro. Numerosos textos afirmam que a salvação não vem do “cavalo", isto é, de um exército que dispõe da arma mais poderosa da épocà: o carro (Is 30,16; 31,1; Os 1,7; 14,4; Zc 9,10; 9,10; 20[19],8; 33[32], 16-17; 147[146-147], 10-11; Pr 21,31). Provérbios 21,31 resume bem este pensamento: "Prepa-
ra-se uma cavalaria para o dia do combate, mas no fim a vitória depende do Senhor”. O famoso texto de Jó 39,19-25 descreve o cavalo sob esse aspecto guerreiro. Algumas narrações também fazem alusão a essa temática. Absalão, o filho rebelde de David, havia providenciado para si um carro e cavalos para demonstrar suas ambições (2Sm 15,1). Não foi muito feliz em seus intentos, pois morreu na batalha que o opunha ao exército de seu pai (2Sm 18). Adonias, outro filho de David, também escolheu esse cami nho quando pensou que houvesse chegado o momento de suce der o pai já em idade avançada (lR s 1,5). Sua sorte não foi muito mais feliz que a de Absalão. O sucessor de David foi Salomão, e não Adonias, que perdeu não só o trono mas também a vida (1 Rs 2,12-25). Salomão, de sua parte, entrou triunfalmente na cidade de Jerusalém não sobre um carro puxado por cavalos, mas sobre a mula de David (lR s 38). O mulo — que para nós representa o oposto da glória real —, na Bíblia, é o símbolo de um reino pací fico. O próprio Salomão não foi fiel a esse ideal, porque mais tarde fez construir estrebarias para seus cavalos e aparelhou seu exército com carros de guerra (lR s 5,6; 9,19.22; 10,26-29). Segundo o profeta Zacarias, ao contrário, o messias que entrará em Jerusalém irá montar um jumento (Zc 9,9), como Salomão no início de seu reino, porque será um rei pacífico. Ele fará desaparecer da cidade carros e cavalos para fazer reinar a paz (Zc 9,10). Segundo os evangelhos, essa profecia cumpriu-se quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho (Mt 21,1-10; Mc 11,1-11; Lc 19,29-38; Jo 12,12-16). Uma das poucas exceções à regra é José (Gn 41,43). O car ro que José recebe do Faraó é sinal de sua potência. O motivo é retomado pela narrativa sem qualquer nota crítica. A aversão bíblica ao cavalo explica-se como crítica a todo poder que se apóia excessivamente sobre o potencial militar, a saber, sua força. De acordo com essas narrações, especialmente Êxodo 14 ou também Juízes 4, ou os textos dos salmos e dos profetas, esse poder é, afinal de contas, muito frágil.
VI. A permanência no deserto
1. Os quarenta anos Os quarenta anos da permanência no deserto criam não poucos problemas à exegese. Relativamente ao passado nômade de Israel, é preciso repetir o que foi dito anteriormente com referência aos patriarcas: esse modo de vida perdurou por milê nios. Ainda hoje, grupos de beduínos vivem no Négueb e no deserto do Sinai com seus rebanhos de um modo que não deve ser muito diferente do descrito na Bíblia. O número quarenta é certamente simbólico. Aparece em textos como: Amós 5,25; Êxodo 16,35; Números 14,34; 33,38; Deuteronômio 1,3; 2,7; 8,2; Josué 5,6. Com exceção de Amós 5,25, todos esses textos são tardios, isto é, pós-exílicos.
2. Os milagres realizados no deserto Como é fácil imaginar, não existem documentos a respeito do itinerário no deserto e alguns eventos como a teofania do Sinai. Entretanto, algumas narrativas podem ser explicadas a partir de um conhecimento mais acurado das condições de vida no deserto do Sinai. Por exemplo, o maná de que se fala em Êxodo 16 e Números 11 é um fenômeno comum nessa região. Tbata-se da secreção de um inseto que se alimenta da linfa de uma moita, uma espécie de tamargueira. A cor dessa secreção é branca e seú gosto é doce. Existe também uma possível explicação para o “milagre da água" que brota da rocha (Ex 17,1-7 e Nm 20,1-13). Mesmo que seja rara, a água nunca falta completamente nessas regiões. A umidade do ar condensa-se durante a noite em lugares mais fres cos e pouco a pouco acumula-se, por exemplo, em algumas fen das e rachaduras da rocha, em virtude da mudança brusca de
temperatura depois do pôr-dosol. Ali permanece suspensa, cada parte em quantidade relativamente importante, em razão do fe nómeno da tensão superficial. Basta, porém, aplicar um golpe violento sobre a rocha para ver toda essa água "sair” literalmen te da rocha. Naturalmente, é preciso conhecer esses lugares. A narração que se lê em Éxodo 15,22-25, na qual Moisés transforma "águas amargas" em potáveis, poderia também ter uma base concreta. Com efeito, as populações do deserto co nhecem as propriedades da madeira de algumas árvores capa zes de tornar salubres águas não-potáveis. As migrações de codornizes (Ex 16 e Nm 11) e outras aves são bem conhecidas dos habitantes da costa mediterrânea e do deserto do Sinai. Pode-se acrescentar, sem dúvida, que as codor nizes que provêm da Europa e viajam em fins do verão para a África são muito saborosas, ao passo que as que vêm da África na primavera não são comestíveis. O tipo de alimento ingerido na África do Norte ou na África central torna sua carne impró pria para o consumo. Isso explicaria por que as codornizes que o povo come, segundo a narrativa de Êxodo 16, não produzem qualquer efeito negativo na saúde dos indivíduos, ao passo que as ingeridas conforme narrado em Números 11 provocam conseqüências letais em um número considerável de israelitas. A teofania do Sinai descreve, ao invés, um violento temporal. Alguns pensaram até em uma erupção vulcânica. O texto, porém, fala de um fogo que "desce" sobre a montanha (Ex 19,18). O “fogo" de uma erupção vulcânica não desce, mas sobe da montanha. Esses elementos não bastam, certamente, para conferir uma base histórica sólida a todas as narrativas bíblicas sobre a perma nência de Israel no deserto. Não obstante, ajudam a ambientálas melhor. Além do mais, não se pode afirmar que todas essas narrações sejam meras "invenções". Os narradores tinham co nhecimento das condições concretas de vida no deserto. Com referência aos "milagres" de Deus em favor de seu povo no deserto e de sua explicação acima proposta, convém acrescen tar uma breve observação. Na mentalidade moderna, um "mila gre" é um fenômeno que não pode ter uma explicação natural,
racional ou científica. Requer, portanto, uma explicação de or dem sobrenatural. Essa distinção entre “natural" e "sobrenatural" é, porém, assaz recente. Constitui, em grande parte, resultado das discussões com o racionalismo e o positivismo do século das Luzes. A mentalidade bíblica não faz essa distinção do mesmo modo. O Deus da Bíblia é também o Deus da natureza. Por essa razão, todo fenômeno natural que torna possível a vida em um lugar onde ela é quase impossível é considerado uma interven ção divina. De fato, no deserto o normal é morrer, e não sobrevi ver. Viver no deserto, encontrar água e alimento onde usualmen te não existem meios de sobrevivência constitui já um "milagre".
3. A permanência no deserto Em continuidade ao tema da permanência de Israel no deserto, algumas publicações do arqueólogo italiano Emanuele Anati poderiam proporcionar um quadro histórico às narrações bíblicas. As escavações levadas a efeito no sul do Négueb, espe cialmente na região de Har Karkom, tiveram resultados bastan te interessantes. Segundo esse arqueólogo, a região do Négueb, ou seja, a parte setentrional do deserto do Sinai, foi habitada durante milênios. As posses, todavia, são muito numerosas du rante o terceiro milênio a.C. e diminuem improvisamente a partir do segundo milênio a.C. (entre os anos 1950 e 1000 a.C.). No primeiro milênio, a população aumenta novamente, mas sem atingir o nível precedente. Essa drástica baixa numérica a partir do início do segundo milênio é devida, provavelmente, a uma mudança clim ática. Considerando-se que a agricultura e o pastoreio dessa região dependem inteiramente das precipitações pluviais, basta uma redução da quantidade de chuva para provo car um grave desequilíbrio e obrigar grande parte da população a deslocar-se, se não quiser perecer. Com efeito, pode-se pensar que a população relativamente numerosa dessa região tenha optado por abandoná-la. Havia duas possibilidades: o norte, para a terra de Canaã, ou o oeste, rumo ao Egito. Pois bem, é precisa-
mente em relação a essas duas possibilidades que se divide a comunidade de Israel no deserto. Moisés luta para ir estabelecer-se na terra de Canaã, enquanto o povo prefere o Egito (Ex 14,11-12; 16,3; 17,3; Nm 11,18.20; 14,2-4; 16,13-14; 20,5-6; 21,5). Existe, pois, certa convergência entre as narrativas bíblicas, embora muitas delas sejam recentes, e alguns dados fornecidos pela arqueologia. Porém, é preciso ser prudentes. Não encontra mos Moisés e o Israel do deserto. Encontramos apenas vestígios da existência de uma população relativamente numerosa no deserto de Négueb em um período bastante longo, concretamente de 4000 até 2000 a.C. Essa população desapareceu a partir de 2000/1950 a.C. Provavelmente dirigiram-se quer ao Egito, quer à Palestina. Isso fornece um paralelo ao que a Bíblia descreve nos relatos sobre a permanência de Israel no deserto e sobre as tentativas de conquista a partir do sul. Tálvez — mas, novamen te, trata-se de uma hipótese difícil de ser averiguada — tenha mos até aqui a origem de algumas tradições bíblicas sobre a per manência no deserto. A grande dificuldade de uma hipótese desse gênero é o fato de que seria necessário fazer remontar algumas narrações certamente ao ano 2000 a.C. Ora, os estudos recentes sobre a tradição oral mostram que as narrações popu lares podem sem dúvida conservar por muito tempo alguns mo tivos ou transmitir lembranças do passado. Tbdavia, a tradição transforma, adapta, dá matiz e interpreta fortemente segundo as circunstâncias. É, pois, pouco prudente pretender encontrar nas narrativas elementos históricos precisos que poderiam re montar a mais de dois mil anos antes e, principalmente, fiar-se das narrações pelo detalhe da reconstrução histórica. Depois dessa pesquisa, uma coisa, porém, permanece se gura: o Négueb é uma região onde a vida é precária. O que a Bíblia narra quanto às dificuldades para viver nessa região teria podido verificar-se em qualquer época. O desejo de ir ou voltar a viver no Egito ou um tanto para o norte constituiu uma tenta ção quase constante para essas populações. O desejo se fez mais vivo toda vez que a vida se tornou mais difícil devido às condi ções meteorológicas menos favoráveis.
Essa hipótese permite enquadrar melhor Moisés e sua ati vidade no deserto. A Biblia afirma diversas vezes que Moisés não entrou na terra prometida porque morreu no deserto. Os textos que falam de determinada “culpa” de Moisés são, entre tanto, todos tardios (Nm 20,12-13; Dt 1,37-38; 3,23-28) e procu ram explicar em chave teológica um fato transmitido pela tradi ção. Pretendem responder a uma pergunta que surge somente quando Moisés se torna o chefe que conduz Israel para fora do Egito, rumo "à terra onde corre leite e mel”. A partir desse mo mento, era inevitável indagar-se porque Moisés não entrou nessa terra. Para esses autores recentes, o fato de não entrar na Térra Prometida não podia com efeito ser outro senão um castigo divi no e assim explicam a questão. Contudo, o Moisés primitivo era apenas um personagem que vivia no deserto, onde desenvolvia sua atividade de chefe religioso e político. Lá teria também morrido. Existem alguns santuários de diversas épocas no Négueb e "Moisés”, talvez um homem de origem egípcia (cf. seu nome), pôde ser ativo em torno de um deles. Seja como for, o fato não é inverossímil. Portanto, o quadro no qual um personagem como Moisés tivesse podido exercer sua atividade existe. Tbdavia, essas refle xões não permitem afirmar que se tenha encontrado Moisés. Podemos apenas dizer que a arqueologia traça um quadro no interior do qual é possível situar uma figura bíblica como a de Moisés. Para poder passar da possibilidade à certeza e demons trar sua existência, seriam necessários outros elementos positi vos dos quais até agora não dispomos. Em suma, repetimos que Moisés é uma figura-chave no Antigo Tèstamento porque as instituições mosaicas permitem ao Israel pós-exílico viver sem monarquia e sem autonomia po lítica no próprio país. A situação de Israel no deserto, sob a guia de Moisés, é emblemática: o Israel pós-exílico vive em uma si tuação semelhante. A intenção fundamental dos textos é trans mitir essa mensagem essencial, e não delinear o retrato do Moisés histórico ou reconstruir o passado remoto dos antepassados de Israel no deserto.
4. O Sinai A colocação do Sinai é muito discutida. Há pelo menos três ou quatro hipóteses contraditórias. Para alguns, o Sinai en contra-se próximo ao atual mosteiro de Santa Catarina (o maci ço do Djebel Musa, o "monte de Moisés", que, de qualquer ma neira, conta com mais de um cume). Para outros, deveria en contrar-se na Arábia Saudita, a leste do golfo de Aqaba, na parte setentrional do maciço de Al-Hijaz, porque só lá se encontra vam antigos vulcões, e a narração de Êxodo 19 supõe, ao menos para estes cientistas, uma erupção vulcânica. Recentemente, E. Anati propôs Har Karkom, um lugar montanhoso do Négueb ao Norte da península do Sinai. É preciso reconhecer que até agora não foi possível identificar com certeza o lugar bíblico do Sinai ou Horeb (como é chamado no Deuteronômio). As razões destas dificuldades são múltiplas. A principal, porém, é o simples fato de que para a Bíblia o monte Sinai ou Horeb representa menos um lugar geográfico que um lugar jurí dico: é o lugar onde Israel constituiu-se como povo de Deus e lhe foram dadas suas leis fundamentais. Tbdas as instituições que, na Bíblia, remontam a esse momento de sua "história" são fundamentais. As outras, ao contrário, não o são. Esse fato é mais importante para a Bíblia do que a situação geográfica exata do monte. Tbdos os textos são concordes acerca de um único ponto, e trata-se de um ponto essencial do qual falaremos: o Sinai não se encontra em Israel, mas sim “no deserto".
5. As instituições mosaicas As instituições mosaicas são todas essenciais à existência de Israel. Tbdavia, um aspecto dessa legislação não pode não surpreender: essas instituições foram promulgadas fora de seu território. O monte Sinai, o monte onde Israel tornou-se um “povo" e uma "nação” quando consumou uma aliança com seu ¿ Deus, encontra-se no deserto e não na terra prometida. É, por
isso mesmo, um monte mais importante que o monte Sião e que Jerusalém, porque Israel nasceu no monte Sinai e não so bre o monte Sião. Desse fato podemos, pois, extrair uma conclusão impor tante: Israel pode viver como povo sem a própria terra, sem monarquia e sem verdadeiro templo, uma vez que este é mais antigo que a conquista da terra, da monarquia e do templo de Salomão. Israel espera, evidentemente, possuir um dia uma ter ra, ter um rei próprio e um templo. Tbdavia, dadas as circuns tâncias, pode também prescindir deles e existir já como povo em uma condição transitória. Os eixos desta "teologia do Sinai" ou constituição de Israel são dois: a lei e o culto. O primeiro é um eixo jurídico e o outro é cultual. Ambos estão ligados entre si porque o direito de Israel é selado pela autoridade divina, e. e c o O i
a) O direito de Israel O direito de Israel, promulgado sobre o monte Sinai, é di ferente dos direitos conhecidos no Oriente Médio antigo porque sua validade não está ligada a um território e a autoridade que o sanciona não é a autoridade tradicional de uma monarquia. O direito de Israel funda-se sobre o consenso, não sobre a coerção. Tbdo o povo entra livremente em uma aliança com seu Deus e jura, sempre livremente, observar a lei. Israel aceitou, pois, livremente atribuir-se um "direito" ou impor-se uma “lei” para ser o povo de Deus. Esse direito foi proposto, e não impos to, e é válido porque todo "cidadão”, todo membro do povo de Israel empenhou-se publicamente em respeitá-lo. Poder-se-ia objetar que o direito de Israel fimdou-se sobre a autoridade divina e sobre a autoridade de Moisés mais que sobre o consenso do povo. Porém, a autoridade divina não é uma autoridade humana. Afirmar que o direito é de origem di vina significa que tal direito não foi imposto por ninguém, por nenhuma autoridade humana.
Aliás, a autoridade de Moisés nãoé uma autoridade huma na ordinária. Não dispõe de força alguma de coerção, de uma guarda ou de um exército e. não dispõe sequer de um poder eco nômico do qual o povo dependeria. As "qualidades" de Moisés são intrínsecas, não extrínsecas. Provêm de sua “competência”, diríamos hoje, e não de seu "poder” político e econômico. Moisés é autorizado porque Deus o conhece face a face (Dt 34,10) ou fala-lhe "de viva voz” (Nm 12,8). Essa autoridade funda-se, pois, sobre as qualidades humanas — religiosas, para a Bíblia — e não sobre condicionamentos materiais. Israel constituiu-se como na ção a esse "preço”, ou seja, procurando construir a própria iden tidade sobre valores humanos fundamentais, sem esperar que fossem satisfeitas todas as condições materiais para a realização de seu “projeto de sociedade". Sobre esse ponto, a Bíblia revelase extraordinariamente moderna.
b) O culto A mesma situação é encontrada no culto instituído por Moisés no deserto. A característica fundamental do "santuário" do deserto é, de fato, sua mobilidade. Em poucas palavras, o símbolo mais importante da presença de Deus é uma tenda que se desloca, que guia e acompanha o povo em sua marcha no deserto rumo à terra prometida. Deus não habita, pois, apenas na terra prometida, e não espera ter uma morada estável e defi nitiva, que será o templo de Salomão, para vir habitar meio a seu povo. Antes, vem compartilhar as condições precárias, pro visórias e transitórias do deserto, que é terra da morte mais que da vida. Em termos muito simples, poder-se-ia dizer que Israel pode viver no reino da morte porque seu Deus é capaz de fazêlo viver onde normalmente triunfa a morte. Em termos mais "políticos”, dir-se-ia que Israel consegue existir como nação e povo em condições nas quais a existência de um povo ou de uma nação é normalmente impossível. Com efeito, faltam a Is-
rael um território e um "governo” autônomo, isto é, uma monar quia, que são no Oriente Médio antigo dois requisitos essenciais para constituir uma "nação” no sentido pleno da palavra. Essa teologia de um Deus capaz de “habitar" no provisório e fazer com que seu povo viva em uma situação imperfeita e transitória prepara e antecipa a teologia da encarnação. Uma frase do Novo Testamento apreende o essencial do Antigo Testa mento para aplicá-lo ao Novo: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória” (Jo 1,14). Para João, o Verbo veio armar sua tenda na imperfeição do mundo humano, assu mindo a condição humana com tudo quanto tem de efêmero e frágil. Significa, porém, que o Novo Testamento assim como o Antigo afirmam vigorosamente que Deus se faz presente em nosso mundo, e que a plenitude da vida é já de certa forma oferecida a todos os “peregrinos” de nossa terra. Deus não espe ra os peregrinos na chegada, na porta da eternidade; ele próprio tomou o bastão e o alforje do peregrino para percorrer conosco o longo caminho para a cidade do infinito. Pode-se concluir agora que esse esforço de reflexão teoló gica, em sua forma definitiva, situa-se no período pós-exílico, depois da perda da terra, do fim da monarquia e da destruição do templo. Seria verdadeiramente difícil imaginar que tal teologia tivesse sido elaborada enquanto Israel vivia em sua terra, gover nado por seus reis e oferecendo um culto a seu Deus no templo de Jerusalém ou em outros santuários.
Conquista da terra, sedentarização de pastores nômades, rebelião campesina ou evolução social?
I. O livro de Josué e a arqueologia O livro de Josué descreve com abundância de detalhes duas grandes batalhas pela conquista da Térra Prometida: o assédio a Jêricõ (Js 6) e a batalha contra a cidade de 7-8). O restante da con quista é descrito de preferência em forma de resumo (cf. Js 10; 12).
1. Os problemas históricos do livro de Josué Segundo a cronologia estabelecida pelos estudiosos, a con quista de Josué teve lugar entre os anos 1200 e 1100 a.C. De imediato, essa data dá origem a um grande problema para o exegeta e para o historiador. Nessa época, as cidades de Jerico e
de Ai não estavam ocupadas. O povo de Israel, guiado por Moisés, encontrou-se, pois, diante de cidades destruídas, em ruínas (a palavra hebraica "Ai”significa exatamente "ruínas”, "escombros”). As narrações talvez tenham nascido precisamente porque essas cidades não estavam ocupadas. Diversas teorias foram propos tas para conciliar o texto bíblico com os dados da arqueologia. Por essa razão, não é o lugar para apresentá-las. Permanece o fato desconcertante de uma considerável diferença entre "histó ria real” e "história bíblica".
2. O livro de Josué e o gênero literário “épico” Para resolver o problema, convém começar, como nos ou tros casos, por uma análise mais cuidadosa da narrativa bíblica e de sua intenção. O livro de Josué é um dos poucos exemplos de literatura “épica” na Bíblia. O caráter épico do livro de Josué manifesta-se principal mente no modo de descrever as batalhas de Israel contra as po pulações do território. Exceto em um caso, na primeira tentati va de conquista de Ai (Js 7), Josué vence e derrota. Ninguém consegue detê-lo. No caso de Ai, a culpa não é sua, mas de um israelita, Akan, que não observou a lei do anátema. O intuito da narrativa é óbvio: ninguém pode desobedecer impunemente à lei do Senhor. Em suma, no livro de Josué como na epopéia, as vitórias ou são completas ou não se realizam. É impossível ven cer apenas pela metade. O caráter épico do livro de Josué revela-se em segundo lugar na “perfeição” deste momento da história de Israel. Com efeito, a época de Josué representa para a Bíblia uma espécie de idade de ouro, porque Israel é fiel a seu Deus — com exceção, novamente, do caso de Akan (Js 7) — e é exemplar em sua observância da lei (Js 24,31; Jz 2,7). Tildo isso explica o sucesso da conquista. Essas observações têm suas conseqüências sobre a inter pretação do livro. Claramente, não temos uma crônica detalha
da do que aconteceu, e sim a descrição de uma época ideal da * história de Israel. Ao menos uma vez em sua história, nos pri meiros momentos passados na terra prometida, Israel conseguiu viver segundo os cânones fixados por Deus na lei de Moisés. O livro de Josué nos transporta para o mundo excêntrico da epo péia e não nos faz percorrer os caminhos áridos da "historiografia". No entanto, epopéia não significa “lenda", isto é, mera ficção. Segundo a definição de Victor Hugo, "a epopéia é história ouvi da à porta da lenda”. De acordo com essa definição poética, a narração procura exaltar seus heróis, embelezar atores e aconte cimentos, celebrar mais que descrever e promover nos leitores sentimentos de admiração. Não é certamente seu primeiro in tuito o de aguçar o senso crítico. Para extrair os elementos históricos dessa narração épica, é pois indispensável extraí-los de seu invólucro épico. A tarefa torna-se talvez ainda mais complicada porque os narradores bí blicos assemelham-se aos alquimistas: transformaram comple tamente os ingredientes primitivos — velhas lembranças e tra dições antigas — para produzir algo muito diferente, ou seja, a narração épica. Tteoricamente, não se pode excluir que na ori gem existissem lembranças históricas sobre os acontecimentos. Antes, pode-se supor com boas razões que assim fosse. Tbdavia, em muitos casos, tornou-se muito árduo ou quase impossível identificá-los na narrativa épica atual. A pesquisa histórica deve forçosamente interferir em outros elementos, como o estudo de documentos extrabíblicos e dados arqueológicos, para chegar a conclusões mais sólidas sobre o que realmente aconteceu.
II. As teorias sobre a posse de Israel na terra de Canaã Como a narrativa épica não reflete exatamente o andamen to dos fatos, os exegetas indagaram-se sobre como Israel se ha via estabelecido concretamente na terra de Canaã. A esse res peito, existem três teorias principais.
1. A conquista militar (a escola de W. F. Albright) A primeira teoria, a mais clássica e a que era mais comum até há alguns anos, considera que a narrativa bíblica, em grande parte, é aceitável. Té ria havido uma verdadeira conquista por •volta de 1200 a.C. Algumas cidades foram destruídas nessa épo ca e observa-se que a essas destruições seguiu-se uma nítida queda de nível da cultura. Porém, não é possível provar que toda a terra de Canaã tenha sido conquistada nessa época. Já um texto como Juízes 1 redimensiona em boas proporções o grande afresco épico pintado pelo livro de Josué. Somente sob a monarquia existiu uma cultura mais ou menos homogênea em todo o território do Israel bíblico. A conquista parece ter sido um fenômeno gradual e progressivo que se estendeu por um longo período de tempo. A “campanha relâmpago” de Josué cons titui antes, como se afirmou acima, uma reconstrução literária. Porém, tudo somado, a narração bíblica possui “um fundamento na realidade”, uma vez que Israel teria se apossado da terra de Canaã após uma série de conquistas militares.
2. A sedentarização progressiva de seminômades Para resolver os problemas principais da primeira teoria, especialmente o problema levantado pelas escavações efetuadas em Jericó e Ai — e mencionadas acima —, uma segunda teoria foi proposta pelo famoso exegeta alemão Albrecht Alt. Em vez de numa conquista militar de rapidez fabulosa, dever-se-ia pen sar numa infiltração lenta e pacífica de seminômades vindos de regiões desérticas e que progressivamente se sedentarizaram na terra de Canaã. Motivados pela transferência dos rebanhos, os seminômades que eram os antepassados de Israel vieram regu larmente para as partes menos hàbitadas da terra de Canaã du rante a estação seca, de abril a outubro, em busca de pastagens para seus rebanhos. Pouco a pouco, ocuparam os territórios menos povoados, especialmente as colinas. E assim as tribos de
Israel teriam se estabelecido progressivamente, primeiro nos relevos e nas partes menos acolhedoras da região, depois nas planícies mais férteis. Finalmente, no tempo da monarquia, te riam assumido o poder e conquistado as cidades cananéias.
3. A rebelião dos camponeses contra as cidades cananéias Uma terceira teoria procura explicar melhor o fenômeno do ponto de vista religioso. Que espécie de alicerce pôde unir as diversas tribos em um único povo antes da monarquia? Só a fé em um único Deus, diferente do Deus honrado pela população cananéia que dominava a nação a partir das cidades fortificadas. Essa teoria, proposta por exegetas estadunidenses tais como George Mendenhall e Norman K. Gottwald, introduz na argu mentação raciocínios de caráter sociológico. Retomo e resumo em grandes linhas a hipótese como é desenvolvida na obra mo numental de N. K. Gottwald, Le tribu di Yahwe (The Tibes o f Yaweh. A Sociology o f the Religion o f the Liberated Israel 1250-1050 B.C.E., London: SCM, 1979). Em síntese, os hebreus eram, quanto ao mais, populações de camponeses e de escravos a serviço das cidades cananéias. O poder das cidades nas campanhas era devido à posse de um exér cito profissional dotado de carros de combate. Essa arma, que necessitava da criação de cavalos, era bastante dispendiosa. Uma parte da população, concretamente os soldados, vivia às expensas dos outros. Para sustentar o exército, era pois necessário produzir um surplus destinado a essa parte da população que vivia sem participar da produção dos bens de primeira necessidade e, afinal de contas, não favorecia em nada, a não ser garantir o domínio de uma minoria, a classe poderosa, sobre um proletariado sem defe sa. Para manter esse sistema de exploração, foram introduzidas instituições como o trabalho forçado, a servidão e a corvée. Além disso, a população escravizada dificilmente podia rebelar-se, por que adorava o mesmo Deus dos cananeus, o Deus El.
Tudo mudou quando um pequeno grupo de levitas, chega dos do Egito e depois de certo percurso pelo deserto, conseguiu inculcar uma nova fé nessa população explorada: a fé no Deus YHWH. Uma vez adotado esse “novo” Deus, tornava-se enfim possível desligar-se dos cananeus. A idéia de uma aliança com YHWH avançou e funcionou como catalisador no processo de unificação dessa população que agrupava pessoas e clãs de di versas origens. A religião constituiu, pois, o elemento-chave no nascimento de um "povo de Israel”. Os diversos grupos de proletários, isto é, de camponeses submetidos, rebelaram-se contra seus patrões e fugiram em grande parte para as colinas. Foi possível estabelecer-se nessas regiões inóspitas graças a novas técnicas, como a da cultura em terraços e das cisternas, que se tomaram impermeáveis graças ao gesso. A invenção e o uso sistemático do ferro no início do primeiro milênio a.C. tornou possível a agricultura em terras até então incultas, uma vez que os instrumentos de ferro, mais sólidos que os de bronze, permitiam roçar e arar solos áridos. Enfraquecidas, as cidades cananéias perderam finalmen te a batalha contra esta "nova geração" que repovoou, pois, o território a partir da parte mais montanhosa. De acordo com essa hipótese, não teria havido qualquer “invasão” de fora. Israel não teria vindo do deserto para conquis tar a terra, pois que sempre esteve no território. Apenas um pequeno grupo veio de fora, o dos levitas. Não se fala mais de conquista, mas de rebelião de camponeses contra seus patrões das cidades-cananéias.
4. Crítica das teorias e balanço Tbdas as três teorias geram problemas. Os pontos fracos apareceram depois da análise da cerâmica utilizada nesta época em Israel. Com efeito, encontram-se sinais por toda a parte em Israel. Cada cultura possui, porém, seu próprio tipo de cerâmi-
ca, a partir do qual é possível identificá-la e datá-la. Tbda mu dança no tipo de cerâmica — a forma dos vasos, sua coloração, o tipo de fabricação etc. — corresponde, pois, a um novo tipo de população nos domínios estudados (I. Finkelstein). A primeira teoria oferece dificuldades porque não exis tem provas arqueológicas de uma conquista a partir da Ttansjordânia. Já falei da dificuldade de investigar as conquistas e as destruições de cidades executadas por Josué segundo o livro do mesmo nome, especialmente no que diz respeito às cidades da parte central do país de Israel (Jerícó, Ai etc.). Os arqueólogos não encontraram sequer sítios israelitas construídos sobre cida des cananéias destruídas. Em alguns lugares, todavia, como em Hasor, ao norte da Galiléia, os arqueólogos notaram que a cida de foi destruída por volta de 1220/1200 a.C. A seguir, a cultura empobreceu-se, como se pode observar nas construções e nos utensílios que remontam a esse tempo. Pode-se, pois, tomar como hipótese, ao menos em alguns casos, uma conquista militar. Não se trata, certamente, de uma conquista de todo o território sob a guia exclusiva de Josué. E é difícil determinar se esses novos habitantes podem ser identificados com os israelitas da Bíblia. A segunda teoria depara com o mesmo problema: se gru pos de seminômades infiltraram-se a partir da TVansjordânia, não se compreende por que teriam adotado um novo tipo de cerâmica depois de haver atravessado o Jordão. Ora, esta é pre cisamente a questão: não há continuidade entre a cerâmica co mum na TVansjordânia e a da Cisjordânia. Ä cerâmica típica dos grupos de seminômades deveria ter sido importada com eles. Não é o caso. A terceira teoria exerceu e ainda exerce um grande fascí nio, especialmente porque reinterpreta o texto bíblico em chave sociológica. Esse processo de franquia e de libertação seduz efe tivamente com seu componente religioso essencial. A hipótese tem sua lógica e sua força de persuasão. É também inegável seu poder de dar esperança a todos os explorados deste mundo. Infe-
lizmente, também essa teoria tropeça em alguns dados. Primei ro, não se compreende bem como aconteceu de a Bíblia não ter conservado uma lembrança mais precisa do evento. Se Israel nasceu dessa maneira como povo livre, por que não narrar o fato mais fielmente? Um outro obstáculo, mais grave, é de caráter cultural. Segundo os especialistas, não existe continuidade entre as culturas das cidades cananéias da planície e a das populações que ocuparam as colinas. A cultura das colinas é do gênero pas toril e não urbano. Por isso, os habitantes das colinas não podem provir do proletariado das cidades ou das vizinhanças da cidade. Uma teoria hoje partilhada por diversos estudiosos combi na elementos da segunda e da terceira hipóteses. A pergunta essencial para o historiador que estuda essa época consiste em saber de que modo passou-se de “Canaã" para “Israel”. Em outras palavras, é preciso explicar o fim da cultura cananéia, baseada especialmente em cidades fortificadas e defendidas por um exér cito dotado de carros e cavalos, e o início da cultura mais agríco la e pastoril de Israel. Para alguns especialistas, o sistema cananeu exauriu-se por si mesmo. Primeiro fragmentou-se e depois des moronou. A construção e a conservação dos muros e a manu tenção de um exército profissional e dotado de cavalos onera vam fortemente a economia de um país no qual os recursos eram um tanto limitados. As taxas demasiado pesadas, as guerras, a insegurança e a falta de recursos suficientes para manter os pas tores obrigaram estes últimos a abandonar as zonas próximas das cidades onde se haviam estabelecido e sedentarizado, para ir viver nas colinas. Nota-se, com efeito, uma queda drástica de população nas planícies ocupadas pelas cidades cananéias. Essa queda tem iní cio em fins da época do Médio Bronze (1800-1550 a.C.) e atinge seu nível mais alto na época do Bronze Recente (1550-1200 a.C.). Depois de certo tempo, essa população voltou para as planícies, quando a situação se tornou novamente mais favorável, no iní cio da primeira Época do Ferro (1200-900), que coincide para muitos cientistas com a época da "conquista" ou da instalação de
Israel na terra de Canaã. Não é, pois, necessário pensar em uma rebelião ou em um conflito violento. As causas do colapso são internas. Em relação a esse fenômeno, há paralelos antigos e me nos antigos: a construção das pirâmides do Egito, a dos templos maias ou a das estátuas da ilha de Páscoa tiveram um efeito análogo sobre as culturas e sobre as sociedades nestas diversas partes do mundo: uma exaustão econômica que põe fim, brus camente, a um sistema político caracterizado por excessiva ex ploração. "Israel" tomou o lugar de uma cultura em final de vida. A narração bíblica apenas transformou o processo lento, e além do mais pacífico, em uma série de façanhas épicas. A teoria tem seus valores e merece consideração. Tãlvez seja necessário acrescentar alguns elementos novos ou alguma nuança. Por exemplo, as ligações entre as populações de Canaã e as da TVansjordânia e do Négueb, e talvez com alguns compo nentes que teriam emigrado para o Egito, mereceriam um estu do mais aprofundado. Seja como for, para o essencial, a teoria de um processo interno para a sociedade cananéia constitui, para o momento, a que continua sendo mais satisfatória.
5. A esteia de Merneptah Remonta a esta época o primeiro documento encontrado que menciona o nome de Israel: a esteia de Merneptah, incisa no quinto ano do reino desse Faraó que foi o sucessor de Ramsés II e reinou de 1238 a 1209 a.C. A esteia seria, pois, do ano de 1233 a.C., aproximadamente. Essa esteia enumera uma lista de povos derrotados pelo Faraó em uma campanha asiática. Diz literalmente: “Israel está aniquilado e não possui mais semente [descendência, posterida de]". Ao lado do hieróglifo que designa Israel, encontra-se o hieróglifo que significa “povo”. A interpretação dessa inscrição não é fácil. Tíata-se, talvez, de uma batalha não registrada pela Bíblia. As crônicas nacionais não relatam facilmente as derrotas.
Ou então a narrativa se encontra sob outra forma no rela to bíblico, como por exemplo em Josué 10, onde se torna urna vitória de Josué. Afinal, poder-se-ia com certeza pôr em dúvida a historicidade das estelas e pensar em uma falsificação: o Faraó enumera uma série de vitórias sobre inimigos tradicionais e povos conhecidos, de acordo com um gênero literário bem conhecido. O fato de encontrar um nome na lista não significa necessaria mente que o Faraó tenha combatido esse povo. Quem irá con tradizer o Faraó no Egito? Um único ponto merece nossa atenção: se o Faraó mencio na Israel pelo nome, devia existir naquela época uma entidade correspondente. Um Faraó não derrota fantasmas. Mas o que podia ser Israel naquela época? Tãlvez não estivesse ainda cons tituído o Israel que conhecemos na Bíblia, uma confederação de tribos que viviam no território que se estende da Fenícia ao de serto do Sinai, entre o vale do Jordão e o mar Mediterrâneo. TYata-se, provavelmente, de apenas uma tribo que deu seu nome à nação que nasceu a seguir. Há outros exemplos desse fenômeno. Uma região ou um povo dá o próprio nome a todo o território. Fala-se comumente de Suíça para designar a Confe deração Helvética. De fato, a Suíça deve seu nome ao pequeno cantão de Schwyz. Do mesmo modo, fala-se de Holanda, antes que de Países Baixos, visto ser a Holanda a região que, política e economicamente, é mais importante. O mesmo vale para a In glaterra, região-chave do Reino Unido ou Grã-Bretanha. A Fran ça, ao invés, deve seu nome aos francos, que são considerados os verdadeiros fundadores do reino da França.
A esteia de Merneptah (cerca de 1233 a.C.), encontrada em Tfebas. No alto da esteia, vê-se duas vezes o Deus Amon, o deus-sol de Tfebas, que oferece uma cimitarra ao Faraó. O disco, símbolo do sol, paira sobre o deus Amon. À direita encontra-se o deus Hórus, o falcão, e à esquerda a deusa Mut, esposa de Amon e deusa de Tfebas. Fonte: Atlas van de Bijbél, p. 45, n. 131.
I I O nome Israel na estela de Merneptah. Fonte: Cahier évangile, n. 33, p. 37.
Com efeito, a Bíblia menciona uma vez uma pequena po pulação, os filhos de Asriel ou asrielias, que habitavam na parte central do país (Js 17,2). Asriel é sobrinho de José e um dos numerosos filhos de Manassés. O nome Asriel, muito próximo ao de Israel, seria talvez a denominação que, após muitas vicis situdes a respeito das quais nada mais sabemos, foi adotado por todas as populações da região.
6. Os hapirus e os hebreus Com muita freqüência, os manuais e as introduções ao Antigo Testamento, assim como as apresentações populares da Bíblia, fazem referência a uma teoria que teve muita aceitação nos anos passados. Os documentos encontrados em Ttell al Amarna no Egito, capital do famoso Aquenàton ou Amenófis IV (1374-1347 a.C.), mencionam freqüentemente grupos conheci dos sob o nome de hapirus. Esses documentos provêm da cor respondência diplomática da corte do Egito com seus vassalos do Oriente Próximo, entre outros, da terra de Canaã. Uma parte da correspondência traz o nome de certo Abdi-Hepa, rei de Urusalim (Jerusalém). Lamenta-se muitas vezes por causa de incursões de hapirus e pede a ajuda de seu soberano egípcio para defender o território contra esses ataques. Nas cartas, redigidas em àcádico, os hapirus são descritos como pouco simpáticos e são normalmente temidos. Quanto ao mais, trata-se de camponeses e escravos que fugiram de seus patrões. Vivem de banditismo e causam aborrecimentos aos
pequenos potentados locais, que pedem ajuda ao Faraó para defender-se. Outros são mercenários ou prestam seus serviços para grandes obras de construção. Alguns pretenderam ver nesses hapirus os hebreus da Bí blia. Haveria um parentesco lingüístico entre as palavras hapirus ou habirus e hebreus. Além disso, teremos um testemunho his tórico da invasão de Canaã da parte dos hebreus, com a condi ção de que se possa identificar esses hapirus que atacam regu larmente as cidades cananéias com os hebreus bíblicos. A teoria, no entanto, não tem consistência. Dois elemen tos, em particular, não resistem a um exame crítico. Primeiro, as palavras hapirus e hebreus não têm correlação. A base filológica dessa aproximação é muito sutil. Segundo, hapiru não é uma denominação étnica, mas, melhor dizendo, sociológica. Os hapirus não formam um povo, mas um estrato da população que vive miseravelmente. ¡São, por isso, encontrados entre os mercenários ou na escravidão de grandes reinos e impérios. De quando em quando são reduzidos à miséria e constrangidos a uma vida fora da lei. Atacam aldeias ou cidades para poder so breviver. É preciso, pois, ser prudentes antes de equiparar os hebreus da Bíblia aos hapirus das cartas de 'Ifell al Amarna.
7. Os filisteus e os povos do m ar Um último dado pode ser de certo interesse para quem quiser compreender melhor a história bíblica. Por volta de 1200 a.C., o Oriente Médio antigo foi alvo de uma invasão vinda do mar por parte de povos conhecidos sob o nome de "povos do mar”. Merneptah, o Faraó que menciona Israel entre os povos por ele vencidos, celebra também uma vitória sobre esses povos que pretendiam invadir o Egito. Esses povos são de origem indoeuropéia, estando, pois, de algum modo, ligados ao estabeleci mento de populações gregas e aparentadas na parte oriental do Mediterrâneo, especialmente em torno do mar Egeu. Com toda a probabilidade, os filisteus de que fala a Bíblia fazem parte des-
se vagalhão de invasões. Haviam se estabelecido junto ao mar e controlavam, segundo a Bíblia, principalmente a planície cos teira. A arqueologia confirmou sua presença. Os filisteus distin guem-se especialmente por sua cerâmica típica.
Conclusão Para um conhecimento exato da posse da terra de Canaã por Israel, a narração bíblica de Josué e Juízes, em seu conjunto, é menos útil que os dados fornecidos pela arqueologia. Esse ba lanço só é negativo à prim eira vista. A Bíblia baseou-se indubitavelmente em alguns eventos históricos. Por exemplo, o povo de Israel não é um povo mitológico, e a terra prometida ou terra santa não é um país lendário. Não obstante, o intuito primá rio dos livros bíblicos analisados, Josué e Juízes, não é o de forne cer dados a respeito dos acontecim entos do período prémonárquico. Repito, para afastar qualquer mal-entendido, que a Bíblia se baseou em alguns fatos históricos. Esses fatos, porém, não estão sempre imediatamente disponíveis e acessíveis nas narrações, em sua redação atual e canônica. Por outro lado, os dados históricos — quando presentes — estão sempre a seryiço de um desígnio de ordem literária e teológica. Ora, é essencial que um texto seja lido conforme sua intenção, para assimilar a mensagem. Exigir desses livros um relatório preciso e acurado da conquista e primeira ocupação da terra prometida seria como pedir cerveja em uma adega. Não é impossível encontrá-la, mas é me lhor dirigir-se a uma cervejaria. Além disso, por que obstinar-se a pedir cerveja em um lugar onde se oferece excelente vinho? Os recentes desenvolvimentos em ambos os campos da exegese da Bíblia e da história do Israel antigo obrigam-nos a admitir que a distância entre uma e outra é mais considerável do que comumente se pensava alguns anos atrás. O modo habi tual de apresentar a revelação bíblica como revelação de Deus na história tinha como primeira conseqüência criar um nexo
estrito entre teologia e historiografia. O nexo existe, com certe za, e continua a existir. Todavia, uma coisa mudou: o nexo é menos estreito, menos direto e mais complexo que antes.
III. 0 livro de Josué e o espírito das bem-aventuranças O leitor cristão não aceita muito a leitura dos livros de Josué e dos Juízes. Antes, escandaliza-se, porque são livros vio lentos nos quais Deus pede a seu povo para exterminar desapiedadamente quem quer que se opuser à conquista. Josué recebe ordens precisas com relação às cidades conquistadas: deve ani quilar toda a população: homens, mulheres, crianças, gado, e incendiar todos os objetos. Como reconciliar essa imagem com a do Deus de justiça e de perdão anunciado por Jesus Cristo no evangelho? A própria Bíblia procura às vezes justificar o intento, po rém com pouco sucesso. Fala do "pecado” destas populações (Gn 15,16; 9,5) ou do perigo que representavam para a fidelidade de Israel (Dt 7,1-7). Entretanto, não pode o pecador ser perdoado e a verdadeira religião anunciada a quem não a conhece? Não é a vida sagrada, mesmo a de um pagão? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus (Gn 1,26-27)?
1. Josué, “o aventureiro” A solução, assim creio, vem do gênero literário das narra tivas. Antes de tudo, está bem claro que as coisas não acontece ram como narra a Bíblia. Fica evidente que os israelitas não pas saram a fio de espada os habitantes de cidades inteiras. Como já vimos, nem sequer é absolutamente seguro que Israel tenha con quistado com as armas o território da terra de Canaã. Por que, então, descrever os acontecimentos desse modo? Antes de tudo, para prover-se de uma epopéia nacional, segun do a mentalidade da época. Israel fez de Josué um “aventureiro”
ou um “conquistador" para competir com outras nações que po diam glorificar-se de seu passado heroico. Tàmbém Israel teve seus heróis que realizaram proezas incomparáveis. Essa epopéia mostrou-se mais necessária quando Israel se tornou uma pe quena província de grandes impérios, como o império assírio, o babilónico, o persa, o helénico ou o romano. A aparente miséria do presente não devia fazer esquecer que nas origens não era assim: Israel era invencível e ninguém conseguiu deter o exér cito conduzido por Josué. Se Deus parece descuidar de seu povo, não foi assim quando o presenteava com vitória sobre vitória, sempre que o povo observava escrupulosamente sua lei. A lição é suficientemente clara: se quiserdes reviver um tempo seme lhante, deveis comportar-vos como a geração daquela época.
2. As convenções literárias da epopéia Por outro lado, a descrição da conquista obedece também às convenções literárias da epopéia. Tfata-se, pois, de uma ques tão de estilo mais que de moral. A epopéia transporta seu leitor para um mundo sublime no qual o relativo dá lugar ao absoluto. Com efeito, a epopéia não conhece caminhos intermediários: vitórias e derrotas são totais,*o que está em jogo é a vida e a morte, compromissos e tergiversações devem ser excluídos. Por essa razão, os inimigos de Israel devem desaparecer completa mente. Depois de uma batalha, não há sobrevivente algum entre os adversários. Quem perde a batalha morre, só quem vence pode viver. Insisto novamente: essa é a lei, não da realidade, mas da epopéia. Homero, na Ilíada, não age de maneira diferente. Porém, pode surpreender o fato de encontrarmos a mes ma coisa na Bíblia. Não deveria ser diferente, especialmente neste campo? A resposta é simples: se Deus entra em jogo — e entra em jogo de maneira poderosa, no livro de Josué — estamos cer tamente no mundo do absoluto. Era, pois, apropriado escolher um gênero literário que pudesse traduzir essa atmosfera em ter mos literários. A epopéia, com seu estilo heróico, era a escolha
que se impunha naturalmente. Isso permite compreender me lhor por que os adversários de Deus encarnam o “mal” e devem desaparecer por completo do palco cênico. Quem pode opor-se a Deus?
3. Alguns perigos do gênero literário da epopéia Os perigos desse modo de escrever a história não são pou cos e deles estamos bem conscientes. Já o livro de Josué, com sua insistência na observância da lei, introduz certo "código mo ral” nesse mundo guerreiro. Outros livros, especialmente os li vros proféticos e sapienciais, mas também algumas páginas do Pentateuco, mostrarão que Deus move guerra não contra pes soas ou povos em particular, mas, antes, contra males radicados na sociedade e bem mais difíceis de ser derrotados que um exér cito de cananeus.
David e Salomão. Grandes reis ou pequenos arquétipos locais?
I. O livro dos Juízes Depois do livro de Josué, tomamos em consideração o li vro dos Juízes. A situação nele descrita é muitas vezes “precisa”, porque trata de eventos que envolvem apenas uma tribo ou um pequeno grupo de tribos. É, portanto, difícil encontrar uma con firmação externa do que é apresentado no livro. O gênero literá rio das. próprias narrativas não é de grande ajuda. A história de Sansão, por exemplo, assemelha-se muito às lendas heróicas comuns a outras culturas. Quanto à historicidade das narrativas, pode-se, portanto, dizer muito pouco. No conjunto, todavia, o livro dos Juízes descreve uma situa ção difícil e complexa, bastante semelhante ao que dizem os estu dos recentes sobre a posse de Israel. O processo foi longo e progres sivo. Nem todas as tribos participaram de uma espécie de "guerrarelâmpago”, depois da qual o país teria sido conquistado inteira e definitivamente. Além dessa consideração um tanto genérica, a
crítica interna das narrativas poderia identificar alguns elementos mais aceitáveis. Seja como for, o intento continua trabalhoso e o resultado raramente é satisfatório. Em poucas palavras, a narrativa de Juízes pode ter uma base histórica e é até provável que a tenha. Continua sendo, porém, muito difícil prová-lo de maneira convin cente. A honestidade obriga-nos a reconhecer que também neste caso os fatos concretos na base das narrativas fogem em grande parte de nosso alcance.
II. A monarquia de David e Salomão
1. David e Salomão: grandes reis ou pequenos chefes locais? A figura de David é hoje, também, fortemente redimensionada. O reino de David e de Salomão não podia ter as propor ções de que fala a Bíblia. Nenhum documento contemporâneo o menciona (veremos em seguida que existe agora um documen to que fala da "casa de David”, que não é exatamente a mesma coisa). Se a descrição dos livros de Samuel e do primeiro livro dos Reis fosse uma pintura realista, não se compreenderia bem por que os impérios vizinhos não teriam ouvido falar dele e não teriam conservado alguma lembrança a respeito. Mas nem se quer o Egito antigo se recorda de Salomão, embora ele tenha desposado, sempre segundo a Bíblia, uma princesa egípcia, fi lha do Faraó (lR s 9,16; 11,1). Támpouco a arqueologia pôde valorizar a imagem bíblica do reino de David e de Salomão. Não restou nada mais que o palácio e o famoso templo de Salomão. Na realidade, a descrição desse tem plo é provavelmente uma reconstrução tardia e idealizada. Existem outras razões que obrigam a reler de modo mais crítico a imagem bíblica do reino de David e de Salomão. Antes
de tudo, um reino importante não nasce em uma ou duas gera ções. Requer-se mais tempo para criar uma estrutura política, econômica e militar de certa importância. É, pois, muito impro vável que o reino de David e de Salomão tenha se tornado em um tempo tão breve o reino imponente e fortemente estruturado des crito na Bíblia. Tàlvez tenha se estabelecido um pequeno reino na região central de Judá, que se consolidou progressivamente. David impôs-se, de acordo com o que podemos deduzir dos textos bíblicos, por três razões essenciais. Primeiro, a pres são dos filisteus sobre as populações locais tornou necessária uma resistência melhor organizada. Como em muitos outros casos, a aliança contra o inimigo comum constituiu o primeiro cimento da unidade. Segundo, David possuía sobre seus rivais, principal mente Saul, uma vantagem estratégica: possuía um "exército” — talvez não sêja a palavra exata — ou ao menos um grupo de ho mens cuja profissão era a das armas. Esses homens de guerra viviam como mercenários (David coloca-se a serviço de um rei filisteu — ISm 27), ameaçavam os proprietários da região (com métodos não muito diferentes dos da "máfia”; v. ISm 25), ou en tão enviavam expedições contra outras populações (ISm 30). Saul, ao contrário, era filho de um grande proprietário de terras (ISm 9,1-3). Não possuía um exército profissional e isso representava uma desvantagem, fosse na luta contra os filisteus, fosse na cor rida para a realeza. Em terceiro lugar, a esses dois motivos suficien temente claros, junta-se talvez um elemento interno. Uma tribo, motivada pela pressão externa ou por outras razões, consegue vantagem sobre as outras. Seu "chefe" torna-se chefe também das outras tribos. Com David, a tribo de Judá adquire um poder maior e impõe-se, ao menos na parte central do território. Esse reino davídico de dimensões um tanto modestas ad quiriu na memória coletiva de Israel dimensões fabulosas e quase legendárias só após a queda de Samaria em 721 a.C. Naquela ocasião, Jerusalém assumiu a sucessão de Samaria e tornou-se a cidade mais importante da região. Os reis de Judá, que pertenciam à "casa de David”, fizeram de seu antepassado o
primeiro rei de um grande reino que talvez correspondesse mais a seus sonhos que à realeza histórica. No mundo antigo, do qual a Bíblia faz parte, o passado justifica o presente. A história de David e Salomão justificava as pretensões do rei de Judá sobre os territórios do norte do país que haviam passado a ficar sob a hegemonia assíria. A seguir, enfraquecido o império assírio, os reis de Judá puderam estender sua influência para o norte, es pecialmente sob o reinado do rei Josias (640-609 a.C.). A história bíblica de David e de Salomão é, portanto, vista de muitos ângulos, uma obra de propaganda política. Isso não significa que não tenha qualquer significado teológico e funda mento histórico. Támbém as obras de propaganda política devem levar em conta fatos para ser críveis e aceitáveis. Devem também obedecer aos cânones do pensamento religioso da época. Por outro ladò, a bravura de David e a ostentação do reino de Salomão são excessivamente claros como instrumentos de propaganda para ser interpretados como fatos históricos. Essas narrativas não po dem obviamente ser entendidas de maneira literal. Tàmbém nesse caso o fundamentalismo não se apresenta como o melhor cami nho para entender a Bíblia de maneira adequada. Em suma, uma coisa é certa: a narrativa Bíblica embelezou muito a história de David e de Salomão. Para dar um único exem plo do modo como se criou esse passado grandioso, basta 1er a bem conhecida narrativa de 1 Samuel 17 e compará-la com 2 Samuel 21,19. Neste último texto, a vitória contra Golias é atribuída não a David, mas a um outro herói, Elhanan, filho de Iaarê-Oreguim, de Bet-Lehem. A narrativa bastante elaborada de 1 Samuel 17 é uma obra tardia que atribui a proeza a David, também ele oriundo de Bet-Lehem. A descrição do templo de Salomão deveria ser também ela muito redimensionada para corresponder à realidade histórica. O intuito desse texto é o de mostrar que no início do reino de Israel existia um culto único e reconhecido por todas as tribos. Támbém neste caso, a descrição do passado quer legitimar uma situação posterior, a introduzida pela reforma deuterocanônica,
quando, sob o rei Josias em 622 a.C., centralizou-se o culto em Jerusalém. Segundo a lei de Deuteronómio 12, podia-se ofere cer sacrifícios unicamente sobre o altar do templo de Jerusa lém. Os outros santuários eram declarados “fora-da-lei". Mesmo durante o período pós-exílico, o templo de Jerusalém pretendia ser o único lugar de culto válido e legítimo. O texto de 1 Reis 5-8, que descreve a construção do tem plo de Salomão e a inauguração do culto, tem pois como escopo convalidar os direitos e as prerrogativas do templo de Jerusalém contra outros santuários rivais, como o do Norte de Israel. Isso não significa que tudo tenha sido "criado" para alcançar essa finalidade. A descrição como tal, porém, é muito influenciada pela intenção de seus autores, que era, antes de tudo, a de inda gar com precisão sobre um passado já remoto.
2. A estela de Dan e a ucasa de David” Até agora não havia qualquer menção de David além da existente na Bíblia. Em 1993, todavia, foi descoberta em Dan, junto às fontes do Jordão, uma esteia escrita em aramaico, na qual o rei de Damasco, Hazael, celebra uma vitória sobre o rei de Israel e sobre o rei da "casa de David”. Esse Hazael é verossimilmente o personagem mencionado no relato de Elias e Eliseu (lR s 19,15; 2Rs 8,7-15.28-29; 13,22.24). Alguns contestaram a veracidade desse documento afirmando que se trata de uma obra de pura propaganda política. Seja como for, nem tudo pode ter sido inventado nessa estela. Por exemplo, seria difícil afirmar “haver vencido a 'casa de David'" se essa casa fosse mera ficção! Um rei não se gloria de haver vencido um fantasma. A inscrição contém, pois, um testemunho interessante sobre a existência de uma "casa de David” na época. Tbdavia, não contém muitas informações sobre o próprio David, que, quanto ao mais, per manece envolto nas névoas do passado. Enfim, é preciso obser var que a expressão "casa de David" nunca aparece na Bíblia.
III. Roboão, Jeroboão e Shishaq, Faraó do Egito O primeiro livro dos Reis afirma que o reino de Salomão foi dividido imediatamente após a morte do rei. O reino do Norte escolheu como seu rei Jeroboão, ao passo que o do Sul permane ceu fiel ao herdeiro da dinastia de David, Roboão, filho de Salomão (1 Rs 12). O mesmo 1 Reis conta que durante o reino de Roboão o Faraó do Egito, Shishaq (945-924 a.C.), invadiu a terra de Judá (lRs 14,25-28). Roboão pagou um considerável tributo ao Faraó. O texto egípcio que lembra essa campanha contém uma lista de cidades conquistadas, porém a inscrição está quebrada e incompleta. De qualquer maneira, Jerusalém não figura entre elas. Outro detalhe interessante: em sua campanha, o Faraó pa rece muito mais interessado no reino do Norte que no do Sul. Esse fato confirma que já nesta época o reino do Sul era muito menos importante que o do Norte. Existe neste caso uma "relação" entre o relato bíblico e um documento egípcio. Ambos os documentos testemunham a cam panha militar, mas existem, não obstante, diferenças nos deta lhes, porque cada qual tem seu próprio interesse. O livro dos Reis está mais interessado na sorte da cidade santa e de seu templo, despojado na circunstância para pagar o tributo, ao passo que o Faraó quer sobretudo exaltar as próprias vitórias. E, como não conquistou Jerusalém, não fala absolutamente a esse respeito.
IV. O reino do Norte e a casa de Omri
1. O rei Omri, fundador da grande dinastia do reino do Norte (886-875 a.C.) O rei Omri é pouco conhecido pelos leitores da Bíblia, que lhe dedica apenas alguns versículos (lR s 16,15-28). Este rei é o pai de Acab, que foi mais célebre, marido de Izébel e antagonis
ta do profeta Elias (lR s 17-18.21-22). Com Omri, Israel entra pela primeira vez como verdadeiro ator na cena internacional do Oriente Médio antigo. Por muito tempo, a casa real de Israel, ou seja, o reino do Norte, será chamada “casa de Omri", mesmo quando os reis não forem mais seus descendentes diretos. Omri constrói uma nova capital, mais próxima das gran des estradas comerciais do tempo e em uma posição interessan te do ponto de vista econômico e estratégico. A cidade de Samada era, de fato, política, econômica e culturalmente muito mais importante que Jerusalém. A arqueologia confirma o que dizem alguns documentos bíblicos e extrabíblicqs a respeito. A cidade de Samaria cobre uma grande superfície e foram encontrados edifícios importantes e até mesmo algumas obras de arte muito valiosas. Outras cidades foram alvo de expansão nesta época. A prosperidade material teve conseqüências no plano internacio nal, porque as grandes potências do tempo, a saber, os impérios da Mesopotâmia que se expandia para o oeste, não podiam não mostrar interesse pelos reinos que controlavam as estradas co merciais ao longo da costa do Mediterrâneo.
2. O reiAcab (875-853 a.C.) e os primeiros contatos com o império assírio O filho de Omri, Acab, é melhor conhecido que seu pai. Na Bíblia, é apresentado como rei ímpio, talvez como o verda deiro protótipo da impiedade no Antigo Testamento. Muitos lei tores hão de se lembrar dos choques do rei Acab e de sua mu lher Izébel com o profeta Elias. Os episódios do sacrifício do monte Carmelo (lR s 18), da fuga de Elias para o monte Horeb (1 Rs 19) e da vinha de Nabot (lR s 21) estão entre as narrações mais conhecidas do Antigo Testamento. De um ponto de vista estritamente histórico, o rei Acab apresenta-se de maneira ligeiramente diferente. Seu matrimô nio com Izébel, filha do rei dos sidônios (lR s 16,31), tem um
significado político e económico evidente. Israel quer encontrar um aliado nas cidades da Fenicia contra os inimigos comuns, principalmente os assírios, que procuram uma desembocadura no Mediterráneo e que aparecem pela primeira vez na região sob o reino de Assurnazirpal II (883-859 a.C.). Esse rei chega ao Mediterrâneo depois de haver subjugado alguns estados arameus, que se tornam vassalos da Assíria, e três grandes cidades fenícias, os três grandes portos de Biblos, Tiro e Sídon, são obrigados a pagar-lhe um tributo. Por outro lado, estabeleceram-se relações comerciais entre Israel e os portos fenícios. Israel podia vender produtos de sua agricultura como o trigo, o vinho e o óleo, a lã e o linho. A Fenícia, que comerciava com todo o Mediterrâneo, entre outros com o Egito, fornecia produtos raros, como os me tais preciosos e o marfim, e talvez também armas. A arqueologia revela que Acab fortificou algumas cidades que ocupavam posições estratégicas. Além de Samaría, onde continua os trabalhos empreendidos por seu pai, fortifica a cida de de Azor, ao norte do mar de Tiberíades, uma cidade que fe cha o acesso ao vale do Jordão, e a cidade de Megido, que domi na uma passagem estratégica na cadeia do monte Carmelo, en tre a planície de Izreel ao norte e a planície de Sharon ao sul. Não surpreende, pois, o fato de encontrar o nome de Acab entre os membros de uma coalizão de pequenos reinos que se aliaram para canalizar a expansão da Assíria até o oeste. Com efeito, em 853 a.C., o rei Salmanasar III (858-824 a.C.), sucessor de Assurnazirpal II, parte também ele para o oeste para subme ter toda a região. Encontra a coalizão que se opõe a sua conquis ta em Qarqar, cidade da Síria, sobre o rio Oronte. Salmanasar III lembra que Acab estava presente com 2.000 carros e 10.000 soldados. Era o exército mais importante desta coalizão e, por essa razão, acredita-se que Acab estivesse entre os organizadores da resistência contra a Assíria. Alguns, no en tanto, põem em dúvida a cifra "2.000 carros", que parece exage rada. Trata-se talvez de um erro de escriba em um documento que contém alguns deles. Como se vê, também os documentos
não-bíblicos devem ser lidos com olho crítico. Podem conter in formações errôneas. Não se sabe exatamente qual foi o resultado da batalha de Qarqar (853 a.C.). O rei Salmanasar canta vitória, mas é tam bém certo que não se apresentou novamente nesta região por alguns anos. Retornará à região em 849 (ou seja, depois de qua tro anos), 848 e 845 a.C. A Bíblia, por sua vez, não faz menção dessa batalha. Os escritores bíblicos não tinham muito interesse pela política in ternacional da época, porém, muito mais, pelos problemas reli giosos desse reino. Assim sendo, a figura de Elias era central, ao passo que a de Salmanasar III, ao contrário, era insignificante. A Bíblia, como toda obra literária, é fruto de uma seleção. Um historiador moderno não poderia deixar de mencionar a batalha de Qarqar. Não é o caso da Bíblia e esse fato confirma que seu objetivo é bem diferente do de uma “historiografia moderna". Não é de admirar, então, se não corresponde a nossos critérios no que se refere à historicidade e à objetividade. O rei Acab, segundo a cronologia que os historiadores con seguiram reconstruir, morreu no mesmo ano da batalha de Qarqar, em 853 a.C. O fato de que o rei Acab era o aliado dos arameus da Síria contra Salmanasar III na batalha de Qarqar toma bastante inverossímeis dois relatos bíblicos que descre vem duas batalhas entre Israel e os arameus (lR s 20 e 22). Se gundo 1 Reis 22, o rei Acab teria sido realmente ferido e morto durante a batalha de Ramot-de-Guilead. Na realidade, raramente o rei Acab é citado nominalmen te durante essas narrativas (cf. lRs 20,2.13.14; 22,20). As narra ções usam com muito maior ffeqüência a denominação mais vaga de "rei de Israel". Segundo os especialistas, esses dois textos refletem a situação de uma época mais recente, sob os reinados do rei Joacaz (820-803 a.C.) e Joás (803-787 a.C.), que tiveram de combater contra os arameus de Damasco, cada vez mais for tes, enquanto Israel se enfraquecia (v. 2Rs 13,3-5.22.24-25). A tradição fez do rei Acab o protagonista dessas duas narrações,
porque era considerado um rei ímpio, e esses relatos tendem a demonstrar sobretudo a força dos profetas (lR s 20), particular mente no castigo de Acab anunciado pelo profeta Elias depois do assassinato de Nabot (lR s 22; cf. lRs 21,19 e 22,38). Elias havia dito que onde os cães haviam lambido o sangue de Nabot lamberiam também o sangue de Acab (1 s 21,19). Nabot, porém, morre em Jezreel e Acab em Samaria (lR s 22,37-38). Essa in congruência demonstra que o redator de 1 Reis 22 juntou esse capítulo de maneira bastante artificial à narração que o precede. A intenção teológica é, pois, mais forte que a precisão his tórica. Tâlvez — evidentemente, não há como averiguar esta hipótese — Acab não tenha morrido depois da batalha contra os arameus, mas, ao invés, na batalha de Qarqar contra os assírios em 853 a.C. Com efeito, o rei morre naquele ano. Tbdavia, como a Bíblia não menciona essa batalha, “faz” com que Acab morra em outras circunstâncias. Seja como for, a morte violenta do rei era vista como castigo divino. A Bíblia interpreta e organiza o relato segundo uma intenção própria. Dir-se-ia hoje que preten de demonstrar uma tese. Isso não deveria surpreender ninguém. Mesmo os historiadores modernos agem desse modo. A única diferença está em que as teses defendidas pelos historiadores não são mais teológicas, ou quase nunca.
3. A esteia de Meshá Esta esteia foi encontrada em 1868, por um missionário alemão, na Jordânia atual. Mede 1,10 m de altura e 0,60 m de largura. Para vendê-la, os beduínos fizeram-na em pedaços, mas foi salva pelo arqueólogo Clermont-Ganneau. Reconstituída, encontra-se agora no museu do Louvre de Paris. Ela contém trinta e quatro linhas e trata de fatos que ocorreram entre os anos 852 e 842, aproximadamente. O texto da inscrição sugere que a esteia foi erigida em um santuário para agradecer Kemosh, deus de Moab, após vitórias decisivas contra os inimigos de Moab.
A estela de Meshá (841 a.C., aproximadamente) Fonte: Atlas van de Biibel, p. 80, n. 229.
A passagem mais importante e de maior interesse para nosso propósito é aquela em que se lê: “Sou Meshá, filho de Kemosciat, rei de Moab, o Dibonita. Meu pai rei nou durante trinta anos sobre Moab e eu reinarei depois de meu pai. Fez este lugar [santuário] para Kemosh em Qeriho, lugar [santuário] de salvação [palavra difícil de ser interpretada], pois que me salvou de todos os assaltos e me fez triunfar contra todos os meus adversários. Omri era rei de Israel e oprimiu Moab durante longo tempo, porque Kamosh estava encolerizado contra seu país. Seu filho sucedeu-o e dis se: ‘Oprimirei Moab’. Falou assim em meu tempo, porém triunfei con tra ele e contra sua casa. E Israel foi arruinado para sempre [...]".
A Bíblia também fala do rei Meshá, o qual, de acordo com o segundo livro dos Reis, estava submetido a Israel e devia pagar um tributo (v. 2Rs 1,1; 3,4-5). E ainda, de acordo com a Bíblia, rebelou-se depois da morte de Acab, recusando-se a pagar o tri buto. O filho de Acab, Iorâm, e seus aliados, o rei de Judá, Josafat, e o rei de Edom, atacaram o rei de Moab e o assediaram em sua capital. Essa campanha é narrada em 2 Reis 3. O próprio Meshá, de sua parte, pretende ter conseguido libertar-se do jugo de Israel sob o filho de Omri, haver recon quistado seu próprio território e, com certeza, ter-se apoderado de uma parte do território de Israel. A seguir, reconstruiu as cidades conquistadas e consolidou seu reino: A Bíblia e a esteia de Meshá são concordes em alguns pon tos importantes: o nome de Meshá, sua submissão a Israel e sua rebelião. Quando Meshá fala do “filho de Omri”, faz-se necessá rio provavelmente entender não o filho em sentido estrito, mas sim um “descendente". Neste caso, o “filho de Omri" seria Iorâm (852-841 a.C.) e não Acab (875-853 a.C.). Sobre esse ponto, a esteia de Meshá é, portanto, bastante imprecisa. Cada documento tem, sem dúvida, sua intenção. A narra tiva bíblica de 2 Reis 3 exalta a figura do profeta Eliseu e não é de todo diligente na descrição dos detalhes geográficos, históricos ou estratégicos; a esteia de Meshá, ao contrário, é um documen to de propaganda política, no sentido amplo da palavra, que exalta a figura do rei de Moab.
4. A estela de Dan O terceiro documento importante é a já mencionada estela de Dan, onde o rei Hazael de Damasco pretende ter matado o rei de Israel, Iorâm, e o rei de Judá, Acazias (o rei da "casa de David”). Como a estela está incompleta, não se sabe exatamente o que continha o começo da inscrição.
\x
I
' 1^ S V
yfcyCovxQk ’vuAät'
A
*
.fyefZy‘l]Üy% )
*
S ;w
Os dois fragmentos da estela de Dan (cerca de 841 a.C.) em um desenho de Ada Yardeni. Fonte: A. Biran & J. Naveh, "Tfel Dan Inscription: New Fragment", IEJ 45 (1995) 1-18, p. 12.
O texto está escrito em aramaico e implica algumas dificul dades de tradução. Das treze linhas do texto reconstituído, só al gumas estão completas. Cito aqui apenas algumas frases impor tantes e mais legíveis, em uma tradução não inteiramente literal: "Matei Iorâm, rei de Israel, filho de Acab, e matei Acazias, filho de Iorâm, rei da casa de David. E destruí suas cidades e devastei seus países [...]. E Iehu reinou sobre Israel [...]”.
A Bíblia também fala das campanhas de Hazael contra Is rael (2Rs 8,28). Com referência a um ponto, a contradição entre a Bíblia e a estela de Dan é evidente. De acordo com 2 Reis 9,24.27, não foi Hazael quem matou os reis Iorâm e Acazias, mas sim Iehu, após um golpe militar. Considerando-se que a narração bíblica pretende colocar em destaque a figura de Iehu, reformador religioso, talvez seja menos aceitável que a esteia de Dan. Com efeito, a mensagem da narração de 2 Reis 9-10 não depende de nenhum cuidado excepcional do ponto de vista his tórico no que se refere a esses detalhes.
V. O reino de Iehu (841-814 a.C.)
^
Iehu, personagem pouco conhecido por quem lê a Bíblia, é, na realidade, o primeiro rei de Israel de quem temos uma representação figurada. Vemo-lo em um baixo-relevo assírio em uma posição bastante humilhante, prostrado por terra diante do rei Salmanasar III, já mencionado anteriormente, no momento em que vem pagar seu tributo. Os anais de Salmanasar III falam desse tributo pago quando o rei da Assíria lançou uma campa nha contra a Sírio-Palestina em 841. Seu adversário principal era Hazael, rei de Damasco, o rei que erigiu a estela de Dan. Salma nasar chama-o de “filho de ninguém". Iehu, ao invés, é chamado "filho de Omri". A designação “filho de ninguém" é depreciativa. Na lin guagem diplomática da época, significa que Hazael era conside rado um rei ilegítimo, ou seja, um usurpador. Além disso, por se
tratar de um adversário da Assíria, o rei Salmanasar não tinha muitos motivos para elogiá-lo. Esse modo de falar do documen to assírio harmoniza-se com o relato de 2 Reis 8,7-15, que des creve como Hazael conseguiu apoderar-se do trono: assassinou o rei Ben-Hadad, doente e preso ao leito, asfixiando-o com um pano úmido. Permanece, porém, uma dificuldade. Segundo os documentos deixados por Salmanasar III, o rei de Arâm (Damasco) não se chamava Ben-Hadad, mas Adadezer (Adad-idri). Possuía o rei de Damasco dois nomes semelhantes? Ben-Hadad significa "filho de Hadad [deus dos arameus semelhante a Báal, deus da chuva e da fertilidade]’’ e Adadezer significa “[O deus] Hadad é meu socorro”. A Bíblia confunde dois reis de Damasco? Tálvez seja preferível a primeira solução. Iehu, ao invés, é chamado "filho de Omri”, quando a Bíblia faz dele o homem que finalmente libertou o país dessa dinastia detestada pelos autores de 1-2 Reis (v. 2Rs 9-10). Como assim? Há pelo menos duas explicações que talvez não se excluam. Se gundo alguns historiadores, a denominação “casa de Omri" ha via se tornado usual na linguagem diplomática assíria para de signar a “casa de Israel”, ou seja, a casa reinante do reino do Norte. Tbdavia, não parece ser sempre este o caso. Outros reis de Israel não são chamados desse modo. Salmanasar III chama Acab "o israelita". Mais tarde, Adad Nirari falará, por volta de 802 a.C., de “Joás, o samaritano” e Tiglat-Piléser III usará a mesma designação para Menahêm em 738 a.C., aproximadamente. Por outro lado, continua sendo verdadeiro que Tiglat-Piléser III fala ainda da “casa de Omri" em 732 a.C. a propósito do rei de Israel. Isso significa que um século depois do desaparecimento dessa dinastia o nome era ainda adotado nos documentos oficiais dos reis da Assíria. Há estudiosos que preferem outra explicação, talvez um pouco mais requintada, mas não sem valor. De fato, Salmanasar III havia conseguido desbaratar o reino de Damasco e seu rei Hazael por volta de 841 a.C., e o rei Iehu de Israel mudou a política adotada por seus predecessores para submeter-se à
Assíria. É, pois, provável que o documento de Salmanasar III pretenda criar um contraste entre os dois reis, o “pérfido" Hazael de Damasco e o "valente” Iehu de Israel. Entende-se que um era “pérfido" e o outro "valente” segundo o ponto de vista dos assírios. Por isso, se um é chamado "filho de ninguém" (rei ilegítimo), o outro é exaltado e isso explicaria por que é considerado o suces sor legítimo da dinastia precedente e bem conhecida dos assírios. O rei Iehu também é nomeado na estela de Dan, como se viu anteriormente, porém essa parte é muito fragmentária. Dizse apenas que “Iehu reinou sobre Israel". Thlvez seja feita tam bém uma alusão a um assédio de uma cidade de Israel por parte de Hazael, rei de Damasco. O texto é realmente difícil de ser entendido, porém a questão não parece impossível, uma vez que Hazael e Iehu adotavam duas políticas opostas nas disputas com a Assíria. Além disso, a Bíblia afirma que Hazael conseguiu conquistar todos os territórios da Transjordânia que pertenciam ao reino de Israel (2Rs 10,32-33). Portanto, não há dúvidas quan to à hostilidade entre Israel e Damasco nesse momento. A Bíblia não menciona absolutamente a submissão de Iehu à Assíria e o tributo pago a Salmanasar III. De que modo expli car esse fato? Como nos outros casos, é preciso interrogar-se sobre a intenção do texto e sobre seu "gênero literário”. A narra ção apresentada em 2 Reis 9-10, que descreve com abundância de pormenores o “golpe” de Iehu contra a casa de Omri, é de molde profético. Iehu é apresentado como um servidor da cau-
O obelisco de Salmanasar III, atualmente no Museu Britânico de Londres, tem cerca de 2 m de altura e é decorado com baixos-relevos nos quatro lados. Sobre um desses baixos-relevos vê-se o rei Iehu, chamado "filho de Omri", prostrado diante do rei Salmanasar III (858-824 a.C.). O rei Iehu usa um barrete com ponta. O rei Salmanasar oferece uma Ubação. À direita do rei, no alto, vêem-se os símbolos de duas divindades assírias: o sol alado (Shamash) e a estrela da deusa Ishtar. Quatro criados à direita e esquerda acompanham o rei da Assíria, levando um guarda-sol, leques e outros símbolos do poder. Fonte: Atlas van de Bijbel, p. 88, n. 247b.
sa de YHWH, o Deus de Israel, contra Báal, deus introduzido por Acab. Esse "golpe" é apoiado e quiçá até instigado por gru pos proféticos. Segundo 2 Reis 9,1-13, Iehu é ungido e consagra do rei por um profeta enviado expressamente por Eliseu com esse intuito. Iehu será também sustentado em suas ações contra a casa de Omri por um grupo de tendência conservadora, os rekabitas, que continuavam a viver como seminômades: viviam sob tendas e não bebiam vinho (2Rs 10,15-16; cf. Jr 35,5-15). Sem dúvida, os rekabitas viram em Iehu um restaurador da reli gião e dos costumes antigos, o que a Bíblia também pretende demonstrar. Era difícil incluir nesse quadro os eventos ocorridos entre Iehu e a Assíria e, com toda a probabilidade, é por essa razão que a narrativa bíblica silencia sobre o assunto. De qualquer maneira, pode-se acrescentar que a Bíblia contém informações sobre fatos que incidem mais diretamente sobre o território de Israel e sobre a sorte da população local. Diversamente, nada diz, como no caso da batalha de Qarqar ou do tributo de Iehu. Tildo isso demonstra com quanta cautela é preciso 1er não apenas os textos bíblicos, mas também os documentos do Orien te Médio antigo. Cada qual tem sua perspectiva e seu objetivo, cada qual interpreta e organiza os dados para fazer passar uma mensagem que pode ser política ou religiosa, òu ambas. Cada documento pretende convencer a adotar uma posição política ou uma atitude religiosa específica e “informa" apenas o que favorece tal intento. A narração bíblica de 2 Reis 9-10 exalta Iehu, o reformador religioso, ao passo que os documentos assírios ce lebram as proezas de seu rei e pretendem justificar suas prerro gativas sobre um imenso império. Simplesmente para demonstrar que os pontos de vista podem variar bastante de um documento para outro, cito um último texto a propósito de IEHU, rei de Israel. O profeta Oséias, que exerce sua atividade no reino do Norte entre 750 e 720 a.C. aproximadamente, é muito menos positivo que o autor de 2 Reis 9-10 nas deffontações do mesmo rei Iehu..Em Oséias 1*4, o Se-
nhor diz em um oráculo: "Pedirei contas do sangue de Jezreel à casa de Iehu e porei fim à realeza da casa de Israel". A planície de Jezreel é o lugar onde Iehu conseguiu matar Iorâm, último descendente da casa de Omri, para depois assenhorear-se do poder (2Rs 9,15-37). Esse assassinato justifi ca-se, para os autores de 2 Reis 9-10, em razão da impiedade do rei da casa de Omri e particularmente por causa do assassinato de Nabot por obra de Acab e Izébel (lR s 21; cf. lRs 21,19.29 e 2Rs 9,25-26 e 36-37 [a propósito de Izébel]). Para Oséias, ao contrá rio, a violência do golpe de Iehu não se justifica e será a causa remota do fim trágico do reino do Norte. É muito provável que Oséias visse, no modo assaz cruento com que Iehu se havia im posto, uma prefiguração das reviravoltas dinásticas que tiveram lugar precisamente antes da queda de Samaria em 722 a.C. O profeta condena o uso da violência porque vê nisso uma raiz dos males que conduziram Israel à catástrofe final. Há que se salientar, pois, que também a própria Bíblia pode dar duas opiniões opostas e quase antitéticas sobre o mesmo evento e sobre o mesmo personagem. Ambos os textos são "ins pirados" e fazem parte da Sagrada Escritura. As perspectivas são diversas porque os autores escrevem em duas diferentes épocas e querem demonstrar duas “teses” diferentes. O texto de 2 Reis 9 -10 pretende demonstrar o triunfo de quem é fiel à religião de YHWH, Deus de Israel, segundo o espírito dos profetas, ao pas so que Oséias quer provar que a violência gera um processo que ninguém consegue deter e que no fim mostra-se fatal para quem o fez desencadear. Cada qual tem razão, segundo seu próprio ponto de vista.
VI. O tributo de Joás, rei de Israel (798-783 a.C.) Adad Nirari, rei da Assíria (809-873 a.C.), quis reconquis tar as regiões sobre as quais seu avô, Salmanasar III, havia es tendido seu domínio. Depois de uma vitória decisiva contra o
rei de Arpad em 805, conseguiu controlar a parte setentrional da Síria. De lá, desceu para o Sul, venceu o rei de Damasco e estendeu sua hegemonia sobre toda a Sírio-Palestina. Na inscri ção de Cala, Adad Nirari afirma controlar toda a região, até o Edom e a Filistéia ao sul. Uma esteia do mesmo rei, encontrada em Ttell al-Rimah, menciona um tributo pago a Adad Nirari por Joás, o samaritano, e pelos habitantes de Tiro e de Sídon. Thmbém nesse caso a Bíblia não lembra o fato. A respeito do rei Joás de Israel, também se fala bem pouco (2Rs 13,10-11; 14,8-16). Como explicar o silêncio da Bíblia acerca desses even tos internacionais? A razão é bastante simples e disso já falamos anteriormente. Os autores do livro dos Reis estão interessados em primeiro lugar na história de Israel e nos eventos que tocam mais de perto o povo e a terra. Por esse motivo, falam por exem plo das vitórias de Joás contra Ben-Hadad III de Damasco, filho de Hazael, da reconquista das cidades tomadas por este Hazael de Joacaz, pai de Joás (2Rs 13,3 e 13,25), e de uma vitória contra o rei de Judá, Amasias (796-781 a.C.), em Bet-Shémesh (2Rs 14,814). Relatam também o encontro de Joás com o profeta Eliseu (2Rs 13,14-19) para demonstrar a importância das figuras religio sas na vida e na política do país. This são os centros de interesse dos autores. Ao contrário, o que acontece além das fronteiras e não incide diretamente sobre o destino do povo não é “registra do" nas crônicas bíblicas. Contudo, pode-se supor que o rei Joás tenha conseguido derrotar Ben-Hadad III porque este último havia ficado enfraquecido pelas campanhas de Adad Nirari III. A respeito deste, a Bíblia certamente nada diz. Para apoiar essa opinião sobre o silêncio da Bíblia com relação a certos acontecimentos internacionais, basta lembrar que os livros dos Reis começarão a falar da Assíria só na ocasião em que o rei Tiglat-Piléser (745-727 a.C.) irá invadir o norte do país (2Rs 15,19-20.29; cf. Is 8,23-9,1). A Bíblia chama-o Pul, nome que havia assumido quando se tornou rei da Babilónia em 729 a.C. Trata-se, portanto, de algo manifesto o fato de que a Bíblia lembra somente os personagens que apareceram no interior do
círculo restrito das fronteiras de Israel. Menahêm, que era en tão rei da Samaria, paga um tributo a Tiglat-Piléser III (2Rs 15,20). Com efeito, uma esteia erigida pelo rei da Assíria com a lista de seus contribuintes na Síria m enciona também o nome de Menahêm da Samaria. Nos anais do mesmo Tiglat-Piléser III, menciona-se também uma campanha contra "o país da casa de Omri". O rei da Assíria deporta a população, o rei Péqah é des tronado e Oséias (732-724 a.C.), último rei do reino do Norte, é colocado no trono por Tiglat-Piléser III. Segundo 2 Reis 15,30, Oséias trama uma conspiração con tra Péqah, assassina-o e toma seu lugar. Os documentos assírios e o texto bíblico não se contradizem necessariamente. Os docu mentos assírios insistem no apoio dado a Oséias, ao passo que o texto bíblico lembra os eventos internos sem mencionar a inter venção externa. Tiglat-Piléser III recebeu também um tributo da parte de Acaz, rei de Judá, ameaçado pelo rei de Damasco, Resin, e por Péqah, que queriam forçá-lo a aliar-se com eles contra a Assíria. Tfextos como 2 Reis 16,5-18 e Isaías 7,1-9 falam desses acontecimentos e da guerra que deles resultou. Do tributo de Acaz fala o texto de 2 Reis 16,8-9. Tàmbérn neste caso, a ação de Acaz e a intervenção do rei da Assíria tiveram um efeito imediato sobre a sorte de Jerusalém, e por essa razão a Bíblia considera esses fatos dignos de ser transmi tidos às gerações futuras. A história bíblica está, pois, “interessada" em sua própria sorte e não tem interesse pela política internacional nos outros casos. Mas também as crônicas e os documentos assírios só fa lam das outras nações quando mencionadas nas listas das con quistas ou dos contribuintes. Tfata-se do interesse de um grande império que tem uma política internacional de expansão. Uma história totalmente “desinteressada" ou "objetiva” é um fato muito raro, se não inexistente, na Antiguidade. Na realidade, a situa ção hoje é diferente, porque os critérios da historiografia muda ram. Permanece, todavia, verdadeiro que a "história objetiva" constitui um ideal quase impossível de ser alcançado.
Israel e Judá no vórtice da política
VII
internacional i
I. O fim do reino do Norte (722/721 a.C.) Com referência ao fim do reino do Norte, o assédio e a tomada de Samaria em 722/721 a.C., temos muitos documentos assírios que concordam em grande parte com o relato bíblico. Esses documentos de origem assíria contêm pormenores inte ressantes que completam a visão dada pela Bíblia acerca desses eventos trágicos. Dado que o exército assírio encontra-se no ter ritório de Israel por mais de uma vez, o livro dos Reis não pode omitir o registro de sua presença. Os nomes dos reis Salmanasar V (727-722 a.C.), sucessor de Tiglat-Piléser III, e de Sargon II (721-705 a.C.), filho de Salmanasar V, são mencionados na Bíblia, o primeiro em 2 Reis 17,3-6; 18,9-12 e o segundo em Isaías 20,1. Quanto ao que diz respeito à tomada de Samaria e à depor tação da população, o livro dos Reis atribui toda a iniciativa a Salmanasar V e nunca fala de seu filho Sargon II. Este último,
porém, afirma haver assediado e conquistado a cidade de Samaria, deportado a população e organizado o país como província do império assírio. Menciona em seguida, no assim chamado “pris ma de Nimrud", uma rebelião da Samaria que teve novamente de dominar. Saigon instalou em Samaria populações estrangeiras vindas de outras partes de seu império. Essas afirmações não se enquadram totalmente com o que diz a Bíblia. Duas são as questões: a Bíblia lembra apenas a ação mais importante que causou o fim do reino e é devida ao rei Salmanasar V, ou melhor, Sargon II atribui a si parte da obra, enquanto na realidade, após a morte do pai, contentou-se em completar a conquista e organizar a administração dessa nova província de seu império. Como quer que seja, a Bíblia e as crônicas assírias são concordes quanto ao essencial. A Bíblia põe em destaque outro aspecto dos fatos, que para ela é essencial: dedica um longo parágrafo às causas religiosas da catástrofe (2Rs 17,7-23). Neste ponto, os autores do livro es tão bastante próximos dos historiadores modernos, que não se contentam em descrever o desenrolar-se dos acontecimentos, mas procuram compreender as suas causas. Para a Bíblia, essas causas são obviamente religiosas: Israel paga o preço da infide lidade a seu Deus. É preciso observar, neste caso, o esforço de reflexão que busca escavar sob a superfície dos fatos para desco brir suas raízes mais profundas.
II. As campanhas de Sargon II (721-705 a.C.) contra a Filistéia Sargon II continua a política de seu pai, Salmanasar V, e consolida as conquistas assírias, especialmente ao longo da cos ta mediterrânea. Uma vez que o reino da Samaria e outros pe quenos reinos da região haviam procurado o apoio do Egito, o conflito entre Assíria e Egito havia se tornado inevitável. Por
volta de 720 a.C., uma primeira batalha teve lugar em Ráfia, uma cidadezinha ao sul de Gaza, e Sargon II derrotou os egípcios e seus aliados, os filisteus de Gaza. Tfendo em vista que o reino de Judá não está diretamente envolvido no conflito, a Bíblia não conservou a lembrança desta campanha. Isaías 20 fala de uma campanha ulterior que Sargon II lança contra a cidade filistéia de Ashdod em 712 a.C. Essa cidade havia se rebelado contra a Assíria, tentando formar uma coalizão contra a grande potência oriental. Segundo alguns do cumentos assírios, os aliados filisteus esperavam a ajuda dos reis de Judá, Edom e Moab. 2 Reis silencia sobre esse intento, porque o reino de Judá não é tocado imediatamente pelas expedições assírias de Sargon II. O profeta Isaías, ao contrário, muito provavelmente presente na corte de Jerusalém naquele momento, teve de intervir para convencer o rei Ezequias (716-687 a.C.) a não interferir no con flito. O texto de Isaías 14,28-32, um oráculo contra a Filistéia, é talvez demasiado vago e ambíguo para ser interpretado como texto que faz referência a esses acontecimentos. Não obstante, o oráculo prevê uma invasão da Filistéia a partir do norte (14,31), de onde vêm os exércitos assírios. Isaías 20,1-6 é mais explícito: o texto menciona com clareza a campanha de Sargon contra Ashdod (20,1) e afirma com a mesma clareza que o apoio do Egito é uma quimera. Isaías está convencido de que o Egito não poderá opor resistência ao avanço assírio e os acontecimentos irão dar-lhe razão. Segundo os documentos assírios, a Judéia fazia parte do influxo da Assíria naquela época. Acaz tinha se tornado um vassalo de Tiglat-Piléser III e seu filho Ezèquias foi constrangi do, de maneira semelhante, a seguir a mesma política. Sargon II assegura, de qualquer maneira, "haver submetido Judá, situado em um lugar distante" (inscrição de Nimrud, capital de Sargon) e, segundo uma carta enviada a Sargon por um funcionário de Nimrud, Judá paga-lhe um tributo.
III. A campanha de Senaquerib (705-681 a.C.) contra Judá em 701 a.C.
1. Os antecedentes do conflito Só depois da morte de Sargon II em 705 a.C. é que se abriu um sinal de esperança para Judá e Jerusalém. Após alguns anos tranqüilos, Senaquerib (705-681 a.C.), sucessor de Sargon II, teve de enfrentar graves problemas. Sob o influxo do caldeu MerodakBaladan, que tinha sido derrotado por Sargon II, mas conseguiu apoderar-se de novo do trono da Babilônia, deflagraram-se rebe liões em todo o império e Ezequias aproveitou-se delas para re conquistar ao menos parcialmente sua independência. Retoma a velha política de aliança com o Egito, malgrado a opinião con trária do profeta Isaías (v. Is 18,1-7; 19,1-15; 30,1-8; 31,1-3), que não acredita mais na potência egípcia. Isaías polemiza também contra os conselheiros pouco inteligentes (Is 28,14-22; 29,15-16). É também provável que Ezequias tenha tido contatos com Merodak-Baladan neste período. A Bíblia faz menção disso em 2 Reis 20,12-19 e situa o fato mais para fins do reino do rei de Judá. Esta é, pelo menos, a impressão que dá. Entretanto, o tex to de 2 Reis 18-20 não se encontra organizado segundo os crité rios de uma estrita cronologia. Os documentos assírios obrigam a situar as tentativas de emancipação da Babilônia entre 721 e 711 a.C., a saber, depois da morte de Sargon II e no início do reino de Senaquerib, portanto antes também da campanha mili tar de 701 de Senaquerib contra a Judéia e Jerusalém. Senaquerib, por outro lado, restabelece a ordem na Babilô nia em 702 a.C., antes de partir para o oeste de seu império. Seria mais lógico pensar que Merodak-Baladan tenha procurado o apoio dos pequenos reinos do oeste, particularmente de Judá, já antes dessa derrota e antes da campanha contra Jerusalém. Tbdavia, não existem certezas a esse respeito.
2. Ezequias preparase para defenderse De qualquer maneira, após ter novamente em mãos o con trole da situação na Mesopotâmia, Senaquerib parte com uma campanha contra os rebeldes da parte oeste de seu império. Ezequias prepara-se imediatamente para resistir à invasão assíria. O rei de Judá submete as cidades filistéias (2Rs 18,8; cf. lCr 4,3443), toma como prisioneiro Padi, o rei pró-assírio de Ecron, fortifi ca a cidade de Jerusalém com trabalhos dispendiosos — segundo o profeta Isaías, o rei faz demolir as casas para tornar inacessíveis as muralhas (Is 22,20; cf. Sr 48,17) — e, por fim, faz escavar um canal na rocha para fazer chegar a água da fonte de Guihon até dentro da cidade (2Rs 20,20; Is 22,9.11; 2Cr 32,30; Sr 48,17). Em 1880, foi encontrada casualmente uma inscrição no interior da galeria escavada na rocha. Estava situada no lugar onde os operários que partiram da fonte alcançaram os que es cavavam a partir do interior da cidade, quer dizer, a piscina de Siloé. Essa galeria mede cerca de quinhentos e quarenta metros de comprimento. Tfata-se de uma verdadeira e própria façanha técnica para a época, que não conhecia nossos meios modernos, especialmente os instrumentos de medição. Seja como for, a ar queologia confirma aqui o que diz a Bíblia em diversos lugares. A inscrição encontra-se atualmente no museu de Istam bul (em 1880, Israel fazia parte do império otomano), mas dela existe uma cópia que pode ser vista no museu do Louvre de Paris. Eis uma tradução (algumas palavras não são bem legíveis, motivo pelo qual a tradução nem sempre é infalível): “Eis [?] a escavação e assim foi a história da escavação. Enquanto os mineiros [?] manejavam a picareta um para o outro e enquanto falta vam apenas três côvados [cerca de 1,35] para ser escavados, ouviu-se a voz de cada um que chamava o outro, pois que na rocha havia resso nância que vinha do norte e do sul. No dia da abertura, os mineiros golpearam um no sentido oposto ao outro, picareta contra picareta. As águas jorraram então da fonte até o reservatório sobre mil e duzentos côvados [cerca de 540 metros] e a altura da rocha sobre a cabeça dos mineiros era de cem côvados [45 metros, aproximadamente]”
Inscrição de Siloé, na galeria es cavada por Ezequias para trans portar a água até o interior da cidade de Jerusalém (por volta de 700 a.C.). Comprimento de uma linha: 72 cm aproximada mente. Fonte: Atlas van de Bijbel, p. 230, n. 232.
'•
& 'WÊ^ÊÊÍ* S
^
Esses trabalhos estão bem documentados e podemos falar a seu respeito com relativa segurança. A correspondência entre descobertas arqueológicas, documentos epigráficos e textos bí blicos é perfeita ou quase. Infelizmente essa situação é um tan to rara, como se poderá ver logo a seguir.
3. A campanha assíria contra Judá em 701 a.C. Vale a pena deter-se na campanha de Senaquerib levada a efeito em 701 a.C., não tanto para saber o que aconteceu, antes, porém, para mostrar urna última vez as dificuldades inerentes à leitura da Bíblia e dos textos antigos para quem quiser recons truir a cronologia exata dos eventos. Além disso, irá permitir nos também uma melhor compreensão da estratégia adotada na Bíblia quando põe seu leitor em confronto com diversas versões do mesmo "fato”. Sobre essa campanha, temos muitos documentos assírios e bíblicos. A Bíblia fala a esse respeito em dois livros, em 2 Reis 18,13-20,19 e em um texto idêntico quanto ao mais, em Isaías 36-39.2 Crônicas 32,1-21 apresenta um breve resumo acerca dela. A esses textos, é preciso acrescentar alguns oráculos de Isaías, especialmente Isaías 1,4-9 e 22,1-14. Finalmente, temos o texto dos anais de Senaquerib, o assim chamado "prisma de Senaquerib”.
a. O texto de 2 Reis 18-20 O texto bíblico de 2 Reis 18,13-20,19 menciona explicitamente uma única campanha de Senaquerib contra a cidade de Judá, no déci mo quarto ano do reinado de Ezequias (2Rs 18,13). Essa data corresponde ao ano 702/701 a.C. Os capítulos 19 e 20, em seu conjun to, dividem-se claramente em quatro partes, que não correspondem necessariamente a quatro fases cronológicas dos eventos. A primeira parte, um tanto breve (2Rs 18,13-16), afirma que Ezequias, após a queda de muitas cidades de Judá diante do exército assírio, submeteu-se a Senaquerib e pagou-lhe um tri buto bastante importante: trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Segundo esse texto, Ezequias toma a iniciativa de enviar a Senaquerib, que se encontra em Lakish, uma men sagem de conciliação e o próprio Ezequias reconhece sua "cul pa" nas relações com o rei da Assíria (2Rs 18,14). Implicitamen te, isso significa que não devia rebelar-se. Está subentendido que depois desse compromisso Senaquerib tenha se retirado.
Destruição de uma cidade por parte de um exército assírio. Baixo-relevo — tamanho: 94 x 63 cm — encontrado no palácio de Assurbanipal (668-626 a.C.) em Nínive. Os soldados destroem sistematicamente o cinturão de muros externos, en quanto queimam os muros da fortaleza da cidade. Um grupo de soldados sai da cidade com o butim sobre os ombros, seguido por outro soldado que empurra diante de si dois habitantes feitos prisioneiros e destinados — muito provavel mente — a ser seus criados. O prisioneiro que caminha à esquerda tem as mãos amarradas. Embaixo, soldados e vivandeiras celebram a vitória comen do e bebendo sob o olhar de uma sentinela. Fonte: Atlas van de Bijbel, p. 83, n. 230.
A segunda parte, muito mais longa (2 Reis 18,17-19,37), é construída como um díptico: com efeito, encontramos duas mensagens de Senaquerib para Ezequias (2 Reis 18,17-36 e 19,9b13), duas reações do rei Ezequias (18,37-19,1; 19,14-19), duas intervenções do profeta Isaías (19,5-7 e 19,20-34) e duas conclu sões (19,8-9 e 19,35-37). Desta vez, a iniciativa vem de Senaquerib, que envia duas vezes um oficial (o "generalíssimo") a Jerusalém para convidar a população a não escutar Ezequias e a submeter-se ao rei da Assíria antes que seja demasiado tarde (2Rs 18,17-35; 19,9b-13; cf. 18,14, em que Ezequias toma a iniciativa). Na primeira vez, os mensageiros do rei dirigem-se em alta voz a toda a população, especialmente aos oficiais da corte (18,1718). Na segunda vez, o rei recebe uma carta (19,14). As duas mensagens são muito semelhantes: o rei da Assíria convida à submissão e ameaça atacar se o rei não aceitar suas condições. Nos dois casos, a resposta de Ezequias é muito análoga: vai ao templo (19,1 e 19,14). No segundo caso, ora para pedir a ajuda do Senhor (19,15-19). Segue-se a cada vez uma interven ção do profeta Isaías. Em 2 Reis 19,2-4, o rei pede expressamen te sua ajuda e sua oração. Em 2 Reis 19,20, ao invés, o profeta manda uma mensagem ao rei com um longo oráculo contra o rei da Assíria (19,21-34). A primeira conclusão (2Rs 19,8-9) sugere que Senaquerib tenha tido de abandonar, ao menos por certo tempo, seu plano de assediar Jerusalém, com o fim de enfrentar um exército egíp cio vindo do sul para atacá-lo (19,9). O texto fala do nubiano Tirhaqa, que de fato reinou de 685 a 664 a.C., mas provavelmen te esteve associado ao reino já a partir de 690 a.C. Isso cria uma dificuldade a respeito da qual voltaremos a falar. O texto não diz qual foi o resultado desse confronto. Pode-se presumir que Senaquerib tenha enviado a segunda mensagem depois de ha ver desbaratado o exército egípcio (19,9b). Seria uma forma lógi ca de entender o texto. Tbdavia, faltam elementos seguros para poder afirmar que seja o único modo de interpretar os dados.
A segunda conclusão (19,35-37) descreve a libertação mi lagrosa da cidade santa: o anjo do Senhor extermina cento e oi tenta e cinco mil homens. O exército assírio levantou acampa mento e retirou-se. Senaquerib foi mais tarde assassinado por dois de seus filhos enquanto rezava no templo de seu deus Nisrok, como havia predito Isaías (19,7). A terceira parte descreve a enfermidade de Ezequias e sua cura, graças à intervenção de Isaías (2Rs 20,1-11). Neste texto, o profeta Isaías anuncia também ao rei que Deus o libertará, as sim como a cidade de Jerusalém, das mãos dos assírios (20,6b). O oráculo de Isaías promete ao rei mais quinze anos de vida (20,6a). O fato de o rei Ezequias morrer em 687 a.C. significa que a enfermidade remonta a 702/701 a.C., precisamente o ano da campanha de Senaquerib. Isaías teria profetizado ao mesmo tempo o fim de duas desgraças (cf. 2Rs 18,6): a enfermidade e a invasão assíria. A quarta parte do relato, essencial, sem dúvida, para com preender o envolvimento do reino de Judá na política internacio nal da época, consiste na descrição da embaixada enviada por Merodak-Baladan a Ezequias e a reação negativa de Isaías (2 Rs 20,12-19). Essa breve narrativa põe novamente em destaque a figura de Isaías. O profeta prediz ao rei que um dia os babilónios levarão para casa todos os tesouros de Jerusalém mostrados aos embaixadores de Merodak-Baladan. O final do livro dos Reis dará razão a Isaías, mostrando, pois, que o rei, também neste caso, havia errado. Por outro lado, o texto opõe a previdência do pro feta ao egoísmo do rei, que se consola porque a desgraça atingi rá a cidade só depois de sua morte (2Rs 20,19).
b. O texto de Isaías 36-19 Antes de falar dos problemas peculiares do texto de 2 Reis, faz-se necessário dizer uma palavra sobre o texto paralelo que se encontra no livro de Isaías, capítulos 36-39. Existem entre os
dois textos diferenças menores, que não criam grandes dificul dades. Tbdavia, a diferença mais ostentosa encontra-se no início do relato de Isaías: não se encontra nele qualquer paralelo à narrativa de 2 Reis 18,14-16. O livro de Isaías não fala, pois, da submissão de Ezequias e do tributo pago a Senaquerib para afastálo da cidade. Manifestamente, o relato de Isaías 36-37 “tira de cena” uma importante dificuldade do texto de 2 Reis que justa põe sem explicação duas narrações da libertação de Jerusalém: na primeira vez, a cidade é salva pela iniciativa "humana" de Ezequias, que paga um tributo a Senaquerib e, na segunda, Je rusalém é salva pela intervenção milagrosa do anjo do Senhor. Segundo o livro de Isaías, Deus salva a cidade e não se fala nun ca de tributo. O relato de Isaías é, portanto, muito mais “sobre natural" e põe em destaque principalmente a figura do profeta. O rei Ezequias, por sua vez, parece depender inteiramente do profeta em suas iniciativas. Outra diferença importante é a inserção de um salmo de ação de graças cantado por Ezequias após sua cura (Is 38,9-20).
c. O texto dos anais assírios sobre a campanha de Senaquerib em 701 a.C. Este texto aparece inicialmente como uma crônica acurada da campanha de Senaquerib para pacificar as províncias ociden tais de seu império. Não é exatamente o caso. O escriba segue uma ordem lógica, mais que cronológica, uma vez que trata um tema após o outro. Entre eles, podemos distinguir três principais: (a) A campanha contra a cidade de Sídon (Fenícia) e suas consequências: submissão de outras cidades, tributo de alguns reis que se submetem espontaneamente, derrota do rei de Ashqelon que havia procurado resistir. (b) Campanha contra as cidades filistéias ao longo da cos ta (na região de Jafa) que dependiam do rei de Ashqelon. Cons-
piração da cidade filistéia de Ecron com a ajuda do Egito. Derro ta de um exército egípcio em Elteqe, cidade situada a uma vinte na de quilômetros ao sul de Jafa, na torrente Sorek.
O prisma de Senaquerib (cerca de 701 a.C.) Fonte: Atlas Van de Bijbel, p. 89, n. 248.
(c) Campanha contra o interior da terra de Judá: tomada da cidade filistéia de Ecron, conquista de 46 cidades fortificadas no reino de Judá, deportação de 200.150 pessoas e tomada de enormes despojos (sobretudo gado), atribuição de parte do ter ritorio de Judá aos reis filisteus vassalos de Senaquerib (o rei de Ashdod, o novo rei de Ecron e o rei de Gaza), assédio de Jerusa lém, onde Senaquerib "aprisiona Ezequias como um passarinho em uma gaiola", tributo mandado por Ezequias a Ninive com uma embaixada e uma escolta militar que transmitem a Sena querib o ato de fidelidade de Ezequias ao rei da Assíria. A conclusão dos anais não pode deixar de surpreender. Senaquerib aparentemente deixou Jerusalém porque Ezequias manda uma embaixada até Ninive para pagar o tributo. O texto do "prisma de Senaquerib" não menciona absolutamente a to mada de Jerusalém, como faz em relação a outras cidades. So bre este ponto, a crônica assíria e os textos bíblicos concordam perfeitamente: Senaquerib contentou-se com um imponente tri buto e Jerusalém não foi conquistada pelo exército assírio. A razão da decisão de Senaquerib permanece obscura e os historiadores só podem propor suposições. Tálvez Senaquerib te nha se apercebido da excessiva dificuldade de tomar Jerusalém. O assédio a Samaria havia se prolongado por muito tempo (três anos, segundo 2Rs 18,10), e Jerusalém estava bem preparada para um longo assédio (irá resistir por seis meses ao exército babilónico; V. 2Rs 25,1-8). Ou também Senaquerib pode ter se dado conta de que o verdadeiro perigo estava na Babilônia, onde MerodakBaladan tinha em mãos os fios condutores da rebelião. Ou, mais simplesmente, quis pôr fim o mais rápido possível a uma campa nha já suficientemente longa. Ezequias, que teve de presenciar impotente a devastação de seu reino, provavelmente escolheu sem demora a solução menos desvantajosa — o “mal menor” — quando viu que a cidade de Lakish havia caído e os assírios o atacavam diretamente. Rendeu-se, pois, e aceitou pagar um enor me tributo. Senaquerib mostrou-se imediatamente satisfeito por que havia obtido o que queria sem esforços ulteriores.
d. As contradições entre as diversas versões dos eventos Enumero apenas as dificuldades principais: (1) Muito embora o texto bíblico fale de uma campanha no décimo quarto ano do reinado de Ezequias, o relato parece falar de duas campanhas, ao menos para um leitor moderno, afeito às crônicas ordenadas da historiografia contemporânea. Se Ezequias promete obediência e paga um tributo em 2 Reis 18,14-16, por que, imediatamente após, Senaquerib envia mensageiros ao rei de Judá para pedir-lhe que se renda (2 Reis 18,17)? Como conci liar 2 Reis 18,13-16 com 2 Reis 18,17-19,37? À primeira vista, parece muito difícil. Sobre esse ponto, a versão de Isaías 36-37 é muito mais límpida. É preciso, portanto, supor que Ezequias te nha se rebelado depois de haver pago o tributo? É uma solução para esse problema, não, porém, a única possível. (2) A intervenção de Tirhaqa em 2 Reis 19,8-9 cria um problema de cronologia. Esse rei nubiano reinou de 685 a 664 a.C. sobre o Egito, Talvez tenha sido associado ao reino de seu pai Shabaca a partir de 690 a.C. Seja como for, não estamos ain da em 701 a.C. Há duas soluções para essa dificuldade: ou os escritores bíblicos confundem Shabaca e seu filho Tirhaqa, ou também o exército egípcio era conduzido pelo príncipe Tirhaqa. Senaquerib fala, de qualquer maneira, de uma batalha contra um exército egípcio, sem, todavia, citar o nome de seu coman dante. Isso talvez se explique melhor se o Faraó em pessoa não participava da expedição. Segundo a crônica de Senaquerib, o combate entre os dois exércitos teve lugar antes da campanha contra as cidades de Judá, e não durante, como faz supor 2 Reis 19,8-9, e aconteceu em Elteqe (ao sul de Jafa), que é muito distante de Libná, cida de mencionada em 2 Reis 19,8 (e que se encontra a alguns quilô metros ao norte de Lakish). Mais uma vez, existe confusão de algum lado, embora haja unanimidade quanto a uma interven ção egípcia ordenada por um rei de origem nubiana.
(3) As últimas grandes dificuldades provêm da narração de 2 Reis 19,35-37. Primeiro, é preciso interrogar-se sobre qual a causa que provocou a derrota do exército assírio. 2 Reis 19,35-36 fala de uma intervenção sobrenatural que obrigou Senaquerib a retirar seu acampamento. O texto sugere indubitavelmente que a libertação de Jerusalém é devida à ajuda de Deus. Em uma linguagem algo moderna, dir-se-ia que houve uma intervenção “providenciar’ para libertar a cidade. Por outro lado, é bastante difícil tomar à letra o que é dito. O texto fala de uma perda de quase duzentos mil homens — exatamente cento e oitenta e cin co mil —, o que é uma cifra considerável e quase impensável para a época (em Waterloo, em 1815, os combatentes totalizavam 300.000, dos quais morreram aproximadamente 48.000). Se ver dadeiramente Senaquerib houvesse perdido tantos homens em uma noite, não se compreende como conseguiu alcançar Ninive e aí reinar ainda por vinte anos. A perda de tal exército teria incitado de imediato todas as províncias a rebelar-se novamente e retomar sua independência. Não foi o que aconteceu. Por fim, alguém poderá perguntar-se quem foi contar os cadáveres assírios em seu acampamento. Como explicar a intervenção do anjo do Senhor em 2 Reis 19,35? Tbda a narrativa de 2 Reis 18,17-19,37 (Is 36-37) descreve a invasão assíria com um tom particular porque pretende "1er” os fatos de acordo com uma chave religiosa. Segundo os recursos literários da época, sugere, portanto, um "segundo nível de leitu ra" que não deve ser confundido com a simples crônica dos even tos, como a que encontramos por exemplo no breve relatório de 2 Reis 18,9-12. O fato averiguado é que Senaquerib não tomou Jerusalém. A descrição de 2 Reis 19,35-36 não pretende dar um relato acurado dos fatos ocorridos, mas convida, ao invés disso, a enquadrar esses fatos em uma visão mais ampla da história que — para 1 Reis e 2 Reis — é o desígnio divino revelado pelos pro fetas, neste caso por Isaías. Para o profeta, a vontade de Deus era que Jerusalém não fosse tomada, e assim aconteceu. Esse é o primeiro intuito do relato, que deve ser lido de acordo com ele.
Ainda a propósito de 2 Reis 19,35, existe um relato bastan te curioso do historiador grego Heródoto (484-425 a.C.). Em sua descrição da campanha de Assurbanipal contra o Egito (por vol ta de 663 a.C.), afirma que o exército assírio foi assaltado por ratazanas que comeram todos os instrumentos de couro, obri gando o exército assírio a retirar-se. Além disso, Heródoto insis te em chamar ao rei da Assíria Senaquerib, e não Assurbanipal, um equívoco evidente (Heródoto 11.141). Os ratos, como se sabe, são portadores do bacilo da peste que podia facilmente atacar um exército em campanha, dado o escasso nível de higiene nes sa época. Tferia se inspirado talvez o autor bíblico de 2 Reis 19,35 em narrativas similares na composição de seu texto? O segundo ponto que requer uma explicação é a morte de Senaquerib. Segundo 2 Reis 19,37, morreu assassinado e, ao que parece, quase imediatamente após ter retornado à pátria. Mas, na realidade, isso acontece vinte anos depois de sua campanha em Judá. Senaquerib morreu em 681 a.C. Uma crônica babilônia fala de um só filho, ao passo que 2 Reis 19,37 (e Is 37,38) mencio na os nomes de dois filhos. Asaradon, sucessor de Senaquerib, faz menção do papel de seus irmãos (no plural) em uma conspi ração contra ele em sua vontade de apoderar-se do trono. A in formação da Bíblia pode, pois, ter um fundamento histórico. Em 2 Reis 19,37 (Is 37,38) se vê certamente, nessa morte violenta, um castigo divino para aquele que havia ousado atacar a cidade santa. Esse castigo também havia sido predito pelo pro feta Isaías (2Rs 19,7 = Is 37,7). Para mostrar a ligação causa/ efeito entre a invasão assíria e a morte violenta do rei Senaquerib, a Bíblia “salta” os vinte anos que separam os dois eventos. Por fim, pode-se observar que a sorte de Senaquerib é semelhante à de um outro rei ímpio, Acab, cuja morte violenta havia sido pre dita pelo profeta Elias (1 Rs 22,38; cf. 21,21). Tãmbém desta vez, a vontade explícita da narração é a de exaltar a figura do profeta. A narrativa é, portanto, organizada tendo em vista esse propósito. (4) Para retornar a questões menos complicadas, convém dizer uma palavra sobre o tributo pago por Ezequias. O texto
bíblico fala de trezentos talentos de prata e de trinta talentos de ouro (2Rs 18,15). Os anais de Senaquerib indicam cifras ligeira mente diferentes. O tributo teria sido não de trinta talentos de ouro (como no texto bíblico), mas sim de oitocentos talentos de prata (quinhentos a mais). Além disso, Ezequias teria dado antimonio, cornalina (tradução duvidosa de uma palavra difí cil), camas e cadeiras de marfim, peles de elefante, marfim, éba no, bosso [urna ou recipiente feito com madeira de sempre-ver de], um grande tesouro e muitos objetos, suas filhas, mulheres de seu palácio, cantores (homens e mulheres). Obviamente, o texto bíblico tende a minimizar a quantidade de bens dada por Ezequias, enquanto Senaquerib, ao contrário, tende a aumentála. Permanece certo que a soma é deveras impressionante e que o reino de Judá devia ser bastante rico neste momento (cf. 2Rs 20,13). Tálvez seja precisam ente isso que deve ter atraído Senaquerib, mais que a perspectiva de uma vitória militar.
e. A interpretação dos acontecimentos por parte do profeta Isaías Se os textos de 2 Reis 18,17-19,37 e de Isaías 36-37 dão uma versão um tanto positiva dos acontecimentos e salientam o fato de que afinal de contas Senaquerib não conseguiu conquistar Je rusalém, os oráculos de Isaías mostram que o profeta reagiu de maneira muito diferente. Para ele, a campanha assíria foi uma verdadeira catástrofe, mas o povo não compreendeu a lição. Ain da aqui a Bíblia justapõe versões e pareceres diversos, sem procu rar harmonizá-los. Para acentuar esse efeito, lembramos que a versão mais positiva dos fatos encontra-se justamente no próprio livro de Isaías, nos capítulos 36 e 37. Existem, pois, dois pareceres muito diferentes do profeta Isaías inseridos no mesmo livro. O primeiro oráculo, Isaías 1,4-9, para muitos exegetas, remonta à época que se segue imediatamente à invasão assíria. A descrição feita por Isaías é horripilante:
"4Desgraça! Nação pecadora, povo carregado de crimes, raça de malfeitores, filhos corrompidos. Eles abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, eles se esquivaram. Onde golpear-vos ainda, vós que persistis na rebelião? Tbda cabeça está doente, todo coração extenuado. Da planta dos pés à cabeça, nada de intacto: ferimentos, chagas, cicatrizes recentes, nem limpas, nem atadas, nem umedecidas com óleo. 7 Vossa terra está desolada, vossas cidades, queimadas, vosso solo, na vossa frente estrangeiros o devoram: está desolado, como revirado pelo invasor. A filha de Sião vai ficar como uma choça numa vinha, como um abrigo num pepinal, como uma cidade sitiada. 9 Se o Senhor de todo poder não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, seríamos como Sodoma, semelhantes
% •
V .
a Gomorra” (Bíblia lYadução Ecumênica, São Paulo, Loyola, 1994).
O quadro não requer um longo comentário. Isaías descreve a situação com imagens poéticas que correspondem exatamente à realidade dos fatos: todo o país foi destruído pela invasão, mas Jerusalém foi poupada, graças a Deus. Isaías, porém, vê a desola ção que atinge o país também como um castigo divino. Estamos longe do tom triunfal de 2 Reis 18,17-19,37 (Is 36-37). O segundo texto que merece ser citado é Isaías 22,1-14, um texto que, segundo a maioria dos exegetas, remonta também ao período da invasão assíria:
Proclamação sobre o vale da visão: Para que, afinal, subires toda inteira sobre os telhados, cidade tumultuosa e cheia de algazarra, cidadela jubilosa? Tfeus mortos não morreram pela espada, não foram mortos no combate. Thus generais fugiram todos, foram feitos prisioneiros sob a ameaça do arco. Tbdos os que foram reencontrados foram feitos prisioneiros, tinham fugido para longe. E agora, eu di£o: afastai-vos de mim, que eu chore amargamente; não insistais em consolar-me pela devastação da filha do meu povo. Pois é um dia de pavor, de pânico e de desvario, da parte do Senhor Deus de todo poder. No vale da visão, uma muralha desmorona e gritos se elevam para a montanha. Elâm carrega a aljava em carros atrelados e montados e Qir desnuda o escudo. As tuas planícies mais belas estão cheias de carros de guerra, as parelhas tomam posição às portas, a cobertura de Judá é retirada. Naquele dia, olhastes para o arsenal da Casa da Floresta g e vistes que as brechas da cidade de David eram numerosas. Juntastes a água no reservatório inferior. Calculastes as casas de Jerusalém, demolistes as casas para tornar inacessíveis as muralhas. Fizestes um tanque entre as duas muralhas para as águas do antigo reservatório. Mas não olhastes para aquele que age em tudo isso,
não vistes que está em ação há muito tempo. 2Naquele dia, o Senhor Deus de todo poder vos chamava a chorar e a lamentar a vos raspar a cabeça e a cingir-vos de saco, e eis o júbilo e a alegria: matam-se bois, degolam-se carneiros, come-se carne, bebe-se vinho, comer, beber... pois amanhã haveremos de morrer. O Senhor de todo poder revelou aos meus ouvidos: Jamais este pecado vos será perdoado, até que morrais! O Senhor Deus de todo poder o disse" {Bíblia Tradução Ecumênica, São Paulo, Loyola, 1994).
O texto, que exigiria uma explicação detalhada, não convi da o povo a regozijar-se. Ao contrário, o tom é sombrio e quase lúgubre. A "vitória” é vitória apenas na aparência. Grosso modo, o profeta censura seu povo por não compreender e por ter uma visão muito parcial dos acontecimentos. Nem antes nem depois da invasão de Judá conseguiu compreender o significado do que acontecia. Segundo outros oráculos de Isaías, a invasão foi o fruto de uma política equivocada e suas conseqüências são assustado ras. O povo, ao contrário, alegra-se porque a cidade de Jerusalém não foi tomada. Parca consolação, diz o profeta, e esse vosso erro não ficará sem efeitos desastrosos. Tàmbém neste caso estamos distantes dq tom adotado pela narrativa de 2 Reis 18,17-19,37.
Algumas reflexões a posteriori Se tivéssemos podido comprar um jornal depois da inva são assíria da terra de Judá em 701 a.C., em Jerusalém ou em Nínive, provavelmente teríam os lido títulos deste gênero: "Ezequias constrangido a pagar um tributo a Senaquerib”,
“Ezequias de joelhos diante do déspota assírio”, "A humilhação de Ezequias", “Vitória de YHWH sobre os assírios!”, "Assírios em debandada!", “Milagre em Jerusalém!”, "A desolação de Judá", “Gemidos e lam entos na cidade de YHWH”, “O triunfo de Senaquerib”, “Senaquerib, o dominador", "Veni, vidi, vici!”, “Trai dores humilhados", "A outra face da campanha", “As amarguras de uma marcha rumo ao Mar” etc. São todos títulos possíveis, nos quais aparecem as opiniões das várias partes: os judeus, os habitantes de Jerusalém, o partido de Ezequias, os diversos es critores do livro dos Reis, o profeta Isaías, a opinião oficial e a opinião pública assíria. Se buscarmos o que diz a Bíblia, teremos de buscá-lo em diversos jornais. Por quê? Por uma simples razão: a Bíblia não é um jornal, mas uma banca. Não encontramos uma opinião úni ca, nítida, simples, unilateral e incontestável, mas diversas opi niões que se completam em certos casos, mas que podem tam bém se contradizer em outros. Assim sendo, a Bíblia obriga seu leitor a não “absolutizar" qualquer opinião, para procurar a “ver dade" no conjunto e para além de todas as versões, em um cote jo que induz a uma incessante correção de todo parecer parcial. A Bíblia não é, para continuar na mesma linha, um jornal intitulado: “A voz de Deus”. A voz de Deus se faz ouvir através de todas as vozes humanas que ressoam na Bíblia, em um concerto algumas vezes harmonioso, em outras desarmónico, porque o caminho que conduz à verdade sinfônica final é longo e pode passar por momentos de quase cacofonia. Deus, para usar outra imagem semelhante, não fala em um só “canal". Utiliza diversos canais, e a Bíblia nos fornece o controle que dá acesso a todos quantos houver. Certamente podemos preferir ou privilegiar um testemu nho, porque mais acurado ou mais profundo. Podemos, por exem plo, dizer que o profeta Isaías nos propõe uma visão mais inteli gente da situação ou que sua visão de fé é aquela que, afinal de contas, deve prevalecer sobre as outras. Mas também neste caso devemos admitir duas coisas. Primeiro, o texto bíblico não eli-
minou as outras versões dos fatos. A perspectiva bíblica não é unilateral e não é “totalitária", porque não suprime “a voz da oposição", se assim podemos nos expressar. Segundo, o próprio Isaías fala de modo diferente em seus oráculos e nos relatos dos capítulos 36-37. A tensão ou contradição está presente, pois, também no interior do "testemunho de Isaías". A Bíblia justapõe e contrapõe diversos testemunhos, mas não parece querer fazer calar quem pensa de maneira diferente. Tãl estratégia está presente em toda a Bíblia. Por essa ra zão, há, por exemplo, duas narrativas da criação (Gn 1,1-2,3 e 2,4-25). Há também quatro evangelhos e não apenas um. Pois a "realidade” da criação dificilmente pode ficar restrita a uma úni ca perspectiva, do mesmo modo que a "realidade" de Jesus Cris to não pode ser traduzida por uma só mente, mesmo que seja genial. A "realidade", para a Bíblia, é sempre mais rica que as expressões que lhe podemos dar e que aquelas que lhe dão os autores bíblicos. A multiplicidade das expressões que se mani festa nas tensões e contradições dos textos é uma das maiores características da Bíblia. Conseqüentemente, o leitor nunca pode deter-se em uma única linha de pensamento, mas é convidado a superar todas as opiniões a fim de dirigir seu olhar para a "reali dade" e para a "verdade” que descobre pouco a pouco, no esfor ço constante de corrigir os quadros limitados e restritos de cada um dos relatos ou autores. Esse esforço pode ser fatigante. Podemos realmente prefe rir ou sonhar um mundo no qual a "verdade” seja uma só, sim ples e límpida, em que a única versão oficial dos fatos seja redigida em fórmulas unívocas e irrevogáveis por uma autorida de indiscutível que evite (ou procure evitar) qualquer dúvida, hesitação ou resistência? Esse mundo existe e o encontramos em nossa discussão. Não é, porém, o mundo da Bíblia. É, antes, o mundo assírio.
Historia e narrativa, arte e poesia
Epílogo
À guisa de conclusão, gostaria de propor um último exem plo que ilustra quantos diferentes modos existem de perceber a realidade histórica e de transmitir essa percepção. O exemplo que tomo é a destruição da "cidade santa”do País Basco, Guernica, em 27 de abril de 1937, por obra da aviação da Alemanha nazis ta, aliada aos nacionalistas espanhóis do general Franco durante a guerra civil. Houve cerca de duas mil vítimas civis. Sobre esse “fato histórico", podemos consultar uma vasta documentação. Seria possível, por exemplo, encontrar a corres pondência entre o quartel-general dos nacionalistas espanhóis e os chefes da aviação alemã. Tálvez haja vestígios das ordens pre cisas dadas pelos chefes aos pilotos da esquadra aérea. Tteríamos nelas um quadro para descrever com esmero a ação militar. Se ria também interessante reler o que comunicaram as agências de imprensa da época, imediatamente após o bombardeio. As várias agências espanholas e estrangeiras certamente viram o evento de maneiras diferentes. O que foi dito em Madri, em
Bilbao, em Berlim, em Paris, em Londres, em Roma, em Mos cou, em Washington ou em Santiago do Chile? O que disseram os nacionalistas e os republicanos espanhóis? E os jornais do País Basco? Um terceiro grupo de testemunhos poderia provir dos relatos dos sobreviventes, das testemunhas oculares. Os tes temunhos podem vir de pessoas cultas ou mais simples, de pes soas envolvidas ou neutras, de uma pessoa feliz por haver esca pado ao desastre ou de alguém que chora a perda de pessoas queridas. Esses relatos podem ter sido feitos imediatamente após o evento ou muitos anos depois. Tàmbérn neste caso, as opi niões e principalmente os modos de narrar serão bem diferen tes. Em quarto lugar, podemos consultar as obras dos historiado res que estudaram por muito tempo a época contemporânea, a guerra civil espanhola ou a história do País Basco. Esses historia dores serão bascos, espanhóis ou estrangeiros e suas perspecti vas poderão variar segundo a posição ou a distância que toma rão em relação aos fatos. Há quem esteja mais envolvido, mais apaixonado, e há quem esteja menos comprometido. Por fim, temos algumas obras artísticas; cito particular mente uma, o famoso quadro pintado por Pablo Picasso e que se encontra no museu de Arte Moderna de Nova York. Essa obra não procura dar uma "fotografia” da cidade destruída. Não é pos sível saber, por exemplo, quantas foram as vítimas a partir de um exame da pintura. Nada se diz sobre os antecedentes ou so bre as causas do desastre. làmpouco se compreende bem o que tenha acontecido. Veem-se somente cadáveres, escombros, en tulhos, corpos, membros, destruições e desolação. Com efeito, para compreender a pintura, é preciso conhecer um pouco a história de Guernica. Seja como for, a mensagem é apreendida imediatamente por quem quer que contemple a obra de arte. Picasso procura, de fato, transmitir uma mensagem hu mana sobre o acontecido, uma forte impressão de horror por uma cena horripilante. Essa impressão forte será recebida de maneiras diversas pelos diversos espectadores da célebre tela.
Se retornarmos à Bíblia, poderemos perguntar-nos o que encontramos nela. Relatórios exatos dos fatos? Crônicas de tes temunhas oculares? Obras de historiadores? Ou obras de arte? Tàlvez encontremos, mesclado, um pouco de tudo. Em geral, porém, temos antes de mais nada obras de arte. Essas obras não são sofisticadas e requintadas, pois pertencem preferencialmente à arte popular. Mas seu intuito é, de qualquer maneira, o da obra de arte: transmitir uma mensagem sobre o que aconteceu. Não procuram tanto fornecer pormenores aos historiadores, mas que rem acima de tudo formar a consciência de um povo que busca compreender qual é seu destino neste mundo.
Breve bibliografia
ANATI, E. Esodo tra mito e storia. Archeologia, esegesi e geografia storica; Studi comuni 18. Capo di Ponte Valcamonica [BS], Edizioni del Centro, 1997. BOTTERO, J.; OUAKNIN, M. A.; MOINGT, L. La plus belle histoire de Dieu. Qui est le Dieu de la Bible? Paris, Seuil, 1997. BRIEND, J. & SEUX, M. J. Israël et les nations d'après les textes du Proche-Orient ancien; Cahiers Évangile 69 - Suppléments. Paris, Cerf, 1989. FINKELSTEIN, I. The Archeology of the Israelite Settlement. Jerusalém, Israel Exploration Society, 1988. FINKELSTEIN, I.‘ & NAAMAN, N. (EDS.), From Nomadism to Monarchy; Archeological and Historical Aspects of Early Israel. Jerusalém: Yad Izhak Bem-Zvi - The Israel Exploration Society, 1990. GIBERT, P. Bible, mythe et récits de commencement. Paris, Seuil, 1986 = Bibbia, miti e racconti Dell'inizio. Brescia, Queriniana, 1993. _____ Petite histoire de l'exégèse biblique. De la lecture allégorique à l'exégèse criti que. Paris, Cerf, 1994. _____ Comment la Bible fut écrite. Paris, Éditions Bayard/Centurion, 1995. GROLLENBERG, L. H. Atlas van de Bißei. Amsterdam, Elsevier, 1954. KASWALDER, P. "L'archeologia e le origini d'Israele", Rivbib 41 (1993), 171-178. LIVERANI, M. Storia di uma terra. L'età antica e cristiana. L'Islam. Le questioni attuali; Libri di Base 116. Roma, Editori Riuniti, 1987. _____ Antico Oriente: storia, società, economia; Collezione storica. Roma-Bari, Laterza, 1988. SOGGIN, J. A. Storia d'Israele dalle origini a Bar Kochbà. Brescia, Paideia, 1984.
Tabelas cronológicas
Oriente Médio antigo Egito: Ramsès II (1304-1238 a.C.) Merneptah (1238-1209 a.C.) Esteias de Mernepth (1233 a.C.) Shishak (950-929 a.C.): campanha na Palestina. Assíria: Salmanasar III (858-824 a.C.); campanhas na Síria-Palestina; batalha de Qarqar (853 a.C.) contra uma coalizão de pequenos reinos da SíriaPalestina. Moab: rei Meshá - estelas de Meshá, por volta de 840 a.C. Damasco: Hazael assassina Bar-Hadad II, continua a luta contra a Assíria, mas Salmanasar III é derrotado em 841 a.C. Estelas de Dan (840 a.C., aproximadamente). Assíria: em 841 a.C., Salmanasar III recebe um tributo de Iehu, rei de Israel. Assíria: Adad Nirari III, rei da Assíria (810-783 a.C.). Recebe um tributo de Joás, rei de Israel. Assíria: Tiglat-Piléser III (747-727 a.C.): campanhas na Sirio-Palestina, particularmente contra a Filistéia (734 a.C.), o norte do reino de Israel (prova velmente em 733 a.C.) e Damasco (talvez em 732 a.C.). Tbrna-se rei da Babilonia sob o nome de Pul em 729 a.C. Recebe um tributo de Acaz, rei de Judá. Assíria: Salmanasar V (726-722 a.C.): campanhas contra Israel; inicio do assédio de Samaria (que tomba em 722/721 a.C.).
Assíria: Sargon II (722-705 a.C.): afirma haver tomado Samaria (722/721 a.C.). Campanhas contra a Filistéia e vitória contra um exército egípcio em Ráfia (ao sul de Gaza) em 720 a.C. Ibmada de Ashdod (Filistéia) em 711 a.C. Babilônia: de721 a 711, Merodak-Baladan procura emancipar-se do jugo assírio. Irá rebelar-se novamente sob Senaquerib e será derrotado por este último em 702 a.C. Egito: Faraó nubiano (7157-696 .C.), e a seguir Tirhaqa (co-regente por volta de 690 a.C.; reina de 685 a 664 a.C.). Tirhaqa será derrotado em Elteqe por Senaquerib em 701 a.C. Assíria: Senaquerib (704-681 a.C.): em 701, campanha contra os reinos da Sírio-Palestina, em particular contra Ezequias, rei de Judá. Assédio de Jerusalém.
Reino de Israel Omri (886-875 a.C.): fundador da cidade de Samaria. Acab (875-853 a.C.): faz parte de uma coalizão antiassíria. Participa da batalha de Qarqar (853 a.C.). Iehu (841-814 a.C.): toma o poder, eliminando do meio a dinastia de Omri. Segundo 2 Reis 9, teria assassinado Iorâm, rei de Israel e sobrinho de Acab e Acazias, rei de Judá, provavelmente vassalo de Iorâm. Segundo a esteia de Dan, esses dois reis foram mortos por Hazael. Tálvez Iehu tenha se aprovei tado dessa derrota para apoderar-se do trono. Iehu paga um tributo a Salmanasar III em 841 a.C., quer dizer, no início de seu reino Joás (803-787 a.C.): em 803, no início de seu reinado, paga um tributo a Adad Nirari III. Jeroboão II (787-747 a.C.): tempo de prosperidade para Israel. Prega ção do profeta Amós, e a seguir, de Oséias. Menahêm (746-737 a.C.): paga um tributo a Tiglat-Piléser III em 737 a.C., último ano de seu reinado. Péqah (735-732 a.C.) Oséias (732-724 a.C.): último rei de Israel. Procura a ajuda do Egito. Início do assédio de Samaria. A cidade cairá em 722/721 a.C.
Reino de Judá Roboão (933-916 a.C.?): filho de Salomão, paga um tributo a Shishaq. Entre 740 e 700 a.C.: pregação dos profetas Miquéias e Isaías.
Acaz: 735-716? a.C.): aliança com Tiglat-Piléser III contra o rei de Israel Péqah (735-732 a.C.) e o rei de Damasco Resin. Paga um tributo a Tiglat-Piléser III (v. Is 7,1-9 e 8,5-8). Ezequias, seu filho, participa do poder talvez a partir de 728 a.C. Ezequias (716-687 a.C.): contatos com Merodak-Baladan (Babilônia), fortificação de Jerusalém, escavação do canal de Siloé (inscrição de Siloé). Jerusalém assediada por Senaquerib em 701 a.C. Ezequias paga um tributo a Senaquerib. Atividade do profeta Isaías.
Editoração, Impressão e Acabamento Rua 1822, n. 347 • Ipiranga 04216-000 S Ã O PAULO, SP ___ Tel.: (0**11)6914-1922



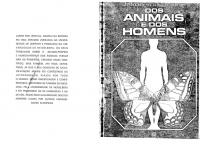





![A Conversa Infinita 1: a palavra plural : palavra de escrita [1, 1 ed.]
8571371768, 9788571371767](https://ebin.pub/img/200x200/a-conversa-infinita-1-a-palavra-plural-palavra-de-escrita-1-1nbsped-8571371768-9788571371767.jpg)