Purificar e Destruir - Usos Políticos dos Massacres e dos Genocídios 9788574321004
232 11 4MB
Portuguese Pages [334] Year 2009
Recommend Papers

- Author / Uploaded
- Jacques Sémelin
File loading please wait...
Citation preview
Índice Conteúdo OBRIGADO Introdução - entendeu? CAPÍTULO I - Imaginários de destrutividade social Leads falsos O poder da imaginação Fantasias destrutivas Entre imaginação e realidade: o papel da ideologia Da história da identidade à figura do traidor A marcação de "pequenas" diferenças Figuras do inimigo dentro Da busca pela pureza à figura do Outro em excesso Pureza de identidade e pureza política Do dilema da segurança à destruição do inimigo Conspiração e paranóia Racionalidade delirante Destrua o "eles" para salvar o "nós" CAPÍTULO II - Do discurso incendiário à violência sacrificial O trampolim intelectual A criação de mitos acadêmicos Os intelectuais estão indo para a guerra? O tempo da legitimação política A ascensão de Hitler ao poder
Do mesmo autor Para sair da violência Edições Atelier, 1983 Dissuasão Civil Princípio da resistência não violenta na estratégia francesa Instituto de Estratégia Comparativa, 1985 Desarmado contra Hitler Resistência civil na Europa, 1939-1943 (Prefácio de Jean-Pierre Azéma) Payot, 1989 e "Small Payot library", no 340 Não violência (com Christian Mellon) PUF, “O que eu sei? »Nº 2912, 1994 Compreendendo a não violência (com Jean-Marie Muller) Notícias não violentas, 1995 Liberdade no final das ondas de rádio Do golpe de Praga à queda do Muro de Berlim (Prefácio de André Fontaine) Belfond, 1997 Não-violência explicada às minhas filhas Limiar, 2000 Eu chego onde sou um estranho Threshold, 2007 ISBN 978-2-02-100874-6 © Éditions du Seuil, outubro de 2005 www.seuil.com
A Pierre Hassner, cuja companhia benevolente e crítica sempre foi uma importante fonte de estímulo intelectual e que, muito judiciosamente, me levou a explorar os fundamentos do poder de destruir.
“Eu sou o ser mais tranquilo que existe. Meus desejos são: uma cabana modesta com telhado de palha, mas com uma boa cama, uma boa mesa, leite fresco e manteiga com flores nas janelas; na frente da porta algumas belas árvores. E se o bom Deus quer me deixar completamente feliz, deixe-me ver cerca de seis ou sete de meus inimigos pendurados nessas árvores. Com um coração terno, vou perdoá-los antes de morrerem todas as ofensas que me cometeram durante a vida - é claro que é preciso perdoar os inimigos, mas não antes de serem enforcados. " Heinrich HEINE, Pensamentos e propostas .
Em Varsóvia perto de um carrossel, Em uma bela noite de primavera, Ao som de música alegre; As salvas vindo do gueto, Me perdi na melodia, E os casais voaram para longe, Lançado bem alto no céu sereno. O vento das casas queimadas Trouxe fragmentos escuros, Eles pegaram cinzas no ar, Aqueles que foram para o carrossel. E os vestidos das meninas estavam voando, E as pessoas riram alegremente, Este lindo domingo em Varsóvia. Czeslaw MILOSZ, Campo dei fiori.
Conteúdo Cobertor Conteúdo OBRIGADO Introdução - entendeu? CAPÍTULO I - Imaginários de destrutividade social Leads falsos O poder da imaginação Fantasias destrutivas Entre imaginação e realidade: o papel da ideologia
Da história da identidade à figura do traidor A marcação de "pequenas" diferenças Figuras do inimigo dentro
Da busca pela pureza à figura do Outro em excesso Pureza de identidade e pureza política
Do dilema da segurança à destruição do inimigo Conspiração e paranóia Racionalidade delirante Destrua o "eles" para salvar o "nós"
CAPÍTULO II - Do discurso incendiário à violência sacrificial O trampolim intelectual A criação de mitos acadêmicos Os intelectuais estão indo para a guerra?
O tempo da legitimação política
A ascensão de Hitler ao poder Milosevic e o sonho de uma "Grande Sérvia" Kayibanda e a formação do estado de Ruanda Os profetas do caos Alimentando medo e ressentimento: o papel da mídia A venenosa árvore de propaganda
De religioso a sacrificial Alemanha: a solidão de Dietrich Bonhoeffer A Igreja Ortodoxa e o “Mártir Sérvio” A Igreja Católica de Ruanda: entre o apoio ao regime e as contradições internas A refundação sacrificial de "nós"
O social entre adesão, consentimento e resistência A "espiral do silêncio" A quebra do laço social O papel do terceiro
CAPÍTULO III - Contexto internacional, guerra e mídia Uma estrutura de oportunidades políticas Estados modernos e massacres O legado da violência étnica Massacres e fluxos populacionais Colapso do Estado e violência extrema Ruanda-Burundi: gêmeos fraternos étnicos Sérvia-Croácia: um tandem fratricida
Alemanha nazista-União Soviética: o choque dos totalitarismos A passividade da "comunidade internacional"
A mudança na guerra A politização da guerra Conquistando "espaço vital" Guerra contra civis Rumo à destruição do Inyenzi Recuse a engrenagem fatal O Novo Mundo da Guerra
Testemunho, último recurso? O extermínio dos judeus: descubra o horror ... e não faça nada Bósnia: conheça ... e finja Ruanda: conheça ... e vá O suposto “efeito CNN” e a indiferença dos estados
CAPÍTULO IV - A dinâmica do assassinato em massa Do processo de tomada de decisão e dos responsáveis Alemanha nazista: a preeminência de Hitler Ruanda: uma chamada pública para o genocídio Iugoslávia: o deslocamento do sistema federal Procurando a decisão?
Sobre a organização do assassinato em massa e seus atores Alemanha nazista: guerreiros ideológicos Ruanda: "faça o trabalho"
Sérvia: forças armadas alternativas Práticas organizadas e autônomas O símbolo de Srebrenica
Da indiferença coletiva à participação popular nos massacres O destino dos judeus, entre a hostilidade e a indiferença Ruanda: a massificação do assassinato Autismo da população sérvia Defesa territorial Salva-vidas comuns Resista, a força do desespero
As morfologias da violência extrema De estado ameaçado para estado ameaçador Da destruição parcial à destruição total Tecnologias de assassinato em massa
CAPÍTULO V - A vertigem da impunidade As metamorfoses da passagem ao ato Massacre, saqueie, faça negócios Uma socialização para a violência Torne-se um assassino no campo de batalha O que eles estão pensando enquanto matam? Dissonância cognitiva e racionalizações Legitimações divinas
O dispositivo alternativo no assassinato em massa
O crime de obediência Conformidade do grupo
A dupla aprendizagem do massacre O "eu assassino" Especialização de tarefas e profissionalização de homicídios
Os perfis dos assassinos: revisitando a noção de "banalidade do mal" Artistas comuns O envolvimento de mulheres e crianças Da ambigüidade do mal Retorna sobre a "banalidade do mal"
Violência sexual e outras atrocidades Interpretações plurais e incertas Um cálculo racional Em direção à violência orgiástica Do gozo da crueldade O abismo da "zona cinzenta"
CAPÍTULO VI - Usos políticos de massacres e genocídios Instrumentalização de uma palavra impossível de definir? "Genocídio": um legado do direito internacional Ciências sociais: estudos pioneiros Desengate da direita O "massacre" como unidade de referência Pensando em processos de destruição
Destrua para enviar Da guerra à "gestão" dos povos Regimes comunistas: a reformulação total do corpo social O paradigma do “Kampuchea democrático”
Destrua para erradicar Sobre o uso da cirurgia na política O paradigma Shoah Regimes políticos? De "limpeza étnica" a "genocídio"
Destrua para se rebelar A retórica do terrorismo O paradigma de 11 de setembro de 2001 Candidatos "comuns" ao sacrifício
Conclusão - Este "Nunca mais!" »Que começa de novo ... Prevenção de crises: argumentos e ilusões Uma ética de responsabilidade A "vingança das paixões" Apêndices apêndice i - investigando um massacre anexo ii - Comparando os massacres As armadilhas da comparação: equivalência e singularidade Metodologias de comparação
apêndice iii - Uma enciclopédia eletrônica de massacres e genocídios - Projeto apoiado pelo CNRS e Sciences Po http://www.encyclo-genocides.org
Bibliografia selecionada Índice de nomes Índice temático
OBRIGADO Este livro é fruto de um lento amadurecimento que sem dúvida começou num dia de julho de 1985, com a emoção sentida durante a minha visita a Auschwitz-Birkenau, e que, posteriormente, foi alimentada por outras viagens. na Polônia, Alemanha, Ruanda e vários países dos Balcãs. Parece-me impossível agradecer a todas as pessoas que, durante estes anos, contaram para a evolução intelectual desta obra. Pelo menos não gostaria de esquecer meu encontro com o historiador francês Léon Poliakov, que, em conexão com o genocídio dos judeus, me confidenciou esta "fórmula" que nunca esqueci: "O acontecimento tem uma multiplicidade das causas, é impossível saber a causa do evento. Esse pensamento sempre inspirou minha postura de pesquisadora em relação ao objeto estudado. Iluminou meu itinerário nas ciências sociais, sendo uma espécie de convite constante à complexidade e à humildade do processo científico. Também estou pensando nesta mesa redonda sobre genocídios e perseguições em massa que organizei em Paris em março de 1986 com o próprio Léon Poliakov, Yves Ternon (pela Turquia de Talaat), Wladimir Berelowitch (pela URSS stalinista) , Jean-Luc Domenach (para a China maoísta) e François Ponchaud (para o Camboja de Pol Pot). Para meu conhecimento, esta reunião é a primeira tentativa de discussão comparativa na França sobre as grandes assassinatos em massa do XX século. Porém, lembro-me de ter ficado fascinado pelas trocas, e é também neste encontro que provavelmente reside o início deste livro. Mas é certamente Pierre Hassner quem, no final dos anos 1990, após a defesa da minha autorização para dirigir pesquisas em ciência política (da qual havia sido diretor), despertou em mim o desejo e a vontade de empreender um novo programa de pesquisa sobre este difícil tema, no âmbito do CNRS. E é por isso que este livro é dedicado a ele. Na fase final da redação deste livro, beneficiei-me muito das observações e comentários de eminentes especialistas nos casos estudados, que me deram a honra de ler o manuscrito e apontar as lacunas: Philippe Burrin ( para a Alemanha nazista), Jean-Pierre Chrétien, Marcel Kabanda e Claudine Vidal (para Ruanda), Joseph Krulic e Joël Hubrecht (para a ex-Iugoslávia). A consideração de suas observações e sugestões enriqueceu muito as análises propostas neste livro. Outros colegas, amigos ou parentes também leram todo ou parte do texto: Annette Becker, Christiane Guiffrais, Sandrine Lefranc, Christian Mellon, Géraldine Muhlman, Nicole Parisel, Valérie Rosoux, Rafiki Ubaldo. A relevância de seus comentários muitas vezes me levou a fazer modificações às vezes substanciais para melhorar a precisão e clareza do assunto. Mas, é claro, continuo sendo o único a assumir a responsabilidade pelo que está escrito nestas páginas. Durante os anos de preparação deste livro, os colegas desempenharam um papel importante tanto no incentivo quanto no estímulo à minha pesquisa. Estou pensando em primeiro lugar em Michel Wieviorka, diretor do CADIS (EHESS), e Christophe Jaffrelot, diretor do CERI (FNSP), que respectivamente me acolheram em 2000, depois em 2004 em suas equipes, o que permitiu este trabalho beneficia de uma integração institucional essencial ao seu sucesso. O grupo de pesquisa “Fazendo a paz: do crime em massa à construção da paz ”, que dirigi no CERI com Béatrice Pouligny entre 2000 e 2002, foi um caldeirão intelectual particularmente estimulante. O apoio de Pierre Muller, que me encorajou a organizar um colóquio sobre “violência extrema” em novembro de 2001 no seio da Associação Francesa de Ciência Política, foi um grande incentivo, tendo este encontro sido rico em ensinamentos desde faz diálogo entre as disciplinas representadas - da qual °
este livro se beneficiou. O apoio de colegas que exercem responsabilidades importantes na pesquisa francesa em ciências sociais, como Patrick Michel no CNRS e Gérard Grunberg na Sciences-Po, também tem sido uma fonte essencial de reconhecimento para este trabalho, dandome ainda mais energia. para completá-lo. Não gostaria de esquecer nenhum colega estrangeiro, que se reuniu principalmente no âmbito da International Genocides Scholars Association, com quem discuti algumas das idéias defendidas.devido neste livro, em primeiro lugar Omer Bartov (Brown University), Frank Chalk (Concordia University, Montreal), Ben Kiernan (Yale University), Henry Huttenbach (City University de Nova York), Eric Markusen (Holocaust and Genocide Studies, Copenhagen ), Robert Melson (Purdue University). Para reunir a documentação que alimenta as muitas notas de rodapé, as pessoas me deram uma ajuda inestimável ao longo dos anos. Assim, minha gratidão vai particularmente para Michel Aubeneau, André Bourdalet, Dominik Bretteville, Mauricette Coret, Jamila Elkhiat, Elisabeth Hopkins, Serge Kovanyko, Bernard Vidon. Pela formatação e apresentação do texto, gostaria também de expressar minha gratidão a Caroline Longlet, Ronald Hato e Nathalie Tenenbaum. Em particular, Nathalie teve a formidável tarefa de me acompanhar na última fase da redação deste livro, tendo sido responsável pela leitura e releitura do texto, buscando e completando referências e melhorando sua apresentação. Sem sua preciosa e benevolente colaboração, este livro simplesmente não seria o que é. Por fim, para além do olhar que por vezes lhe peço para apoiar na minha escrita, os meus pensamentos mais profundos e calorosos vão para Lydie, que se encontra na situação particularmente difícil de "apoiar", dia a dia, no sentido inglês. Francês deste termo, um pesquisador apaixonado pelo conhecimento do ser humano e seus comportamentos extremos.
Introdução Compreendo ? Não sou judeu alemão, nem tutsi de Ruanda, nem muçulmano da Bósnia. Minhas próprias raízes estão certamente do lado da Vendéia. Mas a história das “Colunas Infernais” que massacraram os Chouans em revolta contra a Revolução Francesa não fazia parte do romance de minha família. Não estou escrevendo em nome de alguma História da Comunidade. Não pretendo assumir a postura desse historiador da justiça "encarregada da vingança do povo", brilhantemente retratada por Chateaubriand . Se dediquei vários anos ao assunto deste livro, foi como pesquisador , para ajudar a compreender o enigma dos genocídios. Também estou certo de que muitos de meus contemporâneos estão fazendo as mesmas perguntas: como isso pode acontecer? Como podemos acabar matando milhares, dezenas de milhares e até milhões de indivíduos indefesos? E por que, aliás, fazê-los sofrer, estuprá-los, martirizá-los antes de destruí-los? Sejamos realistas: às vezes podem residir em nós pensamentos vingativos em relação a isto ou aquilo, que consideramos nosso inimigo. E talvez cheguemos, quem sabe, ao ponto de sonhar em fazê-lo sofrer e até matá-lo. Mas, felizmente, essa intenção mortal vai parar por aí: no estado de fantasia. Então, o que acontece quando essa fantasia se transforma em realidade? Quando, aliás, não se trata apenas de cometer um homicídio, mas sim de um homicídio demassa? O pensamento vacila à beira de nossa própria barbárie. Sobre a Shoah, o cineasta Claude Lanzmann resumiu essas questões em um atalho contundente: “Entre o querer matar e o ato em si, existe um abismo . “É precisamente esse problema central de agir no abismo do genocídio que está no centro das análises neste livro; uma passagem ao ato apreendida não como impulso psíquico, mas sim como processo de balançar, particularmente complexo, entrelaçando dinâmicas coletivas e individuais, de natureza política, social, psicológica etc. Mas não é perigoso querer resolver esse enigma? Precisamos realmente tentar entender? Alguns duvidam, até temem. Acima de tudo, recomendam um trabalho de memória, mantendo vivos os testemunhos do sofrimento vivido pelas vítimas. Quer entender? Certamente não. Porque isso estaria então entrando na lógica dos algozes, mostrar que eles têm um rosto humano, achandoos circunstâncias atenuantes - enfim, acabando por desculpar seus crimes. Essa relutância não é sem fundamento. "Compreender não é perdoar", respondeu o historiador americano Christopher Browning no início de sua obra-prima sobre a evolução desses policiais alemães em Hamburgo que se tornaram os executores em massa dos judeus poloneses. “Desistir de entender os assassinos em termos humanos impossibilitaria não só este estudo, mas qualquer história da Shoah que não fosse uma caricatura ”, acrescenta. E para relembrar esta frase do historiador francês Marc Bloch, escrita pouco antes de ser executado pelo ocupante alemão: “Uma palavra, para ser honesto, domina e ilumina nossos estudos: entenda . Esse processo de compreensão também está enraizado na própria experiência do massacre, quando as vítimas se perguntam: “O que significa tudo isso? ", " Por que eu ? "," O que euassim feito? " Porém, mal chegou a Auschwitz, Primo Levi recebeu esta resposta contundente: “Aqui, não há porquê” (“Hier ist kein warum”) . É este primado de uma aparente inconsistência imposta pelos algozes que transforma a vontade de compreender também 1
2
3
4
5
em dever moral. Recusar-se a compreender seria reconhecer seu triunfo póstumo. Isso seria admitir que a inteligência para fazer o mal foi e definitivamente continua mais forte do que aquela que visa desvendar seus mistérios. Do ponto de vista ético, tal posição é insustentável. Em nome de todos aqueles que se perguntam: “Por quê? », Temos um dever de inteligência. Esta abordagem abrangente, longe de exonerar os tomadores de decisão e executores do massacre, além disso equivale a colocar a questão de sua própria responsabilidade nas mortes. Na verdade, não se pode considerar que estes sejam necessariamente e sempre "atuados" por fatores externos a eles próprios, que seus comportamentos destrutivos sejam assim completamente determinados, como se fossem simples marionetes. Com algumas exceções, também não podemos percebê-los como "loucos", porque, como veremos aqui, os algozes parecem terrivelmente normais. A questão é entender como eles chegaram lá e que significados (justificativas?) Eles dão aos seus compromissos. Em suma, é uma questão de saber como os indivíduos, imersos em uma dada situação social, vão interpretar essa situação e reagir a ela ... através do massacre. É em particular a abordagem da sociologia compreensiva de Max Weber que pode nos ajudar a fazer o estudo específico desses "atores-algozes": mais do que causas sociais objetivas, o que conta na análise de seu comportamento, é 'em primeiro lugar, o significado ou os sentidos que dão à sua ação. Vemos aqui a contribuição promissora da sociologia para a compreensão dos processos de balançar os indivíduos no massacre. No entanto, por muito tempo negligenciou esse campo de estudo, deixando-o para os historiadores. Em 1989, o sociólogo inglês de origem polonesa Zygmunt Bauman já havia insistido que a sociologia se deixasse desafiar por esse “objeto sujo”, na medida em que a própria história da Shoah provavelmente renovaria seus quadros de interpretação. . Mais amplamente, eudizer que além de sociologia são as ciências sociais têm de investir muito mais sistematicamente esse campo de pesquisa, como a destruição de populações civis é um fenômeno maciço no XX século, XXI aparência começando século já seguir o exemplo não. Seguindo tal perspectiva, este trabalho se baseia em um duplo desafio. O primeiro é o da comparação. O trabalho sobre o extermínio de judeus europeus ignora os estudos de genocídio em geral e, portanto, é essencial. No entanto, para avançar a reflexão nesta área, a análise comparativa é mais do que necessária: compreender é também comparar. A metodologia de comparação é uma das raras possibilidades oferecidas às ciências sociais para “testar” suas hipóteses, não podendo submetê-las a um protocolo experimental. Portanto, decidi acrescentar ao caso do Shoah o de Ruanda e da Bósnia no início dos anos 1990. Eu poderia ter escolhido outros. Infelizmente, há muitos exemplos - que, aliás, às vezes serão mencionados, como os dos armênios do Império Otomano ou do Camboja de Pol Pot. No entanto, esta pesquisa limitou-se a estes três casos para poder oferecer uma reflexão mais aprofundada; que já exigiu um esforço considerável para dominar suas histórias complexas . Em geral, os historiadores de fato trabalham durante um período específico em um país específico, que eles, portanto, conhecem perfeitamente bem. Mas aqui o leitor poderá acompanhar três histórias em paralelo, das quais mostraremos os caminhos, às vezes convergentes, na maioria das vezes diferentes. Porque a comparação obviamente não equivale a afirmar que os casos são equivalentes, masantes, em que, partindo de questões comuns, eles têm uma história singular. Comparar é diferenciar. No entanto, tivemos que nos referir a uma noção comum para conduzir nossa investigação. Obviamente, o termo "genocídio" imediatamente veio à mente, à medida que seu uso se tornou comum. Mas é precisamente o uso frequentemente abusivo dessa noção que tornou seu uso nas ciências sociais problemático, porque era muito vago. Embora o reconhecimento da natureza 6
º
7
th
genocida do extermínio de judeus europeus e tutsis ruandeses não fosse um problema, não foi o mesmo para a Bósnia, considerada por alguns como genocídio e por outros como uma forma de "Limpeza étnica". Mas foi então necessário ser retido desde o início por esses problemas de definição, sendo a ambição deste livro muito mais a de identificar melhor os processos de balançar nas formas de violência extrema? Incluir o caso da Bósnia era ainda mais interessante a este respeito, tendo em conta essas divergências. Rompendo com uma série de trabalhos anteriores, eu escolhi deliberadamente inverter a abordagem: em vez de lidar com a questão controversa da definição (ou definições de genocídio) no início do livro, preferi abordá-la a partir de o final, com base em todo o pensamento anterior. Essa escolha me pareceu ainda mais judiciosa, pois, à medida que a pesquisa avançava, percebi que o recurso à noção de "massacre" era suficiente como termo mínimo de referência, no máximo pequeno denominador comum. Proponho aqui uma definição empírica dela, de natureza sociológica, como forma de ação muitas vezes coletiva de destruição de não combatentes . Claro, pode-se objetar que isso não resolve a questão da definição de genocídio. A isso respondo que é precisamente um dos desafios deste livro avaliar melhor em que circunstâncias um massacre ou uma série de massacres podem evoluir para uma situação genocida. Esta abordagem levou-me, assim, a questionar a relevância desta noção de genocídio, objeto de toda instrumentalização hoje, ao fazer um exame crítico de quase todos os trabalhos sobre o assunto, desde a criação do termo em 1944. . O segundo desafio deste livro é o da multidisciplinaridade. Com efeito, o fenômeno do "massacre" parece em si tão complexo que exige necessariamente uma perspectiva multidisciplinar: não só a do historiador, mas também a do psicólogo, do antropólogo, etc. Nesse sentido, a obra que certamente mais me influenciou é aquela, já citada, de Christopher Browning. Se ele constrói seu livro como um “bom historiador”, analisando as operações de assassinato de judeus por policiais alemães, em uma bela cronologia, tendo o cuidado de interpretar a conduta desses homens em seu contexto específico, termina discutindo seu comportamento à luz de certas teorias psicológicas que podem lançar luz sobre sua compreensão. Esta abertura disciplinar, pensativa e matizada, dá à sua escrita uma certa profundidade. É nesta mesma perspectiva que queria seguir em frente, e me sentia tanto mais pronto para o exercício quanto por acaso adquiri com o tempo uma formação multidisciplinar, desde psicologia até ciência política, incluindo história contemporânea e sociologia da comunicação. No entanto, a dificuldade era conseguir uma escrita que não fosse muito "explodida" e obscura. Em suma, uma escrita que, embora profundamente inspirada por essas várias abordagens disciplinares, evita ser jargão, oferece um espaço comum de conhecimento e, no final, mantém o fio da coerência de uma história. Sobre este último ponto, o do "fio vermelho" da pesquisa, não há dúvida de que este trabalho enfoca a questão do poder sob um ângulo geralmente pouco analisado pela ciência política: o do poder de destruir. Porém, quanto mais avançava na redação destas páginas, mais tinha em mente a obra de Michel Foucault ao mostrar que todo poder busca deixar sua marca nos corpos ou que, ao mesmo tempo, Por outro lado, o corpo é o receptáculo privilegiado da vontade de poder. Sabemos que Surveiller et Punir começa com a execução pública de Damiens in Place de Grève, em 2 de março de 1757, condenado à morte, no final de incríveis torturas, por ter tentado a vida do Rei da França . Esta encenação altamente ritualizada de sofrimento corporal, Foucault nos diz, visa restaurar dramaticamente a integridadedo poder real, momentaneamente ferido pelo gesto do criminoso. Inspirado em parte por essa abordagem, eu argumentaria que o ato de massacre constitui a prática mais espetacular à disposição de uma potência para afirmar sua transcendência, marcando, 8
9
martirizando, destruindo os corpos daqueles que designa como seus inimigos. No entanto, meu objeto de estudo aqui não foi a tortura de um único indivíduo, mas o massacre de centenas, milhares, até mesmo dezenas de milhares de pessoas, se não muitos mais. Claramente, o poder político, que é o tema deste livro, não parecem semelhantes aos do XVII e XVIII séculos, analisado por Foucault. Se ele se interessou primeiro por um poder que tortura o corpo para inspirar respeito e distância, ele então mostrou como esse poder, no século seguinte, tendeu a suavizar-se com a invenção de novas ortopedia dos disciplina, para garantir a docilidade dos homens, corpo e alma. Por outro lado, o que tentei analisar aqui são poderes que, não estando mais satisfeitos com este controle social, não hesitam em destruir os corpos em número, em massa, contando para isso com retóricas que vêm da imaginação e do sagrado. Se, portanto, Foucault descreveu um Estado que encerra e controla, o objetivo destas páginas é entender como os Estados podem, em certas circunstâncias, estimular, organizar, colocar em movimento o que se poderia chamar de práticas políticas de "purificação" e destruição do "corpo social"; práticas já observáveis no XIX século, com a ascensão do nacionalismo, mas experimentando um boom no XX século. Será necessário acrescentar que este poder de purificar e destruir, mesmo que nos acreditemos preparados para apreendê-lo com todos os fios do conhecimento multidisciplinar, guarda, no entanto, um aspecto surpreendente? Esse problema não pode ser evitado: os esforços do pesquisador para compreender podem ser paralisados pela natureza assustadora de seu objeto. Sem dúvida, ele será apontado que ele deve ter sabido o que esperar ... Mas quem pode realmente estar preparado para o choque do conto de crueldade, em sua nudez aterradora? Tanto mais que o estudo do comportamento dos algozes encoraja inexoravelmente o pesquisador a fazer-se esta pergunta pessoal, para dizer o menos perturbadora: "O que eu teria feito se estivesse no lugar deles? Então, é verdade, a emoção pode paralisar o pensamento. Com o tempo, o pesquisador acaba voltando aos seus sentidos, às suas distâncias. Mas ele adquiriu a forte convicção de que seu trabalho, nas fronteiras do humano e do desumano,não é isento de riscos para si. É precisamente uma exploração a extremos, que dá vida à sua sensibilidade, susceptível de lhe provocar atitudes igualmente extremas, de rejeição ou paixão. Claro, dizer que o genocídio é "impensável" parece-me hoje o grande clichê de qualquer discurso consensual sobre o assunto. Claro que o genocídio é pensável - pensável demais, infelizmente. Ao descobrir a riqueza e a profundidade das obras aqui apresentadas e discutidas, não se pode duvidar dos esforços que já foram feitos para compreendê-la. Porém, a monstruosidade dos atos em geral associados ao massacre suscita, é verdade, horror e repulsa e, portanto, a compreensível recusa de detê-los, portanto de pensá-los. Tudo então se passa como se quanto mais o pesquisador se aproxima do cerne fundamental da crueldade humana, mais se vê diante de uma espécie de "buraco negro", refratário a todo conhecimento intelectual. Basta dizer que esse universo aparentemente insondável exigirá repetidas vezes novas pesquisas, pois o comportamento dos homens nessas circunstâncias é realmente espantoso. Isso também significa que o pesquisador deve mostrar modéstia em suas interpretações e estar sempre pronto para voltar ao trabalho. Convido, pois, o leitor a seguir-me por estes caminhos tortuosos que conduzem o homem da paz à barbárie. Não quero brincar com as cordas da crueldade e do voyeurismo para prender sua atenção. Já existem muitos filmes e livros que exploram essas inclinações ambíguas. Claro, não serei capaz de evitar certos fatos que especialmente não deveriam ser ocultados. Mas não se trata aqui de encená-los, de construir uma estética do horror. Não, eu preferia deixar a nu - frio - os processos que podem levar à destrutividade em massa humana. Faremos assim uma espécie de viagem; vamos partir de países que poderiam ser nossos. Eles não estão em guerra (ainda?), Mas th
th
th
º
sua situação interna tende a se deteriorar. Neste contexto cada vez mais crítico, o discurso de ódio está começando a se espalhar. Então, sem que o percebamos, o mundo muda: um povo se torna o algoz de outro ... a menos que também seja parte dele mesmo. Então tudo se torna possível. Quanto ao leitor que vive num país onde já reina a violência, onde o Estado não garante realmente a segurança dos seus membros, até mesmo designa alguns deles como seus inimigos, espero que também encontre algum interesse em ler estas páginas. O que está descrito aqui, ele já pode vivê-lo ou ter vivido; para que ele pudesse falar sobre isso melhor do que eu. Mas talvez ele descubra algo novo por meio desse trabalho de comparação entre países muito diferentes. Às vezes, é tomando consciência da desgraça alheia que passamos a compreender, um pouco melhor e sob uma luz diferente, nossa própria condição. 1. “Quando, no silêncio da abjeção, se ouve apenas a corrente do escravo e o caminho do informante, quando tudo treme diante do tirano e é tão perigoso incorrer em seu favor quanto merece sua desgraça, o historiador parece acusado de vingança do povo. Foi em vão que Nero prosperou, Tácito já nascera no império ”, François René de Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tomb , Paris, Gallimard, 1990. 2. Claude Lanzmann, “Os não-lugares da memória”, Nouvelle Revue de psychanalyse , n ° 33, 1986, p. 20 3. Christopher R. Browning, Ordinary Men. A 101 ª reserva batalhão da polícia alemã e a Solução Final na Polônia , traduzido do Inglês por Elias Barnavi, Paris, Les Belles Lettres de 1994. 9 4. Marc Bloch, Apologie pour l'Histoire ou Métier d'historien , Paris, Armand Colin, 1974. Citado por Christopher R. Browning, Ordinary men , op. cit. , p. 9 5. Primo Levi, Si c'est un homme (1958), Paris, Julliard, 1988, p. 29 6. Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust , Cambridge, Polity Press, 1989. A tradução francesa (aproximada) é: Modernité et Holocauste , Paris, La Fabrique, 2002. 7. E, novamente, não pretendo ter adquirido a erudição de colegas especializados na história de cada um desses casos. Beneficiei-me muito de seus conselhos e comentários e é por isso que queria agradecê-los no início deste livro. Observe, entretanto, a lacuna de conhecimento historiográfico entre o caso da Alemanha nazista, de um lado, e os de Ruanda e da Bósnia, do outro. A pesquisa sobre a perseguição e subsequente extermínio de judeus rendeu milhares de livros e artigos, enquanto, dez anos depois do fato, o trabalho sobre os massacres na Bósnia e em Ruanda ainda não amadureceu totalmente. . Isso resulta em debates muitas vezes apaixonados entre pesquisadores, em relação aos quais tentei me colocar de lado. No entanto, isso não me impediu de afirmar minhas próprias análises com base nos conhecimentos adquiridos e abordagens comparativas. 8. Com relação a esses problemas de definição e comparação, consulte o último capítulo deste livro e seu apêndice II. 9. Michel Foucault, Monitor and Punish. Nascimento da prisão , Paris, Gallimard, 1975.
CAPÍTULO I Imaginários de destrutividade social "Massacre"? A palavra evoca a pura barbárie do ser humano: sangue jorrando de todos os lados, atrocidades incríveis, corpos explodindo ... No entanto, gostaria de defender aqui a ideia de que o massacre provém sobretudo de uma operação de espírito: uma forma de ver um "Outro", de estigmatizá-lo, de rebaixá-lo, de aniquilá-lo antes mesmo de matá-lo. O amadurecimento desse processo mental sempre complexo geralmente leva tempo. Mas também pode experimentar uma aceleração impressionante, especialmente quando a guerra está em andamento. Quem vive hoje em um país pacífico tem dificuldade em imaginar a realidade, a materialidade de tal tragédia. É sempre a eterna questão: como isso é possível? Como os seres humanos podem se transformar em algozes de seus semelhantes? Porém, se nosso país afundasse em uma crise econômica cada vez mais grave, com sua sinistra procissão de milhões de desempregados, se fosse assediado por ataques terroristas em números cada vez mais mortais, ficaríamos muito tempo ilesos? esta forma de pensar? Teríamos que encontrar inimigos, não apenas fora de nossas fronteiras, mas também dentro e - quem sabe? - onde vivemos: na nossa cidade ou aldeia, na nossa rua, no nosso edifício. Porque é minha convicção profunda, ou melhor, a conclusão a que chego depois de anos de pesquisas: nenhuma sociedade está imune a tais processos assim que começa a se desintegrar. As dinâmicas sociais que podem levar à “limpeza étnica” e ao genocídio estão, aliás, latentes nos playgrounds de nossas escolas ou nos bairros de nossas cidades. Eu nem estou falando sobre aqueles grafites sinistros - "Judeus Sujos" ou "Árabes Sujos"- que mãos hostis escrevem anonimamente aqui em uma caixa de correio, ali em um outdoor ou em uma escada. Já são a expressão odiosa da rejeição de um “Outro” por indivíduos ou grupos racistas, mesmo dentro de nossas democracias supostamente tolerantes. Mas as crianças já não têm prazer em usar uma "cara de turco" de vez em quando como bode expiatório? Um pouco mais tarde, os jovens não tendem a constituir-se em "clãs", em bandos, com este forte sentimento de pertença: "nós" contra "eles"? E nossas aspirações religiosas não estão baseadas em uma busca fundamental de pureza contra um mundo percebido como impuro? A lógica da violência que levou ao massacre está baseada em tudo isso: a designação de bodes expiatórios, a radicalidade do antagonismo amigo / inimigo e, mais ainda, o assassinato como ato purificador. O massacre certamente sempre assume uma forma específica, por meio de uma cultura e de um conflito que o preforma. Mas também tem um fundo de universalidade que é específico para nossa humanidade comum. Felizmente, existe um longo caminho entre a ideia e o ato. São necessários muitos desvios sinuosos, convoluções sociais complexas, circunstâncias políticas favoráveis para que o massacre ocorra. Mas está sempre lá, em linhas pontilhadas, como o futuro do homem, seu possível fim.
Leads falsos Vamos começar limpando o terreno, eliminando pistas falsas. O perigo é, em particular, privilegiar um fator entre outros, seja ele relacionado à economia, demografia ou cultura. Às vezes ouvimos dizer que os massacres estão ligados à pobreza endêmica de alguns países. Essa velha tese da relação entre violência e pobreza certamente tem uma base de verdade, na medida em que uma grave crise econômica pode desestabilizar profundamente um sistema social. No entanto, não é a miséria que em si é a causa da violência em massa, ou mesmo do genocídio. Considerando a quantidade de pessoas que hoje vivem abaixo da linha da pobreza, devemos nos surpreender que eles não se massacrem! Deveríamos antes buscar uma explicação na superpopulação experimentada por certos países? Algumas pessoas avançam o que chamam de "teoria da gaiola": quando muitos coelhos sãointroduzidos no mesmo recinto, eles começam a se matar para ter mais espaço vital. Seria o mesmo para os homens. Essa abordagem sociobiológica, que tende a assimilar o comportamento dos seres humanos aos dos animais, é altamente discutível. Ninguém jamais foi capaz de demonstrar que a superpopulação humana necessariamente leva ao massacre. De onde viria então a grande tranquilidade que hoje reina na pequena Holanda, cuja densidade demográfica é uma das mais altas do mundo? Certamente, o peso do fator demográfico não deve ser negligenciado, tendo o polemologista francês Gaston Bouthoul se referindo à guerra como um "infanticídio diferido ". Sabemos também que o subdesenvolvimento favorece a natalidade e que essa proliferação de nascimentos pode ser percebida como uma ameaça por um grupo vizinho, numericamente minoritário. Este fenômeno pode ser visto no caso de Kosovo, esta pobre província da exIugoslávia onde 10% dos sérvios vivem ao lado de 90% dos albaneses. Este diferencial estatístico contribuirá para induzir dentro da minoria sérvia, preocupada com o seu futuro, relatos de desconfiança e hostilidade para com a maioria albanesa. Assim, a percepção hostil de um grupo por outro baseia-se, neste caso, na realidade de um desequilíbrio demográfico. Mas tal raciocínio não pode ser aplicado à Alemanha na década de 1920. Na verdade, não vemos como a muito pequena minoria judaica neste país (520.000 pessoas, ou 0,76% da população total ) ameaçou demograficamente a esmagadora maioria dos alemães não judeus. Nesse caso, as estatísticas dificilmente podem ajudar a entender o surgimento do anti-semitismo. Devemos então buscar a causa dos massacres em uma particularidade cultural de tal e tal povo? Às vezes, argumenta-se que os africanos ou asiáticos tendem a se matar muito mais do que os povos “civilizados brancos”. As guerras em torno da região dos Grandes Lagos na África (Burundi, Ruanda, República Democrática do Congo) ou os distúrbios intercomunitários na Índia ou Indonésia seriam a prova da selvageria desses povos. Mas esquecemos a pesada história dos europeus com a intenção de conquistar outros continentes,esmagando as populações rebeldes, se necessário? E a dos colonos ingleses se apoderando das terras da América do Norte às custas dos índios? E, em 1941, eram também europeus, aqueles alemães que, nos dias 29 e 30 de agosto, executaram, em Babi-Yar, 33.371 judeus ucranianos de Kiev (homens, mulheres e crianças). Esquecemos também as dezenas de milhares de mortes e as atrocidades das guerras civis na Espanha (1936-1939) e na Grécia (1943-1949)? E ainda foram europeus que massacraram outros europeus em Srebrenica em julho de 1995, onde os sérvios bósnios do general Mladic executaram cerca de 8.000 muçulmanos bósnios (a maioria homens). Realmente, nesta Europa que hoje quer ser pacífica e pacificada, portadora do ideal dos direitos humanos, temos grande dificuldade em 1
2
nos percebermos como "selvagens", enquanto a "barbárie" de que nós fomos capazes de demonstrar que não cede ao de outros povos em outros continentes. “O bárbaro é antes de tudo aquele que acredita na barbárie ”, observou com razão Claude Lévi-Strauss. Abandonemos, portanto, qualquer abordagem culturalista que apresentasse tal ou tal povo, por causa de sua cultura, como predestinado a cometer massacres. “Cultura” não é um dado imutável, mas uma construção dinâmica, sujeita a muitas transformações. O cientista político JeanFrançois Bayart propôs, neste sentido, uma crítica relevante a essas "ilusões de identidade ". Certamente, os mitos culturais violentos estão frequentemente associados à história dos povos. Mas isso não significa que esses povos cairão necessariamente na selvajaria. Por outro lado, esses mitos podem ser explorados pelas próprias pessoas que clamam por um salto vingativo contra um inimigo designado. Portanto, a ideia de que algum tipo de fatalidade histórica teria inscrito o massacre no destino de países como a Bósnia e Ruanda com antecedência é insustentável. Tudo acabaria sendo explicado pelo choque do ódio ancestral, religioso ou étnico. Esta tese dita “primordialista” interpreta o desenvolvimento e manutenção de relações hostis entre grupos por causa de suas diferentes identidades religiosas ou étnicas. Ela apresenta seus relacionamentos como irreconciliáveis porque se baseiam em percepções afetivas irracionais de desconfiança.e exclusão recíproca . Os sentimentos identitários próprios desses grupos, fortemente ancorados em suas histórias, levariam necessariamente ao seu enfrentamento e, portanto, à violência e aos massacres. Mas uma série de trabalhos empíricos mostra que a heterogeneidade étnica ou religiosa não leva inevitavelmente à violência. Como observa o historiador inglês Marc Levene, “antipatias étnicas ou culturais podem existir sem nunca levar ao massacre ” . É claro que tensões étnicas ou religiosas às vezes levam a distúrbios que, para o observador externo, parecem espontâneos. Mas os estudos sistemáticos que o cientista político norte-americano Donald Horowitz dedicou a eles mostram claramente que, se uma faísca pode servir de "catalisador", tais distúrbios só assumem escala real se os líderes os organizarem, mesmo às vezes de forma dissimulada. , o apoio de determinados órgãos do Estado (polícia ou exército). Em outras palavras, a identificação de tensões históricas, étnicas ou religiosas em uma determinada região provavelmente não explica por que, quando e como ocorrem os massacres. Os grupos podem experimentar tensões e conflitos uns com os outros sem se matar: não há relação direta de causa e efeito. Pode-se então pensar que o processo que leva ao massacre resulta não de uma dessas chamadas "causas", mas sim de sua acumulação. A intuição não está errada. Porque, muitas vezes, podemos observar em um país que conheceu tais eventos uma situação econômica desastrosa, grandes desigualdades sociais, uma tendência à superpopulação ou um influxo de imigrantes percebidos como estrangeiros, tensões étnicas ou religiosas, etc. No entanto, essa conjunção de causas "objetivas" ainda está longe de levar inevitavelmente ao massacre. É, evidentemente, uma situação favorável ao desenvolvimento da violência contra tal e tal grupo, contra a qual preconceitos negativos, mesmo atitudes racistas, poderiam existir. Mas é preciso também que, nesse contexto, os formadores de opinião, sejam eles detentores do poder político ou não, façam uma leitura dessa situação e afirmem: “Aqui está o que nos acontece, aqui é quem é o responsável pelo nosso infortúnio. São “eles” que são a causa denosso sofrimento. É absolutamente necessário nos livrarmos disso. Prometemos que tudo ficará melhor depois. Você só tem que nos apoiar, mais: junte-se a nós, para que acabemos com essa praga. É realmente esse tipo de discurso que pode iniciar a eclosão da violência em massa e acompanhá-la. Então é aí que este livro realmente começa. 3
4
5
6
O poder da imaginação O que a Alemanha da década de 1930, a Iugoslávia do final da década de 1980 ou Ruanda do início da década de 1990 poderiam ter em comum? O primeiro é um grande país industrial “civilizado”, que perdeu na Primeira Guerra Mundial e experimentou uma instabilidade política significativa nos anos que se seguiram. A revolução bolchevique de 1917 na Rússia, uma esperança formidável de mudança para alguns, também contribuiu para alimentar um forte medo do comunismo, que os partidos de direita e extrema direita se comprometeram a explorar. O segundo entrou em um período de incerteza política desde a morte, em 1980, de seu fundador, Josip Broz, mais conhecido como Tito; que teve sucesso no tour de force, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, de construir um estado federal baseado na união de diferentes nacionalidades (sérvia, croata, eslovena, etc.). Um tour de force em sentido estrito, aliás, uma vez que Tito não hesitou, no final da guerra, em que seus adversários, reais ou suspeitos, fossem executados, sendo hoje os massacres de Bleiburg e Kosevje os mais famoso . No entanto, o vácuo causado pelo seu desaparecimento em 1980 tende a reviver, especialmente na Sérvia e na Croácia, um nacionalismo que o mito da "fraternidade comunista" nunca conseguiu eliminar por completo. Em Ruanda, um país predominantemente agrícola e pós-colonial (que caiu sob o domínio dos alemães, depois dos belgas), a situação piorou fortemente entre os hutus, no comando do estado, e a minoria tutsi. Em 1959, no contexto geral da descolonização da África, os hutus tomaram o poder e massacraram parte dos tutsis, causando a fuga de um grande número.deles para países fronteiriços (Burundi e Uganda). Crises políticas espelhadas se seguiram entre Burundi, liderada por tutsis, e Ruanda, liderada por hutus, combinada com crises internas específicas de cada um desses países. A partir de 1990, o futuro se tornou ainda mais preocupante para os hutu de Ruanda quando um exército tutsi, a Frente Patriótica de Ruanda (FPR), composta principalmente por filhos dos exilados de 1959, tentou entrar no país. Território ruandês com a intenção óbvia de tomar o poder, que os pais destes combatentes foram obrigados a abandonar trinta anos antes. Nestes três países, existe uma grave crise econômica que, além de privar muitas pessoas de acesso a emprego e renda, aumenta a ansiedade por um futuro incerto. Não há necessidade de voltar aqui ao drama da crise de 1929, com seus milhões de desempregados, cujos efeitos foram particularmente desastrosos na Alemanha. A crise iugoslava dos anos 1980, no contexto de sucessivos “choques do petróleo”, é, sem dúvida, menos conhecida. No entanto, é muito grave, pois o padrão de vida cai em pelo menos 30%. Um observador americano, Harold Lydall, comenta a esse respeito: “O declínio econômico [é] tal que é difícil imaginar outro país que não teria reagido a esta situação por mudanças políticas radicais ou mesmo por uma revolução. . »Em Ruanda, a partir da década de 1980, a produção agrícola não conseguia mais acompanhar a curva demográfica, sendo este o país com a maior densidade populacional do continente africano . Situações de fome, mesmo fome, aparecem. “Já em 1989”, observa a antropóloga belga Danielle de Lame, “os camponeses descreveram sua situação como apocalíptica [...]. A última safra satisfatória de café (principal fonte de renda) foi em 1987 e o preço mundial caiu na mesma época . »Uma massa considerável de jovens (mais de 57% depopulação) tem então menos de 20 anos; não possuindo terras e tendo poucas esperanças de adquiri-las, eles sobrevivem, sem empregos, sem escoamento. Como então acreditar no futuro? A quem recorrer? Em uma situação em que as velhas referências parecem estar desmoronando, onde as ameaças estão se tornando cada vez mais angustiantes, como as elites no poder podem reagir? Com uma 7
8
9
10
reforma econômica ousada? Por novas medidas administrativas? Por meio de um programa de cooperação internacional? Todas essas provisões técnicas ou outros planos de resgate não parecem estar à altura das apostas. Pois é a "alma" do povo que, em tais circunstâncias, parece afetada, confusa, paralisada. Quando uma pessoa sofre um choque violento ou estresse intenso, um estado traumático é muitas vezes perceptível. Por extensão, podemos falar de “trauma coletivo” para uma nação ou comunidade cuja identidade parece profundamente alterada pela crise ou crises que a cercam. Os marcos fundamentais desta coletividade, que levam seus membros a dizerem "nós, os alemães" ou "nós, os hutus", parecem desestabilizados. São os fundamentos imaginários de suas instituições, para usar a terminologia de Cornelius Castoriadis, que entraram em crise. Esse imaginário, que dá sentido ao que vivenciam, ao que os faz estar juntos, está situado para além de qualquer regulamentação técnica. Mas agora esse imaginário coletivo, que fazia as pessoas dizerem "nós", parece não funcionar mais. O “nós” torna-se reclamação, lágrima, sofrimento. Quem conseguirá tirá-lo deste estado de crise e oferecer-lhe uma nova perspectiva? Serão justamente os atores sociais e políticos que, por meio de seu discurso e de sua ação, saberão lidar com as emoções coletivas associadas a esse trauma em massa. São, de facto, os mais bem colocados para se fazerem ouvir pelo público, sendo a sua atitude perante a opinião pública acima de tudo emocional. Dir-se-á deles que “sabem falar ao povo” por meio de metáforas e símbolos que têm uma forte ressonância cultural com a sua história. Da mesma forma, para enfrentar uma situação percebida como ameaça e caos, respondem ao imaginário em crise com outro imaginário que reestrutura o anterior em novas bases. É claro que sua ascensão sobre a opinião pública nunca está garantida: outros atores políticos e sociais, em competição com eles, podem defender visões de futuro completamente diferentes. Este último vai denunciar, por exemplo, o stususpeita demagogia de precedentes. O resultado é que ambos estão necessariamente em conflito e o resultado é incerto. Os actores que sabem jogar nesta corda da imaginação dão-se de qualquer forma uma arma poderosa que lhes permite contemplar a conquista do poder. A primeira mola de sua retórica imaginária consiste em transformar a angústia coletiva, que mais ou menos se espalhou na população, em um sentimento de intenso medo em relação a um inimigo do qual representarão toda a periculosidade. A angústia e o medo não são, de fato, da mesma natureza. A característica da ansiedade é ser difusa, mesmo evasiva, enquanto as causas do medo são mais identificáveis e, portanto, identificáveis. Tudo se passa como se se tratasse então de "coagular" esta angústia sobre um "inimigo", a quem damos uma "figura" concreta e cuja malignidade é denunciada na própria sociedade. Os discursos mais radicais apresentam essas figuras do inimigo como necessariamente assustadoras, até diabólicas. Portanto, mesmo antes de Hitler chegar ao poder, caricaturas da figura maligna do “judeu” já circulavam há muito tempo. Em Ruanda, antes do genocídio, o mesmo acontecia com os "tutsis", e na década de 1980, antes de Milosevic chegar ao poder, circularam rumores entre os sérvios de Kosovo de que os albaneses simplesmente queriam para cometer um "novo genocídio" contra eles. Essa tentativa de canalizar a angústia por um inimigo claramente identificável já é uma forma de responder ao trauma da população: explicamos a eles de onde vem a ameaça. A partir dessa “transmutação” da angústia latente em medo concentrado em uma “figura” hostil, desenvolve-se o ódio contra esse “Outro” maligno. O ódio não é aqui um dado básico, que definiria primeiro as relações “naturais” entre os grupos. É antes uma paixão construída, produzida ao mesmo tempo por uma ação voluntária de seus fanáticos e por circunstâncias que favorecem sua propagação. No final das contas, o resultado lógico e formidável dessa dinâmica - da ansiedade ao ódio - inevitavelmente equivale a fazer surgir em uma sociedade o desejo de destruir o que é designado como a causa do medo. É certo que ainda
se trata apenas de um “desejo”: ficamos bem no registro do imaginário. Mas é um imaginário de morte. Esta operação traz benefícios óbvios para quem toma a iniciativa. Não percamos de vista, de fato, a finalidade desse processo socioafetivo: tratar o sofredor “nós”, refazê-lo.ner, de modo a ajudá-lo a sair do estado de crise. Focar a atenção em um "inimigo a ser destruído" é procurar se reconstruir às custas desse perigoso "Outro". Para além do medo e do ódio surge, pois, uma fantasia da onipotência deste “nós” triunfante: é pela destruição “deles” que ele se regenera. A morte dos maus “eles” torna possível a onipotência do “nós”. Essa postura psicológica parece "primária", arcaica. É de fato. Ainda estamos aqui na imaginação, mas, ao contrário da anterior, uma imaginação de onipotência e glória. Ambos estão inextricavelmente ligados. Ambos podem ser terrivelmente eficazes porque tocam nos próprios fundamentos da psique humana, como explica a psicanálise, por exemplo. Fantasias destrutivas Podemos usar essa “disciplina” para entender o fenômeno da violência extrema? Se assim for, sob que condições? As correntes do pensamento psicanalítico são múltiplas e às vezes contraditórias. Certos historiadores e sociólogos, não sem razão, são hostis a qualquer tentativa de encontrar alimento para o pensamento. Além disso, o risco é sempre "psicologizar" ou "psiquiatria" o comportamento dos atores históricos, enquanto as análises políticas parecem muito mais relevantes para compreender seu comportamento. Mas por que se privar completamente do olhar da psicologia, ou mesmo da psicanálise, para se aprofundar na compreensão de fenômenos muitas vezes aberrantes, quando o historiador, o sociólogo, o cientista político parecem impotentes para explicá-lo? Significativa a este respeito é a própria construção do trabalho pioneiro e contundente de Norman Cohn sobre as raízes do anti-semitismo: após uma brilhante análise do mito dos Protocolos dos Sábios de Sião , ele conclui seu ensaio oferecendo uma interpretação pelo “Psicopatologia coletiva” (expressão que Sigmund Freud certamente não negaria). Nesse sentido, o ponto culminante da pesquisa de Norman Cohn é, por assim dizer, o ponto de partida deste livro. No entanto, digamos logo de início, a contribuição do fundador da psicanálise para a compreensão da violência é decepcionante. Freud viu a agressão pela primeira vez como relacionada à sexualidade (por exemplo, no sadomasoquismo). Então, após a Primeira Guerra Mundial, ele fez da agressividade o componente de uma "pulsão de morte" cujo objetivo é separar tudo o que a libido uniu, para reduzir a zero toda tensão pulsional. Esta “pulsão de morte”, de origem biológica, incitaria o homem a destruir-se, ou a destruir os outros, sem muito poder fazer para escapar a este trágico destino. Por falta de provas, essa teoria freudiana continua sendo um postulado considerado com cautela, inclusive entre os psicanalistas. O raciocínio freudiano, de fato, apresenta-se como um belo exemplo de pseudo-explicação, visto que, para a pergunta: "Por que o homem tende a destruir a si mesmo?" ", Ele responde com simplicidade desarmante:" Porque ele é animado por um impulso de destruição! Em sua famosa correspondência com Albert Einstein, que lhe fez a seguinte pergunta em 1932: “Por que a guerra? Freud parece estar ciente dos limites de sua abordagem nessa área . É certo que, apenas um ano antes da ascensão de Hitler ao poder, ele tinha uma visão clara: ele expressou seu profundo pessimismo sobre a determinação dos homens em prevenir sua violência coletiva, inclusive por meio da lei, acreditando muito mais do que agora têm a capacidade de se exterminar. Em seguida, Freud reformula para o ilustre físico 11
12
sua teoria da pulsão de destruição, que ele considera que muito pouca atenção é dada a ela. No entanto, no final da carta, manifesta o seu próprio descontentamento com as explicações que acaba de lhe dar: “Peço desculpa se as minhas observações o desapontaram. Na verdade, o fundador da psicanálise pouco explorou a questão da agressividade e menos ainda a da violência coletiva. Ele se estabeleceu como o pensador da sexualidade humana, não como o pensador da violência ou da guerra. Por outro lado, outros, a seguir a ele, estudaram essa questão da agressão mais especificamente, como a psicanalista inglesa Melanie Klein, que se esforçou para detectar sua existência em crianças. Segundo ela, de fato, a gênese da agressão está nos conflitos primitivos da primeira infância e em suas fantasias destrutivas.tor . Assim, ela devotou grande parte de seu trabalho ao estudo da "imaginação feroz" da criança, às suas fantasias arcaicas de devoração e onipotência, rompendo com o mito da inocência infantil. . Segundo ela, o imaginário infantil é feito de amor e ódio de uma mãe que amamenta ora, ora recusa . Essas primeiras sensações estariam, portanto, na base de nossa percepção primária de bom e mau, bom e mau, amigo e inimigo. Estendendo a abordagem de Melanie Klein, o psicanalista italiano Franco Fornari, em uma obra poderosa, mas não reconhecida, tentou lançar as bases psicológicas para uma interpretação da guerra. Analisando a correspondência Freud-Einstein, ele também reconhece que é "difícil não sentir alguma decepção ao ler a resposta de Freud, embora haja uma certa tendência a remover toda a ilusão dos homens, destacando o aspecto escondido e perturbador que está na base da construção dos valores está perfeitamente no seu estilo ”. É nas obras de Melanie Klein que Fornari encontra sua inspiração para pensar a guerra. Ele toma emprestado dela a distinção entre "posição paranóica" e "posição depressiva", que se desenvolvem, desde os primeiros meses de vida, a partir da separação entre mães boas e mães ruins. Na posição depressiva, a criança “preocupa-se em salvar o objeto amado pelo qual sente que está vivendo a ponto de se sacrificar por amor a esse objeto. Na posição paranóica, ao contrário, o bebê se preocupa em salvar o Eu destruindo o objeto pelo qual se sente destruído ”. A posição paranóica é anterior à posição depressiva. Mas o últimodesempenha papel fundamental, pois faz com que a criança sinta, pela primeira vez, o sentimento de culpa que surge do desejo de matar o objeto de amor. Fornari atribui a essa fase depressiva a mesma importância de Melanie Klein. Ele vê isso como a origem da civilização, porque o sentimento de culpa introduz uma lei que proíbe o assassinato. Mas embora esse "organizador psicológico" seja eficaz para inibir a violência individual, ele não evita a guerra. Segundo Fornari, a guerra é um processo paranóico por excelência, pois acreditamos que é matando o inimigo que sobreviveremos: “O sujeito percebe o objeto como uma ameaça à sua própria existência, uma ameaça em si e para si mesmo ilusório, mas psicologicamente real . A violência paranóica que se desenrola na guerra é a típica ilusão psicótica: ao matar o "Outro" inimigo, o sujeito acredita que está vencendo a morte. Em suma, a posição paranóica se resume a esta equação elementar : SUA MORTE, C'EST MY VIE . Para Fornari, a guerra é, portanto, antes de tudo, um fenômeno imaginário ligado às fantasias destrutivas da primeira infância, porque precisamente, durante o desenvolvimento emocional do bebê, a posição paranóica precede a ameaça real de um inimigo real. Como demonstrou o psicólogo americano René Spitz, a criança de 8 meses projeta ilusoriamente intencionalidade agressiva sobre o desconhecido - o estrangeiro -, tendo-o como inimigo sem que este jamais demonstre uma atitude hostil concreta. É por isso que Franco Fornari não hesita em escrever: “Podemos dizer que as sociedades são, em relação à guerra, condicionadas do ponto de vista psicológico a situar-se ao nível da angústia de um filho de 8 meses . " 13
14
15
16
17
18
Porém, por meio de representações hostis, como as do "judeu" ou dos "tutsis", não vemos precisamente o estabelecimento de um mecanismo regressivo dessa natureza contra um inimigo interno? Nestes momentos de crise profunda, em que a história louca de um país parece ir à tona e ao dia, assoma a possível regressão coletiva a esse conflito arcaico. Na verdade, tais circunstâncias levam os indivíduos a transgredir a posição depressiva que os abriu para o processo de civilização. Assaltados pela angústia, convencidos de não mais controlar seu destino, são atraídos a querer extrair dissooutra é sua cara feia, que eles percebem como responsável por seu sofrimento. Assim, eles tendem a retornar ao estágio deste conflito primário; conflito poderoso, pois "fala" com todos, tendo contribuído para a construção da personalidade de cada um. Esse mecanismo de defesa arcaico visa concretamente separar-se do objeto social ruim - às vezes destruindo-o - para restaurar a posição de onipotência primária da primeira infância. Por meio dessa tentativa de redescobrir a onipotência do “eu” de forma paranóica, os indivíduos “percorrem” o caminho de sua evolução psíquica na direção oposta: vivenciam um processo de descivilização . Os discursos políticos geralmente qualificados de "extremistas" são também aqueles que aparecem, do ponto de vista psicológico, como os mais regressivos. Eles se valem dessa matriz da imaginação infantil para “ler” e interpretar as realidades da crise. Alimentam-se do caos da sociedade, esteja ou não em guerra, para dizer: “Vejam como temos razão! Nesse sentido, as relações entre o imaginário e o real são apenas aparentemente contraditórias. Claro, é nas representações imaginárias do carrasco que a figura da vítima, de "sua" vítima, é construída pela primeira vez. Assim, a ideologia dos extremistas Hutu em Ruanda é primeiro baseada em estereótipos negativos dos Tutsi (arrogantes, dominadores, estrangeiros, espertos, etc.), enraizando-se em representações coloniais que descreveram a suposta superioridade de a "corrida tutsi". Conforme observado pelos canadenses Frank Chalk e Kurt Jonassohn, é pela primeira vez no olhar de um torturador que o "Outro" toma forma de inimigo para destruir . O bom senso metodológico, portanto, requer que nos concentremos principalmente neste imaginário, sua estrutura e seus temas fundamentais - a fim de compreender a forma como o processo de violência em massa começa. Este é precisamente o objetivo deste primeiro capítulo. 19
20
Entre imaginação e realidade: o papel da ideologia Mas atenção: isso não significa que a identidade das vítimas seja puramente fantasmagórica. Com efeito, ao querer apreender estes fenômenos apenas com a imaginação, pode-se chegar a acreditar que tudo é "ilusão" e que as próprias vítimas não têm "realidade". Eles são muito reais: os nazistas não inventaram os judeus, que têm uma história milenar, tradições religiosas e comunitárias, etc. Nesse sentido, a noção de “identidade” - religiosa, étnica ou outra - não é invenção dos futuros algozes. Os indivíduos se definem como "judeus", "tutsis" ou "muçulmanos" da Bósnia e Herzegovina, antes mesmo de serem ridicularizados e perseguidos. É por isso que o processo imaginário descrito aqui é tão perigoso. Se ele estivesse fora de toda realidade, permaneceria em um estado de devaneio mortal. Mas ele mergulha suas raízes na realidade para dizer com a certeza da verdade: “Aqui estão aqueles por quem vêm todos os nossos males. Em suma, esta imaginação, que se alimenta das ansiedades mais arcaicas do ser humano, se alimenta da realidade para distorcer a realidade das próprias pessoas que designa como vítimas, a fim de torná-la verdadeiramente assustadora. Imaginário e real, portanto, parecem inextricavelmente ligados.
Como ocorre a passagem da fantasia para a ação, da angústia de ser destruído para a operação de destruir outro indefeso? Isso equivale a perguntar como as posições psíquicas primárias, como Franco Fornari as descreve para nós, podem contribuir para o incrível desenvolvimento da violência em massa. Durante a primeira infância, cada um de nós é confrontado com ansiedades arcaicas, que os vários estágios do desenvolvimento psíquico normalmente ajudam a conter. Felizmente, essas fantasias de destruição permanecem como fantasias! Nossos sonhos são também os meios de "realizá-los", por meio de nossa vida imaginária, se quisermos acreditar na psicanálise. E os contos e lendas que nossos pais liam para nós na infância nos ajudaram a superá-los . Então, o que está acontecendo para que, em certos casos, essas fantasias sejam “concretizadas”? Para que "passem" para a realidade? Este processo de balanço é fluido, complicado e felizmente incerto. Mas em qualquer caso, para que este imaginário de destruiçãoção (e onipotência) pode operar na realidade, ela precisa de um "cimento comum": um discurso que seja percebido como coerente e verossímil, capaz de conter a angústia dos indivíduos. Esse cimento comum, conectando indivíduos que desejam aderir a ele, é ideologia. Por meio dela, o imaginário e o real são aninhados. Por “ideologia” entendo um discurso baseado em argumentos racionais e irracionais, que se constrói contra este mal “Outro”. De certa forma, a ideologia - ou melhor, as ideologias (porque suas formulações são plurais) "sedimentam" representações imaginárias. Esses discursos, nos quais mitos e realidades se cruzam, podem servir de trampolim para o massacre. No entanto, a retórica fundamental dessas ideologias e o vocabulário que usam nunca são inocentes. Nos casos da Alemanha, Iugoslávia e Ruanda, essa retórica é construída em torno de três temas principais: identidade, pureza, segurança. Tocando na vida, na morte e no sagrado, não podem deixá-lo indiferente: “falam” com todos, entrelaçando imaginação e realidade. É a partir deles que se formam as figuras do inimigo, como gostaríamos de mostrar agora. Embora esses temas imaginários - identidade, pureza, segurança - estejam na maioria das vezes aninhados, proponho aqui, para maior clareza, analisá-los separadamente. 21
Da história da identidade à figura do traidor Paul Valéry já o notou soberbamente: “A história é o produto mais perigoso que a química do intelecto desenvolveu [...]. Ele faz as pessoas sonharem, intoxica-as, engendra falsas memórias, exagera seus reflexos, mantém suas velhas feridas, atormenta-as no repouso, leva-as ao delírio da grandeza ou ao da perseguição e torna as nações amargas, soberbas , insuportável e fútil . O que o escritor francês enfatiza aqui é menos o papel da História enquanto tal do que o da memória que os povos constroem de seu próprio passado. Porque não são tanto os acontecimentos históricos que pesam na vida dos povos, mas as representações que eles têm desses acontecimentos. No caso da Alemanha pós-1918, por exemplo, é menos o evento do Tratado de Versalhes que "determina" seu destino futuro do que a maneira como certos atores políticos alemães interpretam as condições muito desfavoráveis desse tratado para atiçar o fogo nacionalista. Outros fatores também estão contribuindo para essa situação de desastre: os efeitos da "Grande Guerra" sobre a própria população, a crise econômica, os repetidos distúrbios políticos e assim por diante. Nesse sentido, o historiador George Mosse afirma que a violência particularmente intensa da Primeira Guerra Mundial resultou na propagação do que ele chama de “brutalização” das relações sociais. 22
Não falta pertinência às suas análises, para observar este verdadeiro culto à violência que parece desenvolver-se na Alemanha durante a década de 1920 e do qual descreve as manifestações, inclusive no quotidiano . Mas por que a França não foi tão afetada por essa "cultura da guerra", quando os franceses tiveram que sofrer - como os alemães - os mesmos dilúvios de fogo e os mesmos massacres? A grande diferença é que os alemães, como os franceses, não podem se libertar dessa tragédia pelo contentamento coletivo com a vitória: foram derrotados e muitos deles não aceitam essa derrota, especialmente na direita e na a extrema direita. Os discursos ideológicos dessas forças políticas tentam capturar o trauma da derrota para seu próprio benefício, oferecendo uma história que salva a honra do país e lhe dá um novo impulso. No entanto, o quadro desta história, que potencialmente dá início a um novo ciclo de violência, consiste precisamente numa leitura deste “infortúnio” do povo. Em situações históricas muito diferentes, porém, encontramos o mesmo esquema “explicativo”, que se baseia em algumas afirmações aparentemente convincentes: “Se hoje sofremos, a culpa não é nossa: somos vítimas da história. O drama que nos atinge não é, porém, fatal. Temos os meios para recuperar nossa honra e nossa glória. Para isso, devemos acreditar em nós, no nosso povo, no seu destino. " Consequentemente, este sofrimento “nós” é superado por palavras que parecem fora do tempo, palavras que nos permitem escapar deste insuportável presente para nos religarmos com a alma eterna do povo, do “nosso povo”. Estamos testemunhando uma espécie de transmutação dotrauma inicial por este “nós” salvador e grandioso, através do qual os indivíduos vão buscar a energia para a sua recuperação coletiva. Em sua reflexão sobre os fundamentos do imaginário nazista, o historiador suíço Philippe Burrin relaciona adequadamente o tema do ressentimento, sempre refeito por Hitler e seus seguidores, com essa busca pela onipotência germânica: “Ressentimento, escreve - há um sentimento de injustiça, justamente desprezado, acompanhado de uma constatação de impotência, de modo que o que foi sofrido é incessantemente ruminado. Mas esse renascimento pode em certos casos - pensamos imediatamente em Nietzsche - produzir uma transmutação de valores, ou seja, a atribuição de um sinal negativo àquilo que se desejava anteriormente e que permaneceu inatingível. em nome de um novo conjunto de valores, antitético ao anterior, que devolve um sentimento positivo de autoestima. “E Burrin acrescenta:“ Se alguma vez houve um rumo de ressentimento, neste sentido de transmutação de valores, foi o de Hitler, um fracasso que encontrou em uma ideologia exaltando o poder criativo de Raça ariana, uma nova base para a auto-estima. E a mesma demonstração poderia ser feita em relação ao Partido Nazista cuja principal [...] fonte de sucesso na grande crise [foi] a projeção de uma recusa à humilhação e de uma imagem de “poder existencial” . Esse poder existencial seria personificado pela "comunidade do povo" dos "arianos" chamados a dominar a Europa e - quem sabe? - o mundo. Na Iugoslávia, também encontramos esse aspecto do ressentimento na história dos povos. Por exemplo, a desconfiança fundamental entre croatas e sérvios não pôde ser superada nem no primeiro estado federal (1919-1941), nem no segundo (1945-1991). No entanto, a durabilidade dessa união entre os eslavos do sul dependia, em primeiro lugar, da habilidade desses dois povos de se darem bem, apesar de suas diferenças nacionais. Mas os contratos desse sindicato têm sido fonte de disputas recorrentes. Os croatas sempre tive a sensação de ser dominado: a XIX séculopor Viena e Budapeste, o XX século por Belgrado. Quanto aos sérvios, eles sempre se viram no centro do Império. Acreditando que nunca foram recompensados pelo preço do sangue que derramaram nas duas guerras mundiais, eles anseiam por mais reconhecimento e poder. Esse antagonismo fundamental entre croatas e sérvios certamente conheceu períodos de calma. Mas, no fundo, ele nunca parou de dilacerar o estado iugoslavo, impedindo a estabilização de qualquer forma . 23
24
th
th
25
Graças à crise econômica da década de 1980, a retórica nacionalista ressurgiu em ambos os lados. Na verdade, segundo o sociólogo inglês John Allcock, as elites iugoslavas não foram capazes de resolver a crise econômica adaptando-se ao mercado mundial; além disso, o sistema de autogestão comunista muito provavelmente constituiu um obstáculo estrutural a tal mudança . Nessas condições, a crise de legitimidade do Estado tem levado os políticos a optarem entre etnos e demos , ou seja, entre uma “comunidade imaginada” (em bases étnicas) e uma “cidadania comum” redefinida (do tipo iugoslavo). . Tendo esta questão acendido os debates políticos, Milosevic como Tudjman se pronunciou pelo princípio étnico-nacional. As representações míticas tendentes a assimilar um território a um povo, e ao sangue derramado por este povo neste território, encontraram-se em primeiro plano na cena pública. Os imaginários de "nós", ou melhor, de "entre nós", contra um "outro", mesmo contra "outros", tinham um futuro brilhante pela frente. Em Ruanda, também podemos identificar entre os hutus a formação de uma memória dolorosa, que se alimenta de um passado de sofrimento, humilhação, trabalho penoso, etc., associado à era da dominação tutsi. Mas a construção dessa história de vítima é muito diferente do caso da Iugoslávia. Identidades hutu e tutsi particularmente complexas flutuam ao longo da história de Ruanda. O historiador francês Jean-Pierre Chrétien e o cientista político americano (de origem ugandense) Mahmood Mamdani oferecem duas leituras, cada uma adotando uma perspectiva regional, que inclui a história de Burundi e Uganda.vizinhos . Eles concordam que a chegada dos colonizadores no final do XIX século, ajudando a gradualmente reificam essas identidades flutuantes Hutu / tutsis representações raciais do plano alemães e belgas sobre as populações Ruanda. Sendo o país governado por um rei tutsi, os primeiros antropólogos vão construir uma teoria racial que “explica” esse domínio da minoria tutsi, embora os hutus sejam os mais numerosos. Na ausência de diferenças culturais e linguísticas reais, a descrição de características físicas aparentemente distintas é apresentada como um critério essencial de diferenciação. Os hutus, descritos como baixos, atarracados, de rosto pesado, deveriam contrastar com os tutsis, altos, esguios, de traços finos: "negros de verdade", em oposição aos "hamitas". A essas duas "raças" são atribuídas origens diferentes: os tutsis, um povo de pastores, teriam vindo do Egito e teriam dominado rapidamente os hutus, sedentários e fazendeiros; Essa afirmação parecia plausível, pois muitos tutsis eram de fato pastores . Mas essa mesma categorização racial esquemática, de acordo com as atividades agrícolas, subestimou a importância dos pobres tutsis e hutus de posição social mais elevada. Até o início da década de 1950, a administração colonial belga, no entanto, legitimou tais representações, contando com a realeza tutsi para governar o país. Também promoveu a educação de tutsis, considerados mais inteligentes, com o apoio da Igreja Católica, muito influente. Na década de 1930, a Bélgica chegou ao ponto de instituir um livreto de identidade especificando a “origem” do indivíduo: hutu, tutsi ou Twa . No entanto, cerca de vinte anos depois, no contexto da descolonização incipiente, os belgas vão dar uma meia-volta: são os profissionaismovimento social dos hutus que deve ser fortemente encorajado. Entre os mais "educados" dos hutus, desenvolveu-se então um discurso reivindicando a liderança do país em nome da maioria do povo, para pôr fim à sua exploração pela minoria tutsi. Isso também resultará em outra visão do passado, argumentando que os hutus chegaram às colinas de Ruanda muito antes dos tutsis. Deste discurso, que defende concretamente uma profunda mudança social e política, o futuro primeiro presidente da República do Ruanda, Grégoire Kayibanda, passa a ser o principal porta-voz . Assim, o jovem estado ruandês foi construído, desde o início, sobre esta proclamação soberana de “nós, os hutus”, “povo da maioria”. Gérard 26
27
28
°
29
30
31
Prunier mostrou, no primeiro livro dedicado ao genocídio de 1994, que essa mitologia cultural constitui uma causa distante, mas fundamental desse genocídio . Em cada caso, portanto, vemos a construção de um processo identitário de renascimento ou recomposição do “nós”, como resposta coletiva a uma situação de crise, trauma ou convulsão intensa. Como sublinha o cientista político francês Denis-Constant Martin, a narrativa da identidade permite, "em situações modernas de turbulência e mudanças rápidas, tanto materiais como morais, verbalizar a ansiedade e, ao mesmo tempo, aliviá-la por retribuir, graças a referências familiares - históricas, territoriais, culturais ou religiosas -, significando o que parece não ter mais ”. Um esclarecimento essencial: acrescenta que a construção dessa identidade está longe de levar sempre ao confronto e à violência. Por definição, a identidade é concebida através da percepção da diferença, dando consistência ao Um e ao Outro. E estepode estabelecer relações pacíficas com este Outro: a história nos dá exemplos suficientes. Mas também é verdade que essa identidade "aberta" ao Outro pode dobrar-se, enrolar-se sobre si mesma, dando-se um critério de exclusão desse Outro. Este critério será ora a ideia de “raça” ou “etnia”, ora a ideia de “nação”, ou mesmo as duas ao mesmo tempo. A ideia de "raça", outrora defendida por vários cientistas (principalmente etnólogos), é hoje totalmente rejeitada, ainda que baseada em preconceitos teimosos. A ideia de "etnicidade" não parece mais clara: depois que os antropólogos também a fizeram uso, ela tende a ser abandonada, pois parece impossível dar uma definição pertinente. Quanto à “nação”, amplamente aceita e reivindicada por nossos contemporâneos, o antropólogo americano Benedict Anderson demonstrou em brilhante ensaio que ela também procede de uma construção imaginária . Da mesma forma, o historiador inglês Ernest Gellner afirma que "as nações não existem como tais: é o nacionalismo que cria a ideia de nação " . 32
33
34
35
A marcação de "pequenas" diferenças Mas olhemos para além dessas considerações críticas, porque não se trata aqui de discutir racismo, etnismo ou nacionalismo, mas sim de como tais doutrinas influenciam o curso da história. E o que conta com esse plano, não é principalmente o que os homens acreditam ser verdade? Não são acima de tudo suas representações imaginárias da realidade? Enfim, interessa-nos as condições de eficácia do imaginário na política, quando um grande número de indivíduos - reunidos em um país e além de suas fronteiras - acreditam ou querem acreditar que pertencem ao mesmo ”. raça ”, a mesma“ etnia ”, a mesma“ nação ”. Eles se atribuem esse critério de identidade que serve como uma “proteção” para passar por momentos sociais particularmente turbulentos. Quando os indivíduos tendem a perder o rumo, uma das respostaso mais frequente é recorrer ao que acreditam ser a sua identidade comum para fazer face à situação que os confunde. Portanto, tendem a abandonar suas próprias individualidades para se fundir no que percebem como seu grupo comum ao qual pertencem, sua “comunidade”. Eles fazem do que lhes foi dado pelo nascimento e pela educação (idioma, religião, nacionalidade) as fontes de sua força coletiva para reagir à crise. De certa forma, o que são ou o que acreditam ser, eles "essencializam" para fazer disso a própria substância de sua luta. No entanto, a construção desta comunidade de "nós" ocorrerá ao custo de rejeitar um "Outro" percebido como um "eles" fundamentalmente diferente: os arianos contra os judeus, os hutus contra os tutsis, os sérvios contra os judeus. Os croatas foram renomeados respectivamente para Chetniks e Ustasha (nomes de seus grupos nacionalistas durante a Segunda Guerra Mundial) . 36
Fenômeno social clássico, a identidade de um grupo se afirma contra a marcação da alteridade de outro grupo. É assim que a "diferença " é construída. Mas como entender que essa dinâmica antagônica de identidade / alteridade se torna, em certos casos, incandescente? Tudo acontece como se barreiras simbólicas fossem erguidas entre indivíduos que, no entanto, são próximos. Porque o paradoxo é que esse processo conflituoso não se dá contra outro distante, mas contra aquele que está próximo: o vizinho. “Os melhores inimigos, ao contrário do que se pensa, não são recrutados pela diferença, mas pela semelhança e proximidade . " Esse paradoxo foi explorado por Sigmund Freud em seu estudo do “narcisismo das pequenas diferenças”. Ele nota que os seres humanos - todos iguais - buscam diferenciar-se enfatizando pequenas diferenças. Enquanto elesexagerando a importância, esse investimento passa a ser motivo de hostilidade entre os homens. Tal inclinação é fundamentalmente narcisista por natureza: o olhar só se move em direção ao outro para se destacar dele a fim de fortalecer a auto-satisfação. Freud observa que mesmo os relacionamentos emocionais de longa data, como os formados na família, nunca são imunes a essas crises. Em geral, quanto mais íntimas as relações entre grupos humanos, mais hostis eles podem ser entre si. O mesmo fenômeno pode ser observado entre sociedades e nações: “Duas cidades vizinhas estão em competição ciumenta uma com a outra”, escreve ele. Cada pequeno município está cheio de desprezo pelo município vizinho. Grupos étnicos pertencentes à mesma linhagem se repelem: o alemão do sul não apóia o alemão do norte, os ingleses falam todo o mal possível dos escoceses, o espanhol despreza os portugueses . " Inspirando-se neste texto de Freud, Michael Ignatieff acredita que é possível conceber o nacionalismo como uma forma de narcisismo. Um nacionalismo pega pequenas diferenças em si mesmo e as transforma em grandes diferenças. O olhar narcisista tem a propriedade particular de se voltar para o outro apenas para confirmar sua diferença. Em uma situação de crise, a percepção dessa suposta diferença torna-se absolutamente insuportável. “Neste bunker sérvio”, escreve Ignatieff, “ouvi reservistas dizerem que odiavam respirar o mesmo ar que os croatas, que odiavam estar na mesma sala que eles. Que comentário estranho, de homens que há apenas dois anos achavam que nem mesmo o ar que respiravam pesava uns para os outros mais de ! Sigmund Freud, no entanto, formula um julgamento geral que não leva suficientemente em conta o contexto. Com efeito, não é tanto a diferença em si que cria o conflito, mas a percepção particular dessa diferença - e sua instrumentalização - para tranquilizar um grupo de indivíduos sobre a sua identidade, numa situação em que esse grupo se sinta ameaçado. Em tempos de paz e prosperidade, essa tensão de identidade não ocorre. As diferenças de idiomas e tradições podem ser relativamente insignificantes. Um sérvio pode amar um croata,Hutu e Tutsi podem ajudar-se mutuamente no trabalho agrícola ... Muitos indivíduos não dão importância a este critério de identidade e até o ignoram. Na Alemanha pré-Hitler, alguns nem sabiam que eram "judeus" até que os nazistas os forçaram a fazê-lo. O notável diário do filólogo Victor Klemperer atesta essa evolução . Ele descreve dia a dia a formidável pressão social que se acumula contra os judeus neste país, que perdem toda a individualidade, já que está dissolvida na noção global de "judeus". Consequentemente, podem romper-se casais “mistos”, tal como as relações interétnicas amigáveis ou profissionais ”que, ontem, eram porém“ normais ”. O critério de identidade vence tudo, define tudo: esmaga o indivíduo. Este não se chama mais Martin, Bogdan ou Séraphin, ele é antes de tudo um judeu, um sérvio, um tutsi. Qualquer um pode sempre tentar resistir a essa pressão. Na Alemanha, muitos casais “mistos” não queriam se divorciar, embora o regime os encorajasse fortemente a 37
38
39
40
41
fazê-lo. Essa resistência de corações foi, além disso, para os nazistas um problema que eles sempre encontraram. Figuras do inimigo dentro A pressão de identidade pode se tornar mais poderosa à medida que aqueles que a encorajam realmente obtêm os instrumentos de poder. Pois a força redutora desse processo certamente não depende apenas das fontes da psicologia coletiva. Sua dinâmica é fundamentalmente política: aqueles que acreditam que seu país pode sair da crise por meio dessa “solução identitária” pretendem impô-la a todo o corpo social. Em suma, eles usam o poder emocional da identidade para despertar o apoio do povo e, portanto, para conquistar ou reter o poder, seja esta carta para manipular as emoções se denominar nacionalismo, racismo ou etnismo. Mas essa batalha pelo poder não é travada tanto contra esse “eles” para rejeitar, mas contra as partes de “nós” refratárias a essa visão identitária do futuro do país. É aqui que surge outro paradoxo quanto ao possível aumento da violência. Na verdade, a primeira figura hostil do inimigo a se constituir como tal, não apenas na imaginação, mas também na realidade, não é necessariamente aquela que pensamos. Não nos lembramos, por exemplo, que os campos de concentração dos nazistas foram criados primeiro para encarcerar seus oponentes políticos, socialistas e comunistas? Estamos suficientemente cientes de que Milosevic consolidou gradualmente seu poder, demitindo gradualmente todos aqueles que, no aparelho comunista iugoslavo, eram hostis à sua linha nacionalista? Também não contamos os aborrecimentos e ataques que os hutus moderados podem ter sofrido antes mesmo do genocídio de extremistas hutus próximos ao presidente Habyarimana. Para designá-los, os extremistas usam termos que os tornam monstros ibihindugemb : seres sem cauda nem cabeça. Assim, o inimigo é antes de tudo aquela parte de "nós" que apóia outras posições políticas, que é hostil à marginalização de judeus ou tutsis, etc. É claro que a luta política contra esses adversários anda de mãos dadas com a marginalização de "eles": um não anda sem o outro. Mas, em suma, darei um lugar decisivo a esta luta política preliminar que se desenrola no "nós": do desfecho desta depende de facto a sequência dos acontecimentos, nomeadamente a radicalização ou não do processo de identidade. No entanto, este confronto político dentro de “nós” em si não se desenrola: tudo depende do equilíbrio das forças presentes. Sua aposta: o poder de dominar os outros membros do grupo, todos os outros. Para os partidários de uma linha de identidade, esse inimigo interno de "nós" assume a figura geral do "suspeito", até mesmo do traidor. Em Ruanda, ele é chamado de icyitso , ou seja, “cúmplice”. A luta contra esse inimigo pode ir muito além da neutralização ou eliminação de oponentes declarados, líderes políticos, sindicatos ou associações. O que se espera é a solidariedade inabalável de todos os membros do grupo para enfrentar o inimigo designado. O desejo de controle sobre todos os membros constituintes de "nós", portanto, tende a ser total. Processo bastante lógico: se essa mobilização identitária origina-se de um sentimento de ameaça coletiva dos sofredores “nós”, é coerente chamá-los ao cerramento diante do perigo comum. Todos os integrantes do grupo são chamados a se mobilizar nessa luta existencial e, como corolário importante, apontar o dedo, até mesmo rejeitar, aqueles que buscam se destacar dela. No entanto, é improvável que um país, por meio de sua diversidade social, profissional e geracional, possa atingir o grau de unanimismo que caracteriza os sistemas totalitários. Ainda
assim, extensos estudos sócio-históricos mostram que o conceito de "totalitarismo" como visão de uma sociedade totalmente nivelada não leva em conta a capacidade dessa sociedade de manter a diversidade real nos interstícios do sistema. O unanimismo só parece uma fachada. No caso da exUnião Soviética, pudemos assim mostrar uma certa “autonomia social” em relação à política oficial do regime: a ideologia soviética de fato encontrou resistências de núcleos familiares e políticas sociais profundamente enraizadas em mentalidades coletivas . Seja como for, mesmo que esse desejo de controle total seja apenas aparente, ele necessariamente gera atitudes de desconfiança em relação a tal e tal indivíduo ou coletividade, quanto a essa exigência de lealdade para com a comunidade. identidade ideal. O potencial “traidor” será, por definição, alguém que, sendo membro deste “nós”, procura ocultar a sua discordância. Apesar de pertencer ao “povo”, acaba por ser um “inimigo do povo”. Ele tem o mesmo rosto, o mesmo rosto, o mesmo sangue que nós. Mas ele não quer estar conosco. A dinâmica imaginária torna-se assim bastante diferente: ao invés de se basear no desenvolvimento de uma “pequena diferença”, é construída a partir do reconhecimento de uma semelhança fundamental, mas que se transforma em traição. Em suma, a violência surge da relação conflituosa entre dois gêmeos, um dos quais acaba declarando que o outro é um “traidor” de sua identidade comum. A violência que pode resultar de tal divisão só pode ser formidável. Pode ir do ostracismo à prisão ou mesmo à eliminação de "traidores". É difícil imaginar o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazista durante o período de "paz" dos anos 1930. O testemunho comovente de Marie Kahle, uma "ariana" que se atreve a ajudar um comerciante judeu de Bonn para colocar sua loja em ordem, devastada pelos militantes nazistas durante a Kristallnacht em 9 de novembro de 1938, nos ajuda um pouco. Esse simples gesto de benevolência fez com que ela fosse denunciada na imprensa, o marido universitário cada vez mais preocupado com o trabalho; semfale sobre os aborrecimentos que seus filhos sofrem na escola. Tudo se diz nestas poucas palavras que mãos anônimas mancharam de tinta na frente de suas casas: “Traidores do povo, amigos dos judeus . " Como podemos entender esse desejo surpreendente de coerção sobre os indivíduos? É claro que a relação entre ideologia e terror parece decisiva, e na própria base do sistema totalitário, como sustenta a filósofa Hannah Arendt. A dialética é verdadeiramente infernal: a ideologia (ou seja, a lógica de uma ideia) pretende impor-se a todos através do terror e, em troca, o terror justifica todos os seus crimes em nome da ideologia . Tal análise, forjada com base na comparação entre os casos da Alemanha nazista e da URSS stalinista, é, porém, insuficiente. Em suma, ela apresenta uma explicação instrumental pelas "ferramentas" que são a ideologia e o terror onde as fontes da imaginação parecem muito mais em jogo: um imaginário de unidade a todo custo contra o inimigo comum. Além disso, o filósofo Claude Lefort explorou este tema da ficção da unidade totalitária: a imagem do “Um só povo” leva à eliminação de todos aqueles que são percebidos como não fazendo parte dessa unidade ou como uma ameaça. Essa busca necessariamente fictícia pela unidade a todo custo tem, de fato, a capacidade de moldar as relações sociais . E este é provavelmente um dos vetores poderosos do surgimento da violência em massa: o desejo louco de querer construir um mundo sem conflitos, sem inimigos. Mas por que se limitar à estrutura totalitária? O poder da imaginação oferece uma abordagem menos restritiva, em linha com a análise já proposta. Porque a vontade de identificar, que se constrói na rejeição de um Outro “diferente”, expressa basicamente esse desejo regressivo de uma “unidade” perfeita. A fantasia narcísica de absoluta tranquilidade do bebê, expulsando o objeto mau, como descreve Franco Fornari, não está longe. Essa reconstrução da identidade do Um contra o Outro atesta o desejo fantasmático de encontrar esse Um sem o Outro. O desejo de fundir o Um 42
43
44
com o Um ou o Ser com o Ser proíbe qualquer inclinação para discussão e compromisso. É impossívelque um indivíduo pertencente a "nós" se atreve a discordar da mônada de identidade. Como, então, podemos nos surpreender que esse sonho do Um, que essa raiva pelo Um, possa levar a uma espiral infernal de coerção e exclusão em relação a qualquer um que manifestasse o desejo de se opor a essa fantasia de unidade?
Da busca pela pureza à figura do Outro em excesso Essa busca pelo Um é muitas vezes associada a uma busca frenética pela "pureza". Este é outro tema imaginário que "endurece" o processo de identidade e mais seguramente o conduz à violência em massa. Definir-se como “puro” de fato implica categorizar um “Outro” como impuro. No entanto, a acusação de impureza constitui uma incriminação universal contra aqueles que vão ser massacrados. Pureza já se refere a uma exigência de limpeza frente a outra catalogada como “suja”, percebida como lixo. A pureza contém também um apelo ao sagrado: a necessidade de purificação é uma mola mestra do religioso, que constitui um formidável trampolim para desencadear a violência purificadora (cf. capítulo II ). Esses clichês - puro / impuro, limpeza / sujeira, brancura / escuridão - parecem muito rudes para nós. No entanto, sua estrutura binária responde ao funcionamento elementar da psique humana em uma situação de crise. Sempre que nos sentimos seriamente ameaçados, imediatamente procuramos saber quem nos quer bem ou mal. Este é o reflexo perfeitamente compreensível da criança como do adulto, em perfeita concordância com a estrutura de nossas emoções fundamentais. A divisão bom / mau, bom / mau, etc. constitui o espaço imaginário no qual se podem sedimentar as ideologias que, embora erradas, parecem credíveis e calmantes. O tema da pureza tem sido estudado por antropólogos do ponto de vista da contaminação dos corpos e, de forma mais geral, da “poluição” do corpo social . Essa metáfora pode ser estendida à necessidade de defender a pureza da civilização contra a corrupção da modernidade. Isso muitas vezes resulta em um pedido de desculpas pela natureza e, mais particularmente, pelos camponeses, verdadeiros defensores das tradições.e a alma eterna do povo. Os camponeses indígenas, verdadeiros conhecedores da terra ancestral, personificam os costumes e o espírito da Nação. Mas é acima de tudo entre líderes e ativistas racistas ou etnonacionalistas que os historiadores vêem claramente esse mito da pureza em ação. Na concepção racial dos nazistas, o ideal de pureza se combina com o de saúde. Os nazistas assumiram as teorias de higiene médica que circulavam na Alemanha, mas também em outros países europeus, incluindo França e Inglaterra . Este desejo de fortalecer a "pureza do sangue germânico" levou-os a promulgar, em setembro de 1935, uma lei para a "proteção do sangue e da honra alemães". Isso logo resulta em dois textos importantes que legalizam a exclusão dos judeus alemães: o primeiro proibindo, sob pena de prisão, o casamento - e mais geralmente qualquer relação sexual - entre arianos e judeus; a segunda pondo fim à igualdade jurídica adquirida pelos judeus em 1871 . Este desejo de "limpar" a "raça" está, no entanto, longe de atingir apenas os judeus deste país, uma vez que tem suas raízes no culto de um corpo saudável, bonito, limpo, etc. “O homem ariano saudável, limpo, trabalhador e atlético, que se casa com uma mulher da mesma raça que lhe dá muitos filhos, é criado como modelo e padrão. Em contrapartida, tudo o que dela se desvia e que rapidamente se torna objeto de medidas de extirpação tem alívio: esterilização de alemães com doenças hereditárias (cerca de 400.000 45
46
47
pessoas), envio para campos de concentração, às dezenas de milhares, anti-sociais e homossexuais, uma política de segregação para os ciganos, etc. " Na Iugoslávia, o etnólogo Ivan Colovic mostrou de forma notável como a descriptografia de um “imaginário mítico” é essencial para entender a guerra do início dos anos 1990 . Costuma-se afirmar, escreve ele, que isso seria devido aos nacionalismos belicistas que conseguiram impor o culto do passado, incitando a população avoltar à história nacional embelezado como deveria, procurando fazê-lo esquecer suas reais necessidades. Mas esta tese está apenas parcialmente correta. De facto, os sérvios são convidados menos a regressar ao passado histórico do que a “sair do tempo histórico”, ou seja, “a regressar aos mitos de uma Sérvia celestial e eterna”, cujo “berço estaria situado na a terra sagrada do Kosovo ”. Os mitos políticos sérvios, explica ele, convidam constantemente a "um retorno ao idêntico", ao culto aos "mais velhos" e à natureza. É por isso que os gloriosos ancestrais dos sérvios reencarnam nos líderes de hoje, como o líder nacionalista Radovan Karadzic, que teria herdado geneticamente de seu ilustre homônimo, o reformador da língua sérvia Vuke Karadzic (1787-1864). Esta permanência da “alma sérvia”, fora do tempo, deve-se ao facto de o “mesmo sangue eterno” fundar e vivificar a identidade dos sérvios, onde quer que vivam. Para Colovic, os sérvios sofrem, portanto, de uma "loucura muito conhecida", a da pureza da etnia. Ele toma como prova as palavras da bióloga Biljana Plavsic, também líder política bósnia-sérvia, que, referindo-se à sua disciplina, não hesita em declarar: “Os sérvios bósnios e principalmente os que vivem nas fronteiras se desenvolveram no sentido extremo, que lhes permite sentir quando a Nação está em perigo e implementar um mecanismo de defesa. Na minha família, sempre foi dito que os sérvios da Bósnia eram melhores sérvios do que os sérvios na Sérvia [...]. Eu sou um biólogo e sei que as melhores espécies de exércitos para se adaptar e sobreviver são aquelas que vivem com outras espécies que representam uma ameaça para eles . " Para caracterizar um povo ou nação que se vê como um todo homogêneo, quase corpóreo, o sociólogo americano Michael Mann propôs a noção de "pureza orgânica". Com efeito, ele observa que a maioria dos estados modernos referem-se à ideia de povo, o que implica dizer “nós” como se fôssemos uma única e mesma “pessoa” coletiva. A Constituição dos Estados Unidos afirma, por exemplo: "Nós, o povo" ("Nós, o povo") , enquanto La Marseillaise , o hino nacional francês, começa com: "Vamos, filhos da pátria ..." Michael Mann acredita que, se a população de um determinado território, assim, investe em uma soberaniacoletivo, corre o risco de se conceber como um “todo orgânico” em detrimento de um Outro percebido como estrangeiro. Porque a noção de "pessoas" reúne dois significados diferentes. O primeiro cobre o que os gregos chamam de demos , a “população comum”, a massa de cidadãos. Mas, na nossa modernidade, o "povo" ainda significa a "nação", através de outro termo grego, ethnos , um grupo étnico, uma população que compartilha a mesma herança comum, diferente de outro povo. Daí o risco constante, nota o autor, de definirse como um "povo puro" em relação a outro "impuro". O hino francês também faz uma alusão explícita a ele em um de seus versos: "Que um sangue impuro rege nossos sulcos!" " As ideias fundamentais da democracia podem, portanto, engendrar várias formas de violência política em massa ou limpeza étnica. "O ideal da soberania do povo tem intercaladas as demos com a etnia dominante , ao gerar concepção orgânica da nação e do Estado, escreve Mann, que incentivou a limpeza étnica das minorias . Essa tendência é o produto pervertido da mais sagrada de nossas instituições ocidentais: a democracia. Tese provocativa? Além da maneira como as potências europeias subjugaram os indígenas no que viria a ser suas colônias, o autor é irônico sobre o passado de vários presidentes dos Estados Unidos que foram "grandes democratas" e "grandes purificadores étnicos. Contra os índios americanos. Comparando os índios com os lobos, 48
49
50
51
George Washington deu a ordem de atacar os iroqueses, para "destruir todas as habitações [...] para que o país não seja simplesmente invadido, mas destruído". Thomas Jefferson, por sua vez, repetiu que os índios deveriam ser "exterminados" e "expurgados da terra", enquanto Andrew Jackson encorajava seus soldados a consagrarem minhas esposas e filhos. Por fim, Theodore Roosevelt declarou que o extermínio dos índios era "tão benéfico quanto inevitável" . Todo esse passado constitui o "lado negro da democracia" sobre o qual Mann constrói todas as suas análises. Conclusão: não podemos afirmar que os massacres são monopólio apenas dos auto-regimes ritarianos ou totalitários. A “limpeza étnica” é um fenômeno moderno intimamente ligado à formação das democracias. A sua reflexão ainda o leva a explorar outra faceta fundamental da "pureza orgânica". De acordo com Mann, as formas políticas tipicamente modernas de fascismo e comunismo também são legados equivocados do projeto democrático. No fascismo, o "nós orgânico" está corporificado no ideal da nação, enquanto no comunismo está enraizado na ideia de proletariado. Para o primeiro, os inimigos serão étnicos; para o segundo, político. Mann, portanto, traça uma espécie de paralelo entre inimigos de "raça" e inimigos de "classe", contribuindo assim para os debates sobre as comparações entre nazismo e comunismo. Essa é a tese que tem sido defendida por certos historiadores franceses, como Stéphane Courtois ou Jean-Louis Margolin em Le Livre noir du communisme : o genocídio de “classe” equivaleria ao genocídio de “raça” . Mann se recusa, entretanto, a usar o termo "genocídio" para qualificar os crimes do comunismo. Ele prefere os termos “fratricídio” e “classicídio”, uma palavra que ele mesmo cria para designar “a intenção de matar em massa classes sociais inteiras” . Mas tal equivalência entre "concepções organistas" de esquerda e direita parece questionável. Na verdade, Mann não vê as diferenças entre os dois tipos fundamentais de pureza que podem ser deduzidos de suas análises: uma pureza de tipo de identidade (da qual o nazismo é a expressão mais completa) e uma pureza de tipo político ( dos quais os comunismos Estalinistas ou Cambojanos são formas paroxísticas). No entanto, ambos geram figuras muito diferentes de “inimigo” e por isso é importante não confundir a dinâmica da violência que está na base de sua formação. Na verdade, a pureza de uma natureza identitária, descrita acima, tende a levar à formação de uma outra figura do inimigo. Este “eles”, percebido como fundamentalmente diferente de “nós”, torna-se como um Outro a mais. Esta figura do inimigo procede de uma visão exorbitante da diferença em que se cristalizará a angústia de "nós".a ponto de querer sua destruição. Esse Outro excesso é, naturalmente, qualitativamente diferente de nós: ele não tem o mesmo sangue que nós, nem os mesmos costumes; ele não tem o mesmo nariz nem a mesma constituição, é mais alto ou mais baixo, tem uma cor de pele diferente ... Além do mais, ele não chegou a essas terras muito depois de nós? Portanto, ele não tem o direito de ficar aqui e a sua presença é literalmente insuportável: fede este território que é dos nossos antepassados, da nossa nação, do nosso Deus. Esse Outro também pode ser percebido em número muito grande: como tende a se multiplicar, a proliferar, a proliferar, pode muito bem nos oprimir sem que o percebamos. Na Iugoslávia, os nacionalistas sérvios defendem abertamente um "acordo demográfico" da questão de Kosovo, que, em linguagem simples, envolve a redução da população albanesa. Além disso, no início dos anos 1980, foram os sérvios de Kosovo que começaram a falar da "limpeza étnica" a que poderiam ser submetidos se não reagissem. A expressão, portanto, serve antes de mais nada para definir-se como vítima. Contra o pano de fundo do crescimento demográfico, real ou imaginário, constrói-se assim uma espécie de fantasia de desaparecimento, apoderando-se de um grupo que se percebe sufocado 52
53
54
pela presença de outro, contaminando o corpo de pessoas sãs. E é bem sabido: “Os judeus estão por toda parte; eles querem dominar o mundo e nos conduzir à nossa destruição. Devemos, portanto, tomar medidas radicais e nos defender contra essas criaturas vis e malignas. Pureza de identidade e pureza política Além disso, esse excesso de Outro ainda é humano? A "bestialização" do inimigo é, de fato, uma indicação muito importante do possível surto de violência contra ele. Todos nós podemos usar nomes de animais para mostrar o carinho que temos por alguém. Mas, ao contrário, os nomes dos animais também servem para marcar a hostilidade que sentimos por isso e aquilo. Além disso, a guerra é produtora desse tipo de metáfora entre soldados que se convencem, assim, a não matar homens. No entanto, essa animação do Outro também pode se desenvolver contra um grupo em relação ao aumento da violência contra esse grupo. Costuma-se dizer que o massacre é fruto de uma desumanização prévia das vítimas. Este ainda é o caso? Não é certotain, como veremos mais tarde. Não há dúvida, porém, de que a desumanização funciona bem aqui por meio dessa animalização do Outro que o coloca fora do campo das relações humanas. Começamos a matá-lo com palavras que desqualificam sua humanidade. Desde a Idade Média, a palavra "massacre" também significava matar animais - como, por exemplo, na caça com cães. E a cabeça do javali, troféu exibido no grande salão do castelo, é chamada de “massacre”. Assim, matar "feras" supostamente humanas torna-se perfeitamente possível. Ainda mais, as metáforas usadas são aquelas de animais percebidos como pragas. Porque certamente não vemos que este Outro em excesso se adorne com a dignidade do veado europeu ou do leão africano. Não, a acusação imaginária é muito mais hostil e perversa: os nazistas falam dos judeus como ratos vulgares ou piolhos, enquanto os extremistas hutus tratam os invasores tutsis como baratas ou baratas (Inyenzi) . Mas não temos o “direito” de nos livrarmos de animais nocivos? É um gesto doméstico, de pura higiene. Qualquer um pode fazer isso, todos devem fazer. Daí também as metáforas de "limpeza" associadas à limpeza e saúde. Em Mein Kampf , Hitler continua a usar as metáforas do "micróbio judeu", do "câncer judeu", ainda os descrevendo como "parasitas sociais". E os insetos costumam despertar uma certa repulsão: você quer esmagá-los. Quanto ao tema da pureza política, ele pode ser facilmente identificado nas palavras de um Lênin na União Soviética ou de um Pol Pot no Camboja. Vários textos do pai da revolução bolchevique atestam a busca desse ideal de pureza, do "núcleo livre de escória" que deve ser o Partido. A fórmula de Lenin o expressa sem ambigüidades: “o Partido se fortalece purificando-se” (ocistit) ; um método que, em sua opinião, deveria se estender a toda a sociedade . Várias declarações de Pol Pot vão no mesmo tom: "Devemos dardo Partido uma imagem pura e perfeita . Conclusão lógica: tudo o que é "impuro" deve ser limpo, eliminado. E o próprio Lenin animaliza seus inimigos em muitos de seus escritos: "Devemos limpar a terra russa de seus insetos nocivos", escreveu ele. "Ou os piolhos triunfarão sobre o socialismo ou o socialismo triunfará sobre os piolhos." Para mobilizar seus apoiadores, ele ainda usa metáforas emprestadas do combate às epidemias, afirmando que “os parasitas (e o tifo) são os principais inimigos do socialismo”. Ele saúda o fato de termos "limpado as cidades russas desses vermes que são os Guardas Brancos" . Pol Pot e seus amigos eram geralmente menos prolixos do que Lenin, mas suas declarações são quase semelhantes. Como observa o historiador australiano David Chandler, autor de um estudo notável da infame prisão de Tuo Slang em Phnom Penh, Pol Pot acreditava que os inimigos 55
56
57
58
internos do Camboja eram inerentemente impuros. Douch, o chefe desta prisão (onde mais de quatorze mil prisioneiros morreram sob tortura), compara a estratégia desses inimigos à maneira como os gorgulhos cavam madeira. Ele os assimila a vermes ou micróbios vindos da CIA, Vietnã ... a fim de minar o povo revolucionário saudável. Uma vez infectado, um indivíduo pode infectar outros. A contra-revolução, a menos que seja cortada pela raiz, pode então se transformar em uma epidemia . A demanda por pureza política realmente pesa sobre qualquer um. A figura do inimigo não é esse Outro em excesso percebido como fundamentalmente alheio, mas antes o semelhante, de quem tememos que ele pense mal. David Chandler também mostra até que ponto o regime do Khmer Vermelho multiplicou e diversificou seus inimigos, às vezes muito reais, às vezes completamente imaginários. Ninguém está imune a esta inquisição política permanente. Uma vez desmascarado, o traidor deve escrever sua biografia auto-acusadora, uma prática experimentada pela primeira vez na União Soviética. Na verdade, suas análises sobre o Camboja comunista são uma reminiscência das de Nicolas Werth na URSS stalinista, onde vemos uma sucessão de antenasinteriores: os "inimigos mascarados" definidos por seu passado suspeito, "ex-nobres" ou "ex-mencheviques", os velhos bolcheviques, os kulaks, os executivos, os "elementos socialmente perigosos", isto é delinquentes e vagabundos, povos “nacionalistas”, etc. . A pureza política, portanto, refere-se muito mais à figura do traidor já descrito, multifacetado e escondido em toda parte. O traidor tem, por definição, uma dupla face e conduz um jogo duplo, como ainda diz Lenin: “Nosso pior inimigo está em nossas fileiras. Também é possível que ele já nos traiu. Ele diz que é pela revolução, mas na realidade é um burguês. Ele diz que é pelo povo, mas na verdade é um contra-revolucionário. Como não voltar no tempo aqui, ao período da Revolução Francesa? A retórica do Terror de fato parece muito próxima, como Jean-Clément Martin observa: “A definição do inimigo, durante 1793, torna-se cada vez mais vaga e mais ampla, abrangendo constantemente novos grupos . Observe que poderíamos inverter os termos do confronto político, tomando o ponto de vista de uma chamada revolução conservadora de direita. Como os dois campos se parecem a priori , o principal critério para sua diferenciação será a ideologia. Ora, a verificação da convicção ideológica de tal ou qual indivíduo se presta à interpretação: em que ele realmente acredita? Ele não está nos enganando? A acusação também pode ser coletiva por medo de perder a prisão de um traidor "real". Segundo a máxima do Khmer Vermelho, “é melhor prender dez pessoas por engano do que deixar um culpado em liberdade ”. Os habitantes desta vila não ajudaram nosso inimigo antes de nós o expulsarmos? Eles dizem que não têm nada a ver com ele. Mas é certo que o esconderam, que lhe deram armas. E as mulheres certamente não são inocentes. Todos esses aldeões são, portanto,traidores e sofrerão o que merecem. A distinção entre combatentes e não combatentes desaparece completamente: o resultado é uma violência massiva e indiscriminada. Podemos, portanto, constatar: embora pureza identitária e pureza política também estejam associadas à animalização do que é percebido como impuro, a lógica da violência de que são expressão não é a mesma. O olhar da pureza da identidade tende a se concentrar em um único inimigo, como "o judeu" ou "o tutsi", enquanto o da pureza política varre o corpo social em busca de seus supostos traidores. O primeiro visa erradicar o inimigo percebido como um Outro a mais; o segundo, subjugar a sociedade, eliminando o inimigo percebido como suspeito. É claro que a mesma situação histórica freqüentemente apresenta uma combinação dessas duas dinâmicas de violência. Vimos acima que, na formação do processo identitário de “nós” contra “eles”, era necessário que a parte de “nós” que era hostil à demonização de “eles” fosse submetida ou 59
60
61
62
eliminada. Essa observação de uma interação entre essas duas lógicas não resolve a questão de sua respectiva importância em uma dada situação histórica. Mas tudo acontece como se um ou outro (mas não os dois juntos) constituísse a "marca" original de um sistema de violência. Os exemplos bem conhecidos da Alemanha nazista e da URSS stalinista ilustram bem isso. No primeiro caso, o anti-semitismo radical dos nazistas significa que a violência contra os judeus desempenha um papel fundador em seu regime. No segundo, os bolcheviques têm tanto medo de não manter o poder (eles se lembram do precedente efêmero da Comuna de Paris) que estão como se estivessem em guerra contra toda a sociedade, não hesitando em matar e se aposentar para último. É por isso que os dois sistemas, bolchevique e nazista, apresentados como totalitários, permanecem muito diferentes em seus próprios fundamentos. São a expressão de duas lógicas de violência total, uma voltada para a erradicação de um ou mais grupos, outra mais sistematicamente orientada para a submissão total do grupo. Acho que identifiquei aqui duas interpretações fundamentais dos processos de violência que podem levar a massacres, das quais tentarei, no final do livro, traçar um quadro geral.
Do dilema da segurança à destruição do inimigo Mas ainda falta um terceiro tema para explicar como a violência pode multiplicar sua intensidade destrutiva. Certamente, a reformulação da identidade do sofredor “nós” contra os “eles” é decisiva. Claro, a busca pela pureza de que este “nós” testemunha é tão central e, francamente, trágica. Mas não devemos esquecer o essencial, caso contrário, tal processo não poderia se desenvolver: a necessidade de segurança. Imaginária ou real, autêntica ou manipulada, ela materializa o poder crescente do processo de violência. Porque o medo está lá, atrás e na frente do palco, na raiz de tudo. Medo da modernidade, como muitos autores escreveram? De um mundo que passa rápido demais, em que o futuro parece bloqueado? Sem dúvida. Mas também o medo do Outro, percebido como estrangeiro ou semelhante hostil, sobre o qual se catalisa a ansiedade do desconhecido. No final, medo de si mesmo, desse eu coletivo cujos referenciais agora são incertos. Sem dúvida, as elites no poder não foram capazes de fazer as escolhas econômicas ou políticas certas. Sentiram falta da modernização de seu país e não parecem prontos para reconhecê-la. A menos que este país tenha acabado de perder uma guerra? Ou ele está prestes a perdê-la? Em qualquer caso, a sociedade está "desmoronando" e o medo está dominando a mente das pessoas. É normal que procuremos conhecer as causas daquilo que inspira medo. Acredita-se que o conhecimento dessas causas dará os meios para controlá-la, se não eliminá-la. Podemos dizer a nós próprios: “Se estamos aí é porque os dirigentes do nosso país não fizeram as escolhas certas ... Somos comandados por pessoas incompetentes que devem ser substituídas ... Melhor, aliás, que Eu me comporto de uma maneira diferente. Conforme assumimos o controle da situação, nos capacitaremos para dissipar nosso medo. “Mas outra resposta é não se questionar, nem o seu grupo mais do que você mesmo, e dizer:“ Se tudo dá errado, se temos medo, é por causa dessas pessoas. é por causa deles. »Consequentemente, este medo difícil de compreender, de canalizar, encontra um receptáculo que apresenta uma grande vantagem: não há necessidade de nos questionarmos. Em suma, a angústia se transfere para esse “eles” que passamos a odiar. Quanto maior o ódio, mais fraco é o medo. Porque é o ódio que surge do medo e não o contrário. O medo, entretanto, é
necessário para alimentar o ódio. Pense nessas palavrasde Georges Bernanos durante a Guerra Civil Espanhola: “O medo, o verdadeiro medo é o delírio furioso; de todas as loucuras de que somos capazes, é sem dúvida a mais cruel. Nada é igual a seu impulso, nada pode sustentar seu choque. A raiva que se assemelha a ela é apenas um estado passageiro, uma grande dissipação das forças da alma. Além disso, ela é cega. Tema o contrário, desde que supere as primeiras angústias, como com o ódio compostos psicológicos mais estáveis . " No entanto, alguns ajudam precisamente a estruturar esse medo em ódio. São esses que já diziam: “Somos vítimas da história. Se formos vítimas, temos o direito de nos defender contra elas! Além disso, eles já não nos massacraram no passado? Lembre-se daqueles ustashas (nacionalistas croatas) que assassinaram milhares de sérvios durante a última guerra! Lembre-se daqueles chetniks (nacionalistas sérvios) que massacraram milhares de croatas! E os Inyenzi (combatentes tutsis) que atacaram nosso país nos anos 1960, matando nossas mulheres e nossos filhos, aqui estão voltando hoje para fazer o mesmo. O despertar de memórias dolorosas, de traumas que ainda estão vivos, permite justamente despertar o medo e construir o ódio. Um ódio que pode então ser projetado em ação, forte com um desejo de vingança. Porque a percepção comum de um perigo desastroso cria o sentimento do trágico, observa a antropóloga Véronique Nahoum-Grappe. Uma situação dita trágica não tem saída, ela obriga a ação humana, muitas vezes violenta, que tem todas as chances de terminar mal. E alimentada pela memória ferida dos massacres do passado, esta situação desperta irresistivelmente “o desejo, a obrigação, o dever para com os mortos de se vingar ” . 63
64
Conspiração e paranóia A ideia de que um inimigo externo ameaça o país reforça consideravelmente esse sentimento de angústia e morte. Até agora, a análise se concentrou aqui apenas nas diversas representações de um inimigo interno a ser desmascarado. Mas esse imaginário do medo não se contenta com ele: também se projeta em um Outro perigoso, fora do país. Esse inimigo que ameaça as fronteiras chama muito mais um vocabulário de guerra. É o encurtamento entre essas duas figuras do inimigo - interno e externo - que confere a essas representações imaginárias um potencial propriamente explosivo para a violência, que agora podemos temer que um dia se materialize na realidade. É aqui que a retórica da conspiração pode levantar voo. Nem é preciso dizer: esse inimigo interno é apoiado por um inimigo externo. Na verdade, eles são os mesmos que querem nossa morte. Já os judeus teriam dado uma “facada nas costas” da Alemanha, causando a derrota, no final da Primeira Guerra Mundial. A propaganda nazista vai ainda mais longe, associando-os ao surgimento do "perigo vermelho" na Europa desde a Revolução Comunista Russa de 1917. A partir da década de 1920, Hitler associou a ameaça judaica à do bolchevismo, para finalmente construir o amálgama. horrível de "Judeo-Bolchevismo". Antes mesmo da publicação de seu livromanifesto, Mein Kampf , em 1923, “sua concepção do vínculo absolutamente essencial entre o anti-semitismo e o antibolchevismo assume a forma definitiva que guiará sua missão política até o fim ” . Assim, o inimigo está fora da Alemanha e na Alemanha, e essa dupla ameaça constitui o grande perigo contra o qual o povo alemão deve reagir. O sucesso dos Protocolos dos Sábios de Sião também é indicativo da natureza inseparável da percepção comum das ameaças judaicas e bolcheviques. Este documento é fabricado pela polícia czarista no final do XIX século: um membro do governo judeu (de Sião) estão expostos no curso 65
°
de vinte e quatro reuniõessegredo, o caminho para alcançar a dominação mundial. O documento permaneceu praticamente ignorado até a revolução bolchevique de 1917. Foi o medo despertado por este em toda a Europa que deu "credibilidade" a este documento, por incrível que fosse (afirmase, por exemplo, que os judeus usarão túneis de metrô para explodir capitais europeias!). A presença de judeus entre os bolcheviques “prova” a tese dos Protocolos , nomeadamente a de uma “conspiração judaica mundial”. Na própria Alemanha, no contexto traumático da derrota, terão um impacto importante, porque fornecem uma “explicação” para os infortúnios que se abatem sobre o país . Os revolucionários espartaquistas não queriam tomar o poder apenas dois meses após a capitulação? Na verdade, era a prova da conspiração judaico-bolchevique. Assim, "os Protocolos estão associados ao perigo comunista e trazem ao seu paroxismo a paranóia que prevalecia naqueles anos de desastre ". "Paranóia": a palavra é adequada. Porque a maneira como essas representações imaginárias do inimigo são estruturadas nos faz pensar nas descrições que a psiquiatria faz das personalidades paranóicas. Os traços do caráter paranóico podem ser reconhecidos na associação de desconfiança (agressividade exagerada para com os outros), psicorigidez (incapacidade de questionar o próprio sistema de valores), hipertrofia do ego (que pode ir até a megalomania) , o falso julgamento que constitui o traço essencial de uma personalidade paranóica . A lógica do paranóico é distorcida pela paixão, o que o leva a uma interpretação delirante da realidade. As ideias são guiadas por uma crença a priori . A dúvida é tão estranha para o paranóico quanto é autocrítica. Seu raciocínio aparentemente racional é, na verdade, hipereficaz por natureza e, em última análise, apenas representa a justificativa para suas tendências emocionais. O paranóico raciocina corretamente, mas com base em premissas falsas. Este ponto de partida parece óbvio para ele, por causa de um a priori subjetivo de que ele éincapaz de questionar. Esse falso julgamento significa que o paranóico está sempre próximo dos problemas reais, parece fora da realidade, imune às opiniões dos outros. Suas faculdades intelectuais estão, entretanto, intactas. Seu discurso tira seus argumentos da realidade, mas para dar uma interpretação imaginária. Todas as suas dificuldades, todos os seus fracassos, o paranóico imputa aos outros. Ele não pode se questionar: é porque o mundo é mal feito ou é que o queremos muito. Suas interpretações mantêm plausibilidade e podem despertar o apoio daqueles que o cercam. 66
67
68
Racionalidade delirante Até que ponto a descrição de tal estrutura psicológica pode se aplicar a um grupo, ou mesmo a uma sociedade? Essa generalização do individual para o coletivo, do psicológico para o social, permanece problemática. E os raros ensaios psicanalíticos sobre grandes figuras históricas como Hitler ou Stalin foram decepcionantes . Se a abordagem psicológica às vezes possibilita um olhar fecundo para os fenômenos da violência coletiva, ela não pode substituir o trabalho histórico ou sociológico propriamente dito. Cabe sempre ao historiador ou cientista político fazer um uso preciso e sutil dela para dar mais relevância e profundidade à sua própria pesquisa. Nesse sentido, a obra do historiador americano Saul Friedlander parece exemplar, notadamente em seu notável ensaio L'Allemagne nazie et les juifs. Falando especificamente do “discurso paranóico” dos nazistas, escreveu: “Somos confrontados com uma patologia coletiva, com a patologia social de uma seita; Agora é raro que uma seita se torne um partido político moderno, e é ainda mais raro que seu líder e seus seguidores mantenham seu fanatismo inicial, uma vez que tenham o poder . 69
70
Mas a questão, que permanece sem solução, é entender como a visão de mundo dessa "seita" consegue irrigar um todo social mais amplo, a ponto de parecer comum a todos. O vetor de tal propagação parece ser um discurso de natureza paranóica que une o "nós".através de sua má percepção de "eles". Aos olhos de um observador externo, este discurso parece verdadeiramente “louco”, ao mesmo tempo que suscita uma adesão coletiva em “nós”. Aparentemente irracional, ele obedece a um argumento lógico. Propus a noção de “racionalidade delirante” para caracterizar esse núcleo retórico a partir do qual se constrói um processo de violência que pode levar ao massacre . Essa racionalidade pode, se necessário, basear-se em um discurso supostamente científico, como o cientificismo que leva a justificar o racismo. Assim, o argumento nazista apóia-se na teoria da evolução de Charles Darwin para defender o que é chamado de "darwinismo social". Da seleção natural entre as espécies animais passa-se facilmente ao princípio da guerra vital entre as "raças", neste caso uma "luta pela existência entre a raça produtiva germânica-ariana e a parasitária raça judia". Mas a principal característica desta racionalidade delirante é também querer ser “instrumental”, no sentido atribuído a esta palavra por Max Weber: visa dar-se os meios concretos para atingir os seus objetivos. É sobre implementar um plano, uma estratégia, para fazer o que você diz. A característica dessa racionalidade delirante é, portanto, não apenas estruturar em um discurso ideológico suficientemente elaborado as figuras do inimigo a serem destruídas. É também permitir que esse discurso passe para uma prática de destruição. Aqui, novamente, percebemos a permeabilidade entre o imaginário e o real. Aqueles que transmitem tal discurso devem ser qualificados como personalidades paranóicas? Provavelmente sim, como Stalin ou Hitler. Mas a dúvida é imposta a outros líderes. É este, por exemplo, o caso de Milosevic? O paranóico acredita no que diz. Não é certo que isso possa ser dito de Milosevic, cujos estudos mostram a conveniência política de se converter do comunismo ao nacionalismo. Mas esse ponto não parece decisivo. Maquiavel demonstrou suficientemente que a arte da política não consiste tanto em acreditar quanto em fingir. Claro, o carisma do líder pode ser um fator catalisador fundamental na dinâmica coletiva de um povo, como no caso da Alemanha nazista. Mas muitos países forama cena de violência em massa sem um líder carismático estar na origem de seu surto. Por isso, daria mais importância à natureza do discurso que é oferecido ao público em situação de crise. É a estrutura e os temas desse discurso que vão ou não ganhar seu apoio. No entanto, em uma situação de crise profunda, a fala do tipo paranóico é terrivelmente atraente. Ele tem a capacidade de capturar emoções coletivas canalizando-as para uma figura do inimigo em grande parte ou totalmente imaginária. E o discurso racional que acompanha essa operação psicológica pode não apenas despertar convicção, mas mobilizar o grupo para a ação; daí a periculosidade dessa racionalidade delirante. Vemos, assim, que este imaginário do medo, que se enraíza na realidade, ao propor uma interpretação imaginária, “volta” de certa forma à realidade ... mas para agir. Aqui tocamos em uma das chaves para entender a passagem para agir. Convencidos da iminência do perigo, desenvolvido a partir de um imaginário de medo, os homens são impelidos a se darem os meios racionais para erradicar essa ameaça. Raymond Aron explorou esse ponto em um texto luminoso sobre o extermínio dos judeus: “Quanto ao genocídio, correndo o risco de escandalizar, eu diria que a aparente irracionalidade resulta de um erro de perspectiva. Hitler havia proclamado repetidamente, principalmente nos primeiros dias das hostilidades, que os judeus não sobreviveriam à guerra que ele afirmava ter começado. Não acreditamos em sua palavra, não 71
queríamos acreditar; mas, como dizemos em inglês, ele quis dizer isso . Se aceitarmos que a liquidação dos judeus, do “veneno judeu”, do “sangue corruptor”, era o objetivo prioritário de Hitler, a organização industrial da morte torna-se racional como meio para o fim : genocídio. Mas Raymond Aron imediatamente se pergunta sobre os fundamentos dessa racionalidade: "Na medida em que a noção de racionalidade não está separada da razão e esta se opõe às paixões, tal objetivo exclui a razão." Uma única paixão desencadeada ou ansiedades inconscientes ditam tal decisão. Essa racionalidade deve andar de mãos dadas com a razão, embora seja claramente o produto da "paixão desenfreada ou ansiedades inconscientes". Ele se pergunta: "Que força impessoal, que função social podemos evocar? Eu vejo apenas uma conclusão desarmante: a causa do genocídio foi o ódio obsessivo (que talvez se enquadrede psiquiatria) de um pequeno grupo de homens que chegaram ao poder em consequência de uma crise nacional ou social. O detonador de uma explosão não é necessariamente da mesma ordem de magnitude que a explosão . " Assim, a pressão desse imaginário do medo, como detonador (e, eu acrescentaria, como “combustível”) empurra inexoravelmente para a ação racionalmente organizada. O "nós" deve darse os meios para eliminar esta ameaça "eles" tanto de dentro como de fora, agora percebida como um inimigo total. Segundo alguns autores, essa dinâmica de conflito é específica dos sistemas totalitários. No entanto, esse confronto radical entre “nós” e “eles” pode ser observado em outros contextos de crise. Tudo se passa como se esse conflito imaginário tomasse a configuração de um dilema de segurança imperioso, afirma o cientista político Barry Posen, um dilema comparável a uma situação de guerra: somos “eles” ou “nós” que “passamos” . Se essa retórica da sobrevivência de "nós" pela destruição de "eles" já está presente na propaganda nazista dos anos 1920, também a encontramos às vésperas de inúmeros conflitos qualificados como "étnicos" ou "religiosos". , como entre sérvios e croatas . O senso de identidade do grupo vizinho é visto como uma ameaça mortal. Então a ação se torna inevitável: já que eles querem nos matar, devemos matá-los primeiro. 72
73
74
Destrua o "eles" para salvar o "nós" A iniciativa de destruí-los é, portanto, semelhante a uma operação pela sobrevivência de "nós", uma "guerra de autodefesa", como diremos em Ruanda. Enfim, é uma empresa de prevenção da violência contra si mesmo! Aquele que se tornará o assassino se apresentacomo a vítima. O que poderia ser mais lógico: ele já adotou esse perfil de vítima através de seu discurso acusatório, ele o preserva e o reforça ainda mais na hora de agir. De antemão, ele se apresenta como inocente do crime de que vai ser acusado. Chegamos ao limiar da guerra. A radicalidade do antagonismo amigo / inimigo faz então pensar na concepção de Carl Schmitt do político, que sustenta que a percepção do inimigo a ser destruído é a própria essência do político: “A distinção específica do político, que pode ser reduzir a atos e motivos políticos, é a discriminação do amigo e do inimigo . Ele descobre a expressão mais perfeita disso no discurso de Cromwell contra os espanhóis ou nas declarações inflamadas de Saint-Just contra os “inimigos do povo”. A guerra será apenas a atualização final dessa hostilidade. Não é surpreendente que Schmitt, que formula seu pensamento no período da ascensão do nazismo e que é, além disso, anti-semita, venha a desenvolver uma visão tão radical da política. Pensamentos de violência muitas vezes se desenvolveram em um contexto de violência extrema, como Thomas Hobbes escrevendo seu Leviatã durante a Guerra Civil Inglesa. Certamente podemos defender uma concepção contrária à de Schmitt (por exemplo, que a quintessência da 75
política reside antes na construção do espaço público, na reconciliação dos opostos, na busca de consensos, na convivência, etc.) , o que ele nos diz parece bem fundamentado: em momentos de alta tensão social, qualquer terceiro mediador desmorona e a relação conflituosa se reduz ao confronto radical entre amigos e inimigos, tanto imaginários quanto físicos. A representação deste "Outro Total", totalmente inimigo, junta-se então à da essencialização da sua diferença. "Ele" não tem mais nada em comum com "nós". A barreira simbólica de A diferença permanece muito simplesmente insuperável. Esse Outro, totalmente diferente, já não era mais verdadeiramente humano. Mas mais do que animalizado, esse Outro em processo de se reificar para ser quase nada, uma coisa simples? Simone Weil também o observa com simplicidade brutal: “A violência é o que torna qualquer pessoa uma coisa.Quando exercida até o fim, ela faz do homem uma coisa, no sentido mais literal, porque faz um cadáver . " Então o círculo está fechado. Começamos com a construção da identidade pela marcação da diferença. Vimos que esse processo de identidade se radicaliza ao reivindicar pureza contra um “Outro” percebido como sujo, estrangeiro, corrupto e traidor. Mas o medo despertado pela ameaça de sua diferença maligna acaba por convidá-lo a rejeitá-lo, ou mesmo destruí-lo: a segurança obriga. E esta natureza radical da destruição de “eles” obviamente marca a onipotência de um “nós” triunfando sobre a morte. Não fiquemos, entretanto, na ideia de que esses imaginários de destruição e onipotência são construídos de forma linear. Esses três temas estão, na verdade, entrelaçados e se reforçam, circulando em loops relativos uns aos outros. Eles também não têm a mesma função nessa alquimia imaginária do inimigo. A identidade fornece a estrutura na qual o processo de violência tomará forma. O desejo de pureza endurece este quadro de identidade, enxertando nele um tema do sagrado, religioso ou secular, que assim cai no absoluto. A necessidade de segurança, em sintonia com o contexto de crise que levou ao desenvolvimento desta formação imaginária, torna urgente a ação. Eu diria, portanto, que esse núcleo psicológico elementar, enraizado no imaginário infantil, está na raiz dos processos de violência, que podem levar ao massacre. Podemos supor que esse núcleo psíquico, precisamente por ser elementar, é de natureza universal. Denominador comum da espécie humana, transcende suas diferenças culturais. Obviamente, sua concretização política varia de um país para outro, de um continente para outro: os processos de violência, mais ou menos intensos, sempre terão características singulares. No entanto, não hesitaria em usar esta metáfora explosiva: é a manipulação deste núcleo imaginário num contexto de crise que corre o risco de virar dinamite! Este ainda é apenas “material psíquico”, que só se torna verdadeiramente destrutivo ao “entrar em uma reação” em um contexto social particularmente provocador de ansiedade. Como avaliar concretamente a força praxológica desse imaginário do inimigo? De que forma pode, portanto, ter efeitos concretos nos eventos sociais e políticos? Certos trabalhos fornecem caminhos para reflexão fecunda. Assim, na história, Georges Lefebvre mostrou brilhantemente como o que chamou de “Grande Medo”, durante o verão de 1789, teve um papel determinante na mobilização dos camponeses durante a Revolução Francesa. . As campanhas foram então vencidas por um movimento de pânico que se alimentava de si mesmo: o medo de uma conspiração dos aristocratas para mandar "bandidos" para destruir as plantações e matar a população de fome. É no contexto dessa vasta emoção coletiva (com raízes diferentes dependendo da região) que a agitação camponesa ganhou força contra um inimigo designado: o senhor. O Grande Medo não foi um "epifenômeno", especifica Georges Lefebvre: "Ao pânico sucedeu uma reação vigorosa na qual o ardor guerreiro da Revolução é discernível pela primeira vez e que dá a unidade nacional com a oportunidade. manifestar e fortalecer . " 76
77
Em economia ou sociologia, também se admite que as representações imaginárias podem criar a realidade. Esse é notadamente o fenômeno denominado, segundo o sociólogo americano Robert Merton, pela expressão “profecias autorrealizáveis”: se os homens definem as coisas como reais, elas se tornam reais em suas consequências . Merton estudou vários casos: o da falência de um banco próspero em 1932 devido a rumores de insolvência, o de uma guerra tornada inevitável pela crença na sua inevitabilidade. Na época, o economista Keynes observou fenômenos semelhantes. O “profeta” argumentará a partir dos eventos para afirmar que ele estava certo: “Eu disse a você. Uma falsa descrição da situação causa um comportamento que a torna verdadeira. Essa linha de interpretação é facilmente aplicável a conflitos étnicos e situações genocidas. Assim, de acordo com Jean-François Bayart, “em Ruanda e Burundi, a qualificação étnica das clivagens políticas e sociais opera [...] como uma profecia autorrealizável,cada um dos campos presentes presumindo que seu adversário planejou seu extermínio e agindo de acordo. Esta é uma situação extrema. No entanto, ela lembra que a fantasia da trama é uma figura forte e universal no imaginário político ”. Devemos, então, considerar que esse imaginário político de destruição de um “Outro”, que se cristaliza em um discurso público, é suficiente para precipitar a passagem ao ato? Isso equivale a levantar o problema da intenção na execução do massacre: este será o assunto do próximo capítulo. 78
79
1. Gaston Bouthoul, The Deferred Infanticide , Paris, Hachette, 1970. 2. As estimativas do número de judeus residentes na Alemanha no final da década de 1920 variam de autor para autor. Confio aqui na avaliação proposta por Renée Neher-Bernheim em História Judaica da Revolução no Estado de Israel , Paris, Le Seuil, 2002. 3. Claude Lévi-Strauss, Race and History (1952), Paris, Gallimard, coll. "Folio Essays", 1987, p. 22 4. Jean-François Bayart, L'Illusion identitaire , Paris, Fayard, 1996. 5. Robert Kaplan, Balkan Ghosts , Nova York, Saint Martin's Press, 1993. 6. Marc Levene, “Introdução”, em Marc Levene e Penny Roberts (eds.), The Massacre in History , Nova York, Bargain Books, 1999, p. 19 7. Estima-se que essa purificação pelo massacre, operado entre 15 de maio e 15 de junho de 1945, teria matado pelo menos 30.000 pessoas. Ver sobre este assunto Milovan Djilas, A war in the war. Iugoslávia, 1941-1945 , Paris, Robert Laffont, 1980. 8. Harold Lydall, Yugoslavia in Crisis , Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 9 9. Em 1991 (data do último censo), a população total era de 7,15 milhões. Ruanda tinha a maior densidade do continente, com 271 habitantes por quilômetro quadrado, na verdade mais de 300 se descontarmos as áreas inabitáveis (parques e reservas). Além disso, a taxa de urbanização foi de apenas 7%. 10 .
Danielle de Lame, “The Rwandan Genocide and the Wide World. Laços de sangue ”, Anuário da África dos Grandes Lagos , 1996, p. 156-177. 11 . Norman Cohn, History of a Myth. The Jewish “conspiracy” e “The Protocols of the Elders of Zion” , Paris, Gallimard, 1967, p. 248 sq . 12 . Albert Einstein e Sigmund Freud, Por que a guerra? , Liga das Nações, Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, 1933. 13 . Melanie Klein, Essais de psychanalyse , Paris, Payot, 1972. 14 . Freud já havia desferido um sério golpe nisso ao falar da criança como um "pervertido polimórfico". 15 . O bebê não tem noção do tempo. Ele mal entende por que o seio não vem quando ele chora. Ele vê isso como a ação de um "objeto ruim" contra o qual desenvolve fantasias destrutivas. Por outro lado, a satisfação oral com a amamentação, da qual depende toda a sua vida infantil, faz com que ele experimente sentimentos de contentamento e onipotência, e perceba o seio como um "objeto bom". A mãe seria então experimentada, em um nível muito primitivo, como um bom objeto a ser preservado e um mau objeto a ser destruído. 16 . Franco Fornari, Psychanalyse de la Situation Atomique , Paris, Gallimard, 1969, p. 36 17 . Franco Fornari, op. cit. , p. 35 18 . Ibid. , p. 65 19 . Veja a respeito a introdução do cap. II, onde se faz referência à teoria de Norbert Elias. 20 . Frank Chalk e Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide , New Haven, Yale University Press, 1990. 21 . Bruno Bettelheim, Psychanalyse des tes de fées , Paris, Robert Laffont, 1967. 22 . Paul Valéry, Regards on the current world and other essays , Paris, Gallimard, 1945, p. 43 23 . George L. Mosse, da Grande Guerra ao Totalitarismo. A brutalização das sociedades europeias , Paris, Hachette Littératures, 1999. 24 . Philippe Burrin, Ressentimento e Apocalipse. Ensaio sobre o anti-semitismo nazista , Paris, Le Seuil, 2004, p. 79-80. O autor especifica que toma a noção de “poder existencial” do filósofo Eric Voegelin. Para uma abordagem filosófica desta noção, ver em particular Paul Zawadski, “Le resentiment et igualdade. Contribuição para uma antropologia filosófica da democracia ”, in Pierre Ansart (ed.), Le Ressentiment , Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 31-56. 25 .
Veja Joseph Krulic, História da Iugoslávia , Bruxelas, Complexo, 1993. 26 . John B. Allcock, Explicando a Iugoslávia , Londres, Hurst, 2000. 27 . Ibid. , p. 418. 28 . Jean-Pierre Chrétien, África dos Grandes Lagos. Dois mil anos de história , Paris, Aubier, 2000; Mahmood Mamdani, quando as vítimas se tornam assassinas. Colonialism, Nativism and the Genocide in Ruanda , New Jersey, Princeton University Press, 2002. Citemos também o importante trabalho da socióloga francesa Claudine Vidal, que, depois de viver vários anos em Ruanda, fez um estudo aprofundado dessas representações " étnica ”em Sociologie des passions , Paris, Karthala, 1991. 29 . Mesmo que houvesse fazendeiros entre eles, e vice-versa em relação aos hutus. 30 . Segundo estatísticas ainda aproximadas, os hutus constituem 84% da população, os tutsis aproximadamente 15% e os twa 1%. Estes últimos, muito diferentes dos anteriores, são pequenos; eles vivem da agricultura e do artesanato. 31 . Voltaremos ao início do cap. II sobre seu papel histórico, como intelectual, depois como figura política, importante na construção da identidade republicana ruandesa em bases “étnicas”. 32 . Assim, o primeiro capítulo de seu livro é intitulado “A sociedade ruandesa e o impacto da colonização ou a construção de uma mitologia cultural (1894-1959)”. Ver Gérard Prunier, The Rwanda Crisis. History of a Genocide , Londres, Hurst, 1995; trad. Fr. : Ruanda, 1959-1996. História de um genocídio , Paris, Dagorno, 1997. 33 . Denis-Constant Martin, carteiras de identidade. Como você diz "nós" na política? , Paris, Presses de la FNSP, 1994, p. 31-32. 34 . Benedict Anderson, The National Imaginary. Reflexões sobre a origem e ascensão do nacionalismo , Paris, La Découverte, 1996. 35 . Ernest Gellner, Nations et Nationalisme , Paris, Payot, 1989. Ver também Anne-Marie Thiesse, The Creation of National Identities. Europa xviii th -XX th século , Paris, Le Seuil, 1999. 36 . Os Ustasha (a palavra significa "insurgentes") Anton Pavelic aliaram-se a Hitler para criar um estado fascista croata, enquanto os chetniks de Draza Mihajlovic lutaram contra a ocupação alemã e, portanto, também contra os nacionalistas croatas. A palavra Chetniks vem de Chetna , que significa "bando armado ", uma designação tradicional para combatentes nacionalistas contra os turcos. 37 . Michel Wieviorka (ed.), La Difference , Paris, Baland, 2002. 38 . Michel Hastings, “Imaginários de conflitos e conflitos imaginários”, em Michel Hastings e Élise Feron, L'Imaginaire des conflitos communautaire , Paris, L'Harmattan, 2002, p. 45 39 .
Sigmund Freud, Psicologia coletiva e análise do ego , Paris, Payot, 1962, p. 52-53. 40 . Michael Ignatieff, The Warrior's Honor. Guerra étnica e consciência moderna , Paris, La Découverte, 2000, p. 53 41 . Victor Klemperer, quero testemunhar até o fim , Paris, Le Seuil, 2000, 2 vols. 42 . Ver, por exemplo, Alain Blum, Bearing, Living and Dying in the USSR (1917-1991) , Paris, Plon, 1994. 43 . Marie Kahle, Todos os alemães não têm um coração de pedra , Paris, Liana Levi, 2001, p. 27. Outro livro importante testemunha as maneiras nazistas de fazer as coisas em uma escala local: William S. Allen, Une petite ville nazie: 1930-1935 , Paris, Laffont, 1967. 44 . Claude Lefort, The Democratic Invention. Os limites da dominação totalitária , Paris, Fayard, 1994. 45 . Mary Douglas, do Taint. Ensaio sobre as noções de poluição e tabu , Paris, La Découverte, 2001. 46 . Sobre este assunto, ver André Pichot, La Société pure de Darwin à Hitler , Paris, Flammarion, 2000. 47 . Este segundo texto considera que “cidadania” diz respeito apenas aos indivíduos de “sangue alemão”, os únicos “titulares de plenos direitos políticos”. 48 . Philippe Burrin, Resentment and Apocalypse , op. cit. , p. 58 49 . Ivan Colovic, "Os mitos políticos do nacionalismo étnico ", Trans Europeans , 1994, p. 61-67. Veja também seu livro The Politics of Symbol in Serbia. Essays on Political Anthropology , Londres, Hurst, 2002. 50 . Citado por Ivan Colovic, "Os mitos políticos do nacionalismo étnico", art. cit . , p. 65 51 . Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explicando Ethnic Cleansing , Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 3 52 . Veja seu cap. IV, “Democracia Genocida no Novo Mundo”, p. 70-110, que é um dos mais convincentes em seu livro quanto à sua tese sobre as relações fundadoras entre democracia e "limpeza étnica". 53 . Ver em particular Stéphane Courtois, “Les crimes du communisme”, em Stéphane Courtois (ed.), Le Livre noir du communisme , Paris, Robert Laffont, 1997, p. 19 54 . Michael Mann, The Dark Side of Democracy , op. cit. , p. 17 55 .
Alison Des Forges explica que esse termo já era usado para designar os tutsis que invadiram Ruanda em 1963. Ele foi usado novamente na década de 1990 para designar o RPF. Ver Alison Des Forges (ed.), No Witness Shall Survive. O genocídio em Ruanda , Paris, Karthala, 1999, p. 66 56 . Dominique Colas, Le Léninisme (1982), Paris, PUF, col. “Quadrige”, 1998; citações do cap. VIII, “Purificação”, da seção “Limpando o solo russo”, p. 196-201. 57 . Citado em Stéphane Courtois (ed.), Le Livre noir du communisme , op. cit. , p. 631. 58 . Todas essas citações foram retiradas de Dominique Colas, Le Léninisme , op. cit. , cap. VIII, "A purificação, prática central do leninismo", p. 195 sq . 59 . David Chandler, Le Crime impuni des Khmers Rouges , Paris, Autrement, 2002, p. 65 60 . Nicolas Werth, “Um Estado contra o seu povo: violência, repressão, terror na União Soviética”, in Stéphane Courtois (ed.), Le Livre noir du communisme , op. cit. , p. 49-295. 61 . Jean-Clément Martin, “A Revolução Francesa: genealogia do inimigo”, em Razões políticas , n ° 16, novembro de 2004; veja também o cap. IV e V de seu livro Counter-Revolution, Revolution and Nation in France, 1789-1799 , Paris, Le Seuil, coll. "Points", 1998. 62 . Citado por David Chandler, The Unpunished Crime ofthe Khmers Rouges , op. cit. , p. 65 63 . Georges Bernanos, Os Grandes Cemitérios sob a Lua , Paris, Plon, 1938, p. 83-84. 64 . Véronique Nahoum-Grappe, Do sonho da vingança ao ódio político , Paris, Buchet-Chastel, 2003, p. 106 65 . Ian Kershaw, Hitler. Ensaio sobre o carisma na política , Paris, Gallimard, col. "Folio History", 1995. 66 . Trinta e três edições apareceram nos anos que antecederam a ascensão de Hitler ao poder e inúmeras se seguiram. Ver Norman Cohn, Les Fanatiques de l'Apocalypse , Paris, Julliard, 1962; Pierre-André Taguieff, The Protocols of the Elders of Zion , Paris, Berg International, 1992, 2 vol. 67 . Saul Friedlander, a Alemanha nazista e os judeus. Os anos de perseguições (1933-1939) , Paris, Le Seuil, 1997, p. 104 68 . Michel Hanus, Integrated Student Psychiatry , Paris, Maloine, 1975. 69 . Estou pensando aqui acima de tudo em Erich Fromm, The Passion to Destroy , Paris, Robert Laffont, 1974, que contém dois estudos psicanalíticos sobre Hitler e Stalin (um livro interessante). 70 .
Saul Friedlander, Alemanha Nazista e os Judeus , op. cit. , p. 108 71 . Jacques Sémelin, “Do massacre ao processo genocida”, Revue internationale des sciences sociales , n ° 174, dezembro de 2002, p. 483-491. 72 . Raymond Aron, “Is There a Nazi Mystery? », Comentários , vol. 2, n ° 7, outono de 1979, p. 349. 73 . Barry R. Posen, “The Security Dilemma and Ethnic Conflict,” Survival , vol. 35, n ° 1, primavera de 1993, p. 27-47. 74 . O cientista político francês de origem libanesa, Joseph Maïla, oferece a esse respeito uma interessante leitura dos conflitos étnicos e religiosos no contexto da “globalização”: “Identidade e violência política”, Estudos , outubro de 1994, p. 293-312. O escritor francófono de origem libanesa, Amin Maalouf, também escreveu um belo livro sobre o tema: Les Identités meurtrières , Paris, Grasset, 1998. 75 . Carl Schmitt, “La notion de politique”, Théorie du partisan , Paris, Flammarion, 1992, p. 64 76 . Simone Weil, “A Ilíada ou o poema da força”, em La Source grecque , Paris, Gallimard, 1953, p. 12-13. 77 . Georges Lefebvre, La Grande Peur de 1789, seguido por The Revolutionary Crowds (1932), Paris, Armand Colin, 1988, p. 232 78 . Merton inspirou-se nesse ponto pela definição de "situação" proposta por um dos pioneiros da sociologia americana, WI Thomas. Ver Robert K. Merton, Elements of sociological method , Paris, Plon, 1953, cap. IV. 79 . Jean-François Bayart, L'Illusion identitaire , op. cit. , p. 179.
CAPÍTULO II Do discurso inflamatório à violência sacrificial Como esse imaginário de onipotência e destruição, descrito acima, pode afetar gradativamente uma sociedade, dar origem a um verdadeiro discurso inflamatório e, em última instância, ter efeitos sociais cada vez mais devastadores? Temos duas grandes explicações teóricas, contraditórias, elaboradas a partir da história europeia. O primeiro vem principalmente dos alunos de Norbert Elias, que propuseram a ideia de um "processo de descivilização", trabalhando em uma direção contrária à evolução que o sociólogo alemão havia percebido na Europa da Idade Média à XIX século. A hipótese geral de Elias é que a formação do Estado, por meio da monopolização da violência (e da tributação), leva gradativamente a modos mais "civis" ou civilizados de relacionamento entre os indivíduos, resultando em uma diminuição em todas as formas de comportamento violento, incluindo a violência do Estado. Com o tempo, da mesma forma que os indivíduos se escondem para defecar, urinar, ocultar a nudez, etc., vemos um afastamento da própria violência . No entanto, nesta sociedade gradualmente pacificada, a violência ainda está presente e pode voltar a surgir: daí a ideia de um possível processo de "descivilização" que conduza a uma regressão à barbárie. Segundo Jonathan Fletcher, isso já é observável na Alemanha, muito antes da ascensão de Hitler ao poder, na República de Weimar . A segunda explicação leva exatamente o oposto desta tese. Formulado por Zygmunt Bauman, observa que é precisamente na sociedade europeia mais civilizada, em que a cultura e a arte atingiram patamares de requinte e inteligência, e onde - aliás - a integração do Os judeus foram os que mais progrediram, isso será decidido seu extermínio. Para Bauman, o processo que conduziu a Auschwitz é tipicamente uma expressão de modernidade, como seu livro de 1989 sugere explicitamente . A civilização moderna certamente não foi a condição suficiente para a destruição dos judeus europeus, mas foi a condição necessária. Sem isso, seu assassinato em massa seria inimaginável. Este evento monstruoso não é um acidente da história, mas um produto da racionalidade moderna da burocracia e da tecnologia. É possível conciliar essas duas teorias mostrando, por exemplo, como pensa o sociólogo holandês Abram de Swaan, que elas realmente olham para os mesmos fenômenos, mas adotando ângulos de análise diferentes ? Obviamente, os autores não atribuem necessariamente ao termo "civilização" o mesmo significado. Quanto à "modernidade", que Bauman nunca define muito claramente, ela caracteriza muitos outros estados que ainda não se tornaram genocidas. Mas não pretendo aqui me pronunciar a favor de uma ou outra dessas teses. Meu projeto é antes propor uma metodologia de observação que possibilite acompanhar dentro de uma dada sociedade o "processo" em questão, seja ele apreendido ou não desde o ângulo da "descivilização" ou da "modernidade". " Para tal, trata-se de dar a si próprios vários campos de observação, de forma a acompanhar a evolução interna de uma th
1
2
3
4
sociedade, pelo menos nestas quatro áreas-chave: intelectual, política, religiosa e social. Na vida de um país, eles são, é claro, distintos e interligados. No entanto, paracada uma dessas áreas apresenta uma questão crucial que determinará o risco crescente de um ato coletivo de violência em massa. Vou formulá-los da seguinte forma: - Em que medida os “intelectuais” apreendem os temas identidade, pureza e segurança para desenvolver construções ideológicas do inimigo, a partir dos mitos e medos próprios desta sociedade? - Essas construções ideológicas míticas vão se “projetar” na cena política a ponto de inspirar e fundar uma política de Estado? - Esse desenvolvimento político é ao mesmo tempo reforçado, ou mesmo legitimado, pelas principais autoridades morais, notadamente religiosas, do país? - Por fim, os indivíduos, grupos e comunidades deste país mostram-se como um todo receptivos a esta política, principalmente à sua propaganda? Como resultado, o vínculo social e intergeracional, que une as vítimas designadas a outros membros da sociedade, se manterá ou, pelo contrário, entrará em colapso? Essas quatro perguntas formam a espinha dorsal deste capítulo. Com efeito, tudo se passa como se a convergência entre esses diversos registros - intelectual, político, religioso e social criasse as condições ótimas para o desenvolvimento de um processo de "balanço" para o massacre. Em outras palavras, são os regulamentos fundamentais de uma sociedade que são alcançados e orientados para práticas de destrutividade. Procuremos retroceder a evolução que, passo a passo, lenta ou rapidamente, favorece as circunstâncias propícias à transgressão coletiva do princípio que está na base do social: a proibição do homicídio.
O trampolim intelectual Se o massacre procede antes de tudo de um processo mental, é aconselhável estudar prioritariamente a “estrutura intelectual” que dá de antemão um significado à violência em massa. A genealogia dessa estrutura de significado, sempre difícil de trazer à luz, está sujeita a múltiplas interpretações. Para além do emaranhado de variáveis a ter em conta, um traço comum, no entanto, une estes diferentes casos, do ponto de vista da sua génese ideológica. A montante da passagem para o ato violento adequadamenteDito, ainda vemos de fato que seu quadro de significação foi desenvolvido por “intelectuais” que, para trabalhar pela “salvação” de seu país, avançaram análises radicais de sua situação. Essas análises, de fato, levaram à estigmatização deste ou daquele grupo. Estão entre aqueles atores de que falei em termos gerais no capítulo anterior, aqueles que pretendem propor uma “nova solução”, susceptível de restaurar a grandeza deste “nós” sofredor. O termo "intelectuais" talvez nem sempre seja o mais adequado para qualificá-los. Eu uso por falta de melhor . Sem dúvida, poder-se-ia falar mais corretamente de “empreendedores de identidade”, já que seus escritos visam estabelecer que o cerne do problema - e, portanto, sua solução - está na afirmação da identidade de seu grupo contra a ameaça de um outro grupo. Mas pode-se muito bem qualificá-los como “empresários políticos”, pois, por meio dessa defesa da identidade de seu grupo, eles estão, de fato, liderando uma luta política que visa o reconhecimento de seus direitos, senão de sua “superioridade”. 5
Seja como for, a grande maioria deles pertence a profissões da mente, educação, conhecimento ou ciência. São professores ou professores, estudaram sem às vezes concluí-los (podendo assim ter a sensação de serem “fracassados”), são escritores ou jornalistas, académicos, médicos ou engenheiros; eles também podem ser artistas ou homens da Igreja. Na situação de crise do seu país, face às frustrações que eles próprios podem sentir pessoalmente, são eles que muitas vezes começam a formular primeiro uma "solução" para resolver estes problemas, uma solução a que vão. para se esforçar para defender pela força de sua pena ou de sua palavra. Sua responsabilidade pessoal na racionalização intelectual e espiritual de um discurso de identidade é completa.De acordo com as situações históricas, seus respectivos papéis podem ser muito diferentes: ou exercem certa influência sobre quem se tornará o líder político do país, ou desempenham um papel direto no “despertar emocional” de seu povo, ou se transformam. eles próprios como políticos importantes. A título de exemplo, apresentemos os casos de Alfred Rosenberg na Alemanha, Dobrica Cosic na Iugoslávia e Grégoire Kayibanda em Ruanda, sintomáticos de tais desenvolvimentos. Na ascensão do Nacional-Socialismo na Alemanha, não há dúvida de que Adolf Hitler foi o principal vetor de desenvolvimento, tanto como autoridade doutrinária quanto carismática. No início da década de 1920, porém, alguns homens foram capazes de ajudar a alimentar seu pensamento e forjar suas armas ideológicas. Segundo o historiador Ian Kershaw, Alfred Rosenberg, este alemão de origem báltica, é um deles. Ele começou fazendo estudos em engenharia e arquitetura, mas, testemunhando a revolução bolchevique de 1917, ele fugiu da Rússia e tornou-se muito ativo na Alemanha nos círculos "russos brancos". Em 1919, ele se juntou ao que ainda é o embrião do movimento nazista, um simples grupo extremista, na nova República de Weimar. Rosenberg conheceu Hitler lá, este encontro então parecendo ter um papel importante na evolução do pensamento do futuro mestre da Alemanha. No início, nem a Rússia nem o bolchevismo ocupavam de fato um lugar central na ideologia nazista. Mas em contato com Rosenberg, Hitler se familiarizou com a ideia de uma conspiração judaica internacional, desenvolvida em The Protocols of the Sages of Zion . Na verdade, foi Alfred Rosenberg quem, na companhia de outro báltico, Max Erwin Scheubner-Richter, persuadiu Hitler de que o bolchevismo era essencialmente judeu, uma ideia que logo se tornaria a pedra angular de seu edifício ideológico: “Tanto que a extirpação do judaico-bolchevismo parecerá sinônimo de destruição da União Soviética por uma Alemanha em busca de moradia . " Na década de 1920, Rosenberg se tornou o guardião da doutrina geral (Weltanschauung) do Nacional-Socialismo, propagando por meio de seus escritos suas profundas convicções sobre a realidade de uma conspiração judaico-maçônica mundial. Sua obra-prima, O Mito do XX século , publicado em 1930 (portanto, três anos antes de Hitler chegarno poder), se tornará a segunda "bíblia" do nazismo, depois de Mein Kampf . Este livro, que levou anos para ser preparado, é profundamente inspirado nas teorias racistas do conde de Gobineau e Houston Chamberlain. Os mitos de Rosenberg baseiam-se sobretudo na mística da pureza do sangue ariano que, sob o signo da suástica , dá início a uma revolução espiritual mundial: a do «despertar da alma da raça». As artes, as ciências, as leis, os costumes, tudo é visto e analisado do ponto de vista racial, em um estilo muitas vezes obscuro. A história geral do mundo nada mais é do que a história das "raças". Este livro, que se recomenda obter para comprovar as convicções nazistas, é de fato difícil de ler para a maioria. Mas é o próprio Hitler que saberá como alcançá-lo cada vez mais pelo poder de seu verbo. 6
°
Na Iugoslávia, o caso da escritora nacionalista sérvia Dobrica Cosic se apresenta de forma diferente. Ex-protegido do marechal Tito, Cosic é famoso por seus romances históricos que contam o sofrimento e a mágoa dos sérvios durante as duas guerras mundiais . Membro do Comitê Central do Partido Comunista, foi expulso em 1968 por nacionalismo dirigido contra os albaneses do Kosovo. Mas esse rebaixamento não o leva de forma alguma a desistir de suas convicções políticas. Ao ingressar na Academia de Ciências e Artes de Belgrado, em 1977, o escritor voltou a se destacar pela defesa do povo sérvio. Lá se pronuncia uma frase que ficou famosa: “Os sérvios sempre ganharam a guerra e perderam a paz . É uma forma de exaltar o mito do povo martirizado, sempre disposto a se sacrificar pela liberdade, mas, no final, perdendo na paz por cair sob o domínio de outros povos. Assim, Cosic é abertamente o cantor do povo sérvio, que, segundo ele, está esmagado na federação iugoslava e fisicamente ameaçado no Kosovo. Um escritor brilhante, às vezes apelidado de “o Tolstoi sérvio”, ele ajudou a fazer da Academia de Ciências e Artes um bastião do renascimento do nacionalismo sérvio. Em 1986, foi com base nas ideias de Dobrica Cosic que alguns dos seus membros redigiram um memorando que foi convocado a causar rebuliço. Acadêmicos ydenuncia o “genocídio físico, político, jurídico e cultural da população sérvia no Kosovo ”. Não menos ! Também são feitas críticas às repúblicas vizinhas (Eslovênia e Croácia), acusadas de domínio político da Sérvia, e ao sistema federal iugoslavo como um todo, responsável pela "discriminação" supostamente sofrida pelos sérvios dentro da federação. Publicado em 24 de setembro de 1986 em um jornal de Belgrado, o memorando gerou condenação generalizada de líderes políticos da época. Mas uma parte da opinião vê alguns de seus temores justificados pelos membros da prestigiosa instituição. Um político ainda pouco conhecido do grande público, Slobodan Milosevic, compreenderá o interesse que pode derivar das teses defendidas pelos membros da Academia. Em breve, Dobrica Cosic verá em Milosevic o homem de que a Sérvia precisava. O papel do escritor terá, portanto, sido "enfeitiçar a nação", como escreveu um de seus oponentes, o ex-prefeito de Belgrado Bogdan Bogdanovic. Em Ruanda, podemos também dizer que o papel histórico de Grégoire Kayibanda, futuro primeiro Presidente da República, terá sido o de "enfeitiçar" o povo Hutu, desde os primeiros anos da independência do país? Sua trajetória pessoal e política é muito diferente. No entanto, a ideologia da qual ele afirma produzir tanto um discurso inflamatório cujos efeitos destrutivos não tardarão a se manifestar contra a minoria tutsi. Ele deve sua formação intelectual aos “padres brancos” da Igreja Católica, ávidos por promover uma contra-elite hutu, durante os anos 1950. Após seus estudos no seminário maior de Nyakibanda, Grégoire Kayibanda milita cada vez mais a favor dos a emancipação dos hutus, da qual denuncia a opressão da monarquia tutsi. De 1948 a 1952, ele se tornou secretário de amizades belga-ruandês, então editor-chefe do Kinyamateka , o periódico católico mais amplamente distribuído no país. Em 1957, Kayibanda, com alguns outros intelectuais hutus, escreveu uma “Nota sobre o aspecto social da questão racial indígena”, conhecida como “Manifesto Bahutu”. Segundo Gérard Prunier, esse texto representa a primeira internalização política pelos ruandeses da categorização racial introduzida pelo colonizador. Diz: "O problema está na base do monopólio político de uma raça, oMututsi. Nas atuais circunstâncias, esse monopólio político se transforma em monopólio social e econômico [...]. E dada a seleção de fato na escola, os monopólios políticos, econômicos e sociais se transformam em um monopólio cultural que condena o Bahutu ao desespero para ser trabalhadores subordinados para sempre. Kayibanda e seus amigos veem o interesse político em confiar nessa noção de "raça" para anunciar com antecedência que os hutus são os mais fortes porque são os mais numerosos. “Para controlar este monopólio racial”, apontam, “opomo-nos, 7
8
9
neste momento, fortemente à ideia de retirar as menções“ Mututsi ”,“ Muhutu ”e“ Mutwa ”dos documentos de identidade. O seu afastamento acarretaria o risco de impedir o direito estatístico de dar conta da realidade dos fatos . Em outras palavras, a democracia entendida como a lei do maior número deveria se fundir com a "raça" majoritária, ou seja, a dos hutus. Podemos imaginar que, com tais ideias, o futuro se torna preocupante, senão ameaçador, para os tutsis que ainda estão no poder. 10
A criação de mitos acadêmicos Esses três caminhos diferentes mostram como um ensaísta ideológico, um escritor nacionalista, um professor partidário desempenhou um papel importante na formação de um quadro interpretativo a partir do qual novas dinâmicas políticas são postas em movimento. O sucesso de sua leitura da situação de crise depende, então, da maneira como sua ideologia (racista, nacionalista etc.) pode ser enxertada nas representações imaginárias e nos mitos específicos da sociedade. Porque esta alquimia do imaginário, imbricada no real e pela qual se configuram as figuras do “inimigo”, são eles, esses intelectuais, que contribuem para lhe dar sentido. Seu principal papel nesse sentido é forjar - ou recriar - um novo léxico de referência, que se refere tanto a ideias quanto a símbolos ou mitos. A escritora Dobrica Cosic foi particularmente eficaz nessa área, substituindo de certa forma o vocabulário da luta de classes e da fraternidade comunista pelo da etnia sérvia e seus trans.ancestralidade na história. Ele, assim, responder ao final do XX história do século, imagens, próprios mitos nacionalismo sérvio, que tinha sido formado neste país desde o início do XIX século, como na maioria dos países dos Balcãs, em seguida, sob Dominação otomana ou austro-húngara. Em meados da década de 1980, a província de Kosovo, onde os albaneses predominam numericamente, é o exemplo perfeito de aplicação e demonstração de suas ideias nacionalistas pelas quais circulam esses poderosos mitos e explosivos . Em outras situações, a função do intelectual será antes disseminar e adaptar uma ideologia externa a um país, "enxertando-a" no contexto cultural particular daquele país. Tal operação só terá sucesso se conseguir articular essa ideologia com a história, mitos e símbolos próprios deste país. Num interessante estudo comparativo sobre os casos de Ruanda, Bósnia e Camboja, o cientista político americano René Lemarchand, após constatar o peso do fator ideológico (marxismo-leninismo, nacionalismo ou visão pervertida da democracia), acertadamente enfatiza que o impacto dessas ideologias sobre as massas raramente é profundo, especialmente quando elas têm raízes estrangeiras; a menos, diz ele, sua linguagem seja radicalmente transformada e adaptada à cultura local. É a reinterpretação, até mesmo a fabricação de mitos próprios da história desses países que permite que esse “enxerto” ideológico se alastre na cultura local . Por isso, é importante estudar os contos, mitos, rumores e memórias específicas desta cultura, a fim de compreender os massacres que aí serão cometidos. É esse mergulho no imaginário que dará uma ressonância histórica e emocional ao discurso ideológico. De certa forma, o trabalho do intelectual é fazer algo novo com o antigo, isto é, transferir velhos temas para uma nova grade ideológica. Esta parece ser a única forma eficaz de esta ideologia "falar" ao povo. Constrói-se assim uma história mítica, de natureza identitária, capaz de ter um forte poder mobilizador sobre as mentes. Os trabalhosantropólogos e etnólogos podem ser de grande interesse aqui na compreensão da dinâmica simbólica que levou ao massacre. Assim, artistas, poetas, médicos, cientistas, homens de Igreja, todas as espécies de pessoas que representam o conhecimento ou a fé, podem contribuir th
°
11
12
para forjar uma narrativa mítica de natureza identitária. Todos eles, à sua maneira, contribuem para torná-lo mais atraente para um público mais amplo do que o dos círculos de crentes, tocando cordas específicas de suas artes, usando a linguagem de suas disciplinas. Se as palavras de um Rosenberg, de um Cosic, de um Kayibanda podem ter algum impacto em seus respectivos países, é porque os temas que desenvolvem encontram eco perceptível em círculos mais amplos. Na Alemanha, é notória a adesão dos médicos às teorias eugênicas em favor do “aprimoramento da raça”, como o anatomista Edouard Pernkopf, abertamente racista . Na exIugoslávia, o papel dos membros da prestigiosa Academia de Belgrado na defesa de teses nacionalistas já foi mencionado. Note também que os psiquiatras Jovan Raskovic - médicos como Radovan Karadzic e encontraram na causa do nacionalismo sérvio uma oportunidade de combinar seu fanatismo ideológico com seus conhecimentos . Em Ruanda, o “Manifesto Bahutu”, que também foi redigido com a ajuda de dois padres brancos, conta com amplo apoio da Igreja para a promoção dos Hutus. 13
14
Os intelectuais estão indo para a guerra? Devemos nos surpreender com essa participação de homens de conhecimento ou fé na formação de ideais de identidade que podem gerar violência? Vamos dar um passo atrás histórico: os modos de desenvolvimento da perseguição na Europa desde a Idade Média são particularmenteiluminando. Como o historiador americano Robert Moore mostrou a função essencial de estudiosos e clérigos na justificação e implementação destas formas de perseguição, a partir da XI - XII séculos. Eles definem aprendidamente quem são os “inimigos” (o termo é usado por Moore), principalmente hereges, judeus e leprosos - e, mais tarde, bruxas. Por meio desses vários períodos de exclusão, banimento, tortura e assassinato, o conhecimento e a fé são usados para estabelecer várias formas de poder político ou religioso sobre toda a população. Com a crescente influência de estudiosos associados ao desenvolvimento de sistemas de punição e perseguição, o que reforça o poder real e religioso . Nota de passagem que na cruzada contra os cátaros, o XII século, as metáforas da pureza (e a luta contra a praga) já são utilizados para justificar os massacres no sudoeste da França, como aqueles perpetrados Béziers e Albi. Isso deve nos tornar particularmente cautelosos quanto à função emancipatória da cultura como um modo de "elevação" do homem por meio da educação. Certamente, os filósofos do Iluminismo defenderam a ideia de que a cultura constitui o caminho autêntico para o desenvolvimento do indivíduo, para sua liberdade. Mas essa convicção merece pelo menos ser qualificada. Certamente, educar o ser humano é o meio de libertá-lo da miséria, de abri-lo ao conhecimento do mundo e de dar-lhe os instrumentos para agir com mais eficácia, conhecendo suas leis. Porém, a cultura em si não tem a capacidade de levar o homem a se libertar da violência. Pelo contrário, pode dar-lhe os meios para ser mais engenhoso no exercício da violência, se não da crueldade. Como observou um sobrevivente do genocídio em Ruanda, a educação “não torna o homem melhor, mas sim mais eficiente. Quem quer instilar o mal terá uma vantagem se conhecer as manias do homem, se aprender a sua moralidade, se conhecer a sociologia. O homem culto, se o seu coração for mal concebido, se transbordar de ódio, será mais mau ”. Portanto, não entendo todos aqueles que continuam a se surpreender com a possibilidade de a barbárie ter surgido de uma nação th
th
15
th
16
do european tão cultivado quanto a Alemanha. A cultura não é em si um baluarte contra a barbárie. Pelo contrário, dá armas àqueles que querem justificar racionalmente suas emoções e paixões. Esses intelectuais, cujas figuras variam de um país para outro, são eles diretamente responsáveis pelos massacres que virão? Ainda devemos ser cautelosos com a armadilha de traçar uma linha reta da ideia à ação. Tudo dependerá de fato da evolução da situação política, da deterioração ou não da economia, da instabilidade social, do ambiente internacional, etc. Quanto mais esse contexto tende a se deteriorar e se tornar ameaçador, mais o discurso da identidade corre o risco de ser aceito como um arcabouço mental para o resseguro coletivo. A menos que um discurso político concorrente - defendido por outros intelectuais - consiga efetivamente se opor à narrativa da identidade, demonstrando sua aberração. Em suma, o curso dos eventos não é determinado. As próprias pessoas que ajudaram a construir essas ideologias de medo e ódio geralmente não se tornam os atores da violência que está por vir. Às vezes, eles podem até lamentar o que vai acontecer, por exemplo, a selvageria de certas unidades militares ou milícias pertencentes ao seu acampamento. O fato é que esses intelectuais, em um momento-chave da história de seu país, desenvolveram ferramentas ideológicas que, se aplicadas, poderiam desencadear a violência em massa. A “solução” que propõem não oferece qualquer perspectiva de compromisso. Suas análises, baseadas em uma afirmação radical de identidade, consistem de fato em "essencializar" as diferenças: arianos / judeus, hutu / tutsis, etc. Eles legitimam um confronto existencial entre “eles” e “nós”. É a identidade desse “eles” que é postulada pelo “nós” como sendo inerentemente ameaçadora. Portanto, não há negociação possível, uma vez que a diferença é colocada como intangível. Mas ainda é necessário que esse quadro de identidade se traduza precisamente em uma força política substancial - o que não é, aqui novamente, um processo automático.
O tempo da legitimação política Na história, nada é mais arriscado do que interpretar os eventos à luz de seus resultados. A armadilha que espera qualquer historiador é predeterminar sua lógica, já que ele está na posiçãoconfortável para saber o resultado. Esta é uma fonte formidável de erros no que diz respeito à percepção das mentalidades e conduta dos atores. A historiadora Arlette Farge critica assim aqueles que, estudando a França em 1750, já viram nela a Revolução de 1789: “Eu pelo menos aprendi uma coisa”, ela enfatiza, “que a História é completamente imprevisível. . “Desde o seu confronto com os arquivos, sustenta que“ não há fato ou acontecimento que não leve a outro acontecimento sem que outros tipos de posturas, posições, dispositivos tenham estado presentes ao mesmo tempo " . Escrever história é abrir o campo de possibilidades, sendo cauteloso com qualquer interpretação causal simplista e determinista do passado. Esta abordagem historiador, pelo menos difícil, é expressa em uma posição como: "Vou trabalhar no XVIII século não sabendo que houve a Revolução. Aplicada ao assunto deste livro, essa cautela se traduz em: "Trabalharei na perseguição aos judeus na Alemanha dos anos 1930, ignorando Auschwitz." Isso vai, portanto, contra um certo senso comum, já que tudo poderia sugerir que uma causalidade inexorável levou do virulento anti-semitismo dos anos 1920, expresso no Mein Kampf , à perseguição organizada aos judeus alemães na França. durante a década de 1930, para terminar com o seu extermínio no 17
th
início da década de 1940. É, aliás, nesta cronologia irrefutável que se baseou a tese dita "intencionalista", segundo a qual a intenção de destruir os judeus já estava explicitamente contida nas palavras de Hitler antes mesmo de ele chegar ao poder. A concretização deste projeto teria sido então apenas questão de tempo e oportunismo. Nenhum historiador hoje defenderia tal posição. Não apenas não existe um caminho direto que leve da ideia à ação (como já sublinhamos), mas também não há causalidade direta de uma ação histórica sobre um de outros. Assim, ninguém hoje apóia nada além da marginalização - econômica, profissional, administrativa, cívica, etc. - Os judeus residentes na Alemanha, instituídos no início do regime nazista, devem necessariamente levar ao seu extermínio, a fortiori ao genocídio de todos os judeus europeus, se não do mundo inteiro. A ascensão de Hitler ao poder Além disso, não estava inscrito na história da Alemanha que essa tribuna dos fundos das cervejarias de Munique da década de 1920 conquistaria o poder cerca de dez anos depois. Como observa o historiador inglês Ian Kershaw, a nomeação de Adolf Hitler para o cargo de chanceler em 30 de janeiro de 1933 foi "o resultado de uma combinação fortuita de circunstâncias e um erro de cálculo dos conservadores [da direita Alemão] ”. Nas eleições de 1924, seu partido (o NSDAP) obteve menos de 3%, e ainda 2,6% nas de 1928. Mas a crise do estado (instabilidade da República de Weimar), associada a uma crise econômica e social (crash de 1929 que atingiu a Alemanha com força total em 1930-1931, causando milhões de desempregados), criou uma forte atração da opinião alemã para os pólos políticos extremos (comunista e nazista). Hitler mostrou então um certo talento político ao focar sua estratégia nos três grupos que mais sofreram com a crise: os desempregados, os fazendeiros e as classes médias. Além disso, em face da crescente agitação dos trabalhadores, suas tropas de choque, as Seções de Assalto (SA), lideradas por Ernst Röhm, um herói de guerra (e líder do Corpo Livre da Baviera em 1919), tomaram o lugar de a polícia para restaurar a ordem à custa de lutas sangrentas: o suficiente para satisfazer todos aqueles que temem que a revolução bolchevique, mal instalada na nova União Soviética, ganhe a Alemanha. Nas eleições de setembro de 1930, os nazistas tiveram um sucesso significativo: seu partido obteve 18,3% dos votos. Agora, aqui estão eles nas "grandes ligas", o que lhes dá o direito de se expressarem nas rádios nacionais. Ainda carregado pela crise e pelo clima de violência que reina no país, o NSDAP deu um novo salto nas eleições para o Reichstag de julho de 1932: obteve 37,3% dos votos expressos (ou seja, 13.779.000 votos). Hitler foi assim capaz de tirar o máximo proveito da crise em que o país afundou. Com o apoio do jornalista Josef Goebbels, ele inventou uma poderosa estratégia de comunicação política, combinando as técnicas mais modernas, enquanto se inspirava nos valores tradicionais alemães. O elecA maioria dos líderes do Partido Nazista são artesãos, fazendeiros, comerciantes, funcionários públicos e trabalhadores de colarinho branco. Eles votam nos nazistas primeiro porque acreditam que seu partido restaurará a ordem e a estabilidade. Por sua vez, os círculos conservadores da direita acreditam que podem manter Hitler como refém para que ele possa continuar a servir à sua política. Não se reconhecem nos valores que Hitler propõe: nacionalismo, militarismo, antibolchevismo? Portanto, eles pensam que podem "domesticar" Hitler. Mas os responsáveis por essas elites conservadoras estão fundamentalmente enganados sobre a personalidade e as ambições desse homem extraordinário, imprevisível, fanático e violento que rapidamente escapará delas. 18
Milosevic e o sonho de uma "Grande Sérvia" No caso da Iugoslávia, a ascensão de Milosevic ao poder não era mais inevitável. Poderíamos até pensar que este país, não alinhado com os blocos oriental e ocidental, já aberto ao Ocidente, estava em uma posição favorável para iniciar uma verdadeira democratização política e econômica, graças à queda. do Muro de Berlim. Esta transição até pareceu tomar forma, no início de 1990, graças às medidas tomadas pelo primeiro-ministro federal croata Ante Markovic, que “implementou um programa de reformas económicas muito bem sucedido, controlando a inflação galopante cuja taxa anual foi aprovada. de 26% a 0% em apenas alguns meses […]. Markovic adquiriu grande popularidade em todo o país […]. Durante esse breve período, parecia que a Iugoslávia tinha uma nova vida e tinha uma chance de sobreviver como um estado comum. Com suas ideias liberais e seus sucessos econômicos tangíveis, Markovic representou para as nações iugoslavas uma chance de evitar o caminho de destruição em que já estavam engajados e de olhar para o futuro, modernização e integração no Europa ”. Mas foi sem contar com a crise de legitimidade do sistema federal travado desde a morte de Tito. Isso sem contar com a agitação nacionalista da minoria sérvia do Kosovo, que, a partir de meadosNa década de 1980, passou a ser ouvida por meio de "encontros" (termo utilizado para modernizar) reunindo cada vez mais apoiadores. Com o apoio da escritora Dobrica Cosic, o lema do movimento é o advento do povo - do povo sérvio, claro. Não se trata, portanto, de limpeza étnica, mas sim de reunir todos os sérvios em prol de uma "Grande Sérvia". Isso sem contar com o desenvolvimento de outros centros nacionalistas, em primeiro lugar na vizinha Croácia, instigados por seus homólogos sérvios, e dos quais se tornou o intelectual Franjo Tudjman, corajoso matador da história oficial de Tito na década de 1960 a figura de proa. Enfim, sem contar com o oportunismo político de um homem do aparato comunista, o sérvio Slobodan Milosevic, que se apodera desta causa nacionalista para tomar o poder. Citando Ivan Stambolic (então presidente do Presidium da Sérvia), John Allcock relata que, a princípio, Milosevic não estava particularmente entusiasmado com a ação dos nacionalistas sérvios. Estes "o pegaram na mão", o que ele não gostou. Mas Milosevic entendeu o interesse político em reunir sua causa. "A estreiteza e falta de imaginação levaram então o Partido Socialista da Sérvia, Sérvia e, eventualmente, toda a Iugoslávia do caminho da democracia . Porque essa mudança do comunismo para o nacionalismo afeta quase simultaneamente outros membros da federação iugoslava, em primeiro lugar a Eslovênia e a Croácia. Durante o ano de 1990, inúmeras eleições atestam tal evolução, a cronologia dessas cédulas movendo-se do norte para o sul da Iugoslávia: Eslovênia (abril), Croácia (abril-maio), Bósnia (novembro), Sérvia ( Dezembro). A trajetória federalista que Markovic ainda representa não resiste ao poder crescente das dobras identitárias, que se expressam por meio dessas consultas eleitorais. Criando seu partido muito tarde (em julho de 1990), Markovic foi derrotado nas eleições de dezembro, enquanto o de Milosevic triunfou. Este estava então no auge da popularidade: em nome mesmo da legitimidade política que acabava de adquirir, Milosevic poderia, portanto, embarcar no projeto de construir uma “Grande Sérvia”, se necessário através da guerra. 19
20
Kayibanda e a formação do estado de Ruanda Quanto ao Ruanda, não era mais certo que Grégoire Kayibanda, este ex-aluno do seminário Nyakibanda, em 1961 se tornaria o primeiro presidente da República deste país. No final da década
de 1950, suas ideias defendendo o poder hutu em uma base quase racial, conforme expresso no "manifesto Bahutu", eram compartilhadas apenas por uma minoria de hutus "educados" próximos a a Igreja. Se chega ao poder, é precisamente porque a Igreja e, com ela, a administração belga apoiarão doravante o desejo de emancipação desta nova elite hutu. Em 3 de novembro de 1959, distúrbios muito violentos eclodiram em Gitamara, no noroeste de Ruanda, que logo atingiu outras localidades. Este “Toussaint ruandês ”, uma espécie de jacquerie dos camponeses hutus contra os tutsis, resultou em centenas de mortos, muitas casas queimadas e o primeiro exílio de milhares de tutsis. Na verdade, esta “revolução de 1959-1960,“ assistida ”pela administração belga, levou à derrubada da monarquia e de toda a estrutura político-administrativa tutsi, na qual a Bélgica tinha baseado a sua política de administração indireta. por décadas ”. A confirmação é dada às várias consultas eleitorais organizadas em 1961, em grande parte vencidas pelo partido de Kayibanda, ou Parmehutu (Partido do movimento de emancipação Hutu). A República foi proclamada em 28 de janeiro de 1961 e em Ruanda tornou-se oficialmente independente em 1 julho 1962. O estado republicano ruandês pós-colonial baseou sua legitimidade na vitória contra o feudalismo tutsi. "A vitória Hutu foi total", disse Claudine Vidal. “No entanto, os vencedores continuaram agindo, não como se os ex-chefes tutsis ainda ameaçassem a República, mas como os tutsis, considerados inimigos hereditários, haviam se tornado um corpo estranho no país . »As práticas opressoras contra os tutsis, desde os primeirosanos da República de Ruanda, explicam sua saída massiva . Em reação, alguns deles (exilados em Uganda) começaram na década de 1960 a organizar ataques armados em território ruandês para atacar representantes do poder hutu. Essas incursões quase sistematicamente provocam represálias contra os tutsis que ainda vivem em Ruanda. A incursão realizada no final de dezembro de 1963 provocou assim vários massacres de tutsis, sendo o mais famoso o de Gikongoro, em janeiro de 1964, que deixou entre 7.000 e 10.000 mortos . No entanto, a Segunda República, instituída em 5 de julho de 1973 pelo golpe de Estado do general Juvénal Habyarimana, parece querer romper com o passado. O papel do novo presidente consistirá de fato em "acalmar as coisas fazendo-se passar por moderador, o único capaz de controlar os extremistas ". Seu regime pretende promover a união dos ruandeses, não proteger os hutus contra os tutsis. O país viveu então um período de calmaria, marcado pela entrada de um tutsi no governo (André Katabarwa), mas sem abandonar o slogan “O governo da maioria é igual a democracia”. Além disso, sua situação econômica melhorou sensivelmente, principalmente no início dos anos 1980. A mortalidade infantil tende a cair e a escolaridade passa de menos de 50% em 1978 para quase 62% em 1986. Quem pode então pensar que este país será a cena, quase dez anos depois, um dos mais genocídios terríveis do XX século? Infelizmente, essa recuperação econômica não vai durar. A fome reapareceu, enquanto o preço mundial do café caiu 50% em 1989. As desigualdades cresciam perigosamente no país, sendo a grande massa de camponeses ruandeses a principal vítima, como ficou claro na época. André Guichaoua .Ruanda está afundando novamente em crise, como outros estados africanos. Em 1990, o FMI impôs uma desvalorização de 57% de sua moeda. O regime de Habyarimana está experimentando uma corrupção crescente e, diante da crescente escassez de riquezas, a competição entre as elites está se tornando mais acirrada. Além disso, a diáspora tutsi exilada em Uganda desencadeia uma nova agressão armada com o objetivo óbvio de ganhar o poder. O ataque RPF em 1 de Outubro de 1990 Revives velhos reflexos políticos que já levaram trinta anos antes, que uma agressão Tutsi de fora ou sancionados massacres de Tutsis dentro. 21
22
st
23
24
25
26
°
27
st
Os profetas do caos Em cada um desses três casos, é difícil distinguir entre o que vem da vontade dos atores de tomar o poder e as circunstâncias favoráveis que serviram ao seu propósito. Mas podemos ver claramente que sua ascensão política passa pela estigmatização de um grupo minoritário. No entanto, essa análise pede algumas nuances no caso alemão: se Hitler jogou excessivamente a corda anti-semita, não é certo que esse tema teve um papel decisivo em seu sucesso eleitoral. Seria muito mais seu nacionalismo, seu antibolchevismo, seu militarismo que teria seduzido o povo alemão. O fato é que o ódio aos judeus é um dos traços fundamentais da personalidade do novo mestre do Reich e que ele imediatamente fez dele uma pedra angular de seu regime - algo contra o qual os alemães não protestaram. Se, portanto, este tipo de dirigente tem acesso às mais altas responsabilidades do Estado, dáse um passo crucial: consequentemente, há sim legitimação política do que era apenas discurso de protesto (recuperando medos e frustrações sociais) e que agora se torna uma estratégia de governo. O que antes era um discurso político extremo, propagado por certos intelectuais, algumas organizações, um partido, se transforma em política de Estado. Essas ideias poderiam ter permanecido como palavras inflamadas, dando origem aqui e ali a atos esporádicos de violência. Mas agora, com esse revezamento do Estado, mudamos de escala. Não há dúvida de que tal evolução, seja seu amadurecimento lento ou rápido, pode induzir mudanças profundas em um país, em suas instituições e em seu cotidiano. Podemos esperar uma verdadeira "remodelaçãoidentidade ”da sociedade, carregada de violências futuras, em perfeita sintonia com o discurso que lhe deu origem. Mas como a população, por meio dos diversos grupos e redes que a constituem, reagirá? E quais serão as modalidades e a intensidade dessa violência? Quando e em que circunstâncias? Ninguém realmente sabe. Os primeiros arquitetos dessas convulsões serão, em todo caso, os líderes que incorporam essa política. De fato, pode-se pensar que um Hitler, um Milosevic, um Kayibanda, uma vez no poder, “esquece” as idéias que os levaram ao topo do estado. Não seria a primeira vez na história que os dirigentes políticos, uma vez alcançados os seus fins, abandonariam os aspectos mais excessivos ou demagógicos dos seus programas. Mas não é o caso: nos casos que nos dizem respeito, tal “esquecimento” parece inconcebível, tanto a sua ascensão foi baseada numa relação afetiva com o “povo”, do qual se afirmam os protetores. Esses líderes se veem constrangidos a se tornarem o que queriam ser: defensores de “nós” contra “eles”. Quer o público acredite ou não em seus discursos, em parte ou no todo, eles acreditam que têm uma vocação. Eles se dão a aparência de “profetas” obrigados a cumprir o que anunciaram. Tudo acontece como se eles fossem "perfilados" para detectar a ameaça, predizê-la, se necessário fabricá-la e, em última instância, destruí-la. É sempre do caos que eles derivam sua legitimidade como protetores de "nós". Se todos tocam mais ou menos as mesmas cordas psicoemocionais (medo, ressentimento, frustrações), Hitler é certamente aquele que faz a exploração mais surpreendente. Por sua primeira grande tribuna de personalidade, ele tem um talento excepcional, "poder carismático ", diz Ian Kershaw, para conduzir a uma forma de multidões extasiadas que vêm ouvir. Ele é literalmente um criador de emoções públicas. Da sua faculdade de reação e improvisação então: aproveitou, por exemplo, o enorme choque provocado na opinião pública pelo incêndio do Reichstag em 27 de fevereiro de 1933, para obter a promulgação do decreto no dia seguinte. a “proteção do povo e do estado”, que estabelece a primeira base legal para a ditadura nazista. As mudanças ocorrem em uma velocidade surpreendente: prisão em massa de comunistas, criação,para interná-los, os 28
primeiros campos de concentração, supressão de sindicatos, dissolução de todas as organizações políticas (exceto o Partido Nazista). Enquanto se preocupava em reconciliar as elites dominantes, Hitler utilizou assim a violência desde os primeiros meses de seu poder, inclusive contra seus velhos amigos: mandou assassinar os chamados "Facas Longas" (29 -30 de junho de 1934), Röhm e os principais líderes da SA, para se livrar de seus potenciais rivais políticos. Assim, em apenas um ano e meio, conseguiu instalar um regime absoluto de ditadura pessoal e um sistema de supervisão geral da população. A República de Weimar está morta. Em comparação, a conduta política de um Milosevic empalidece em comparação. Sua personalidade é definitivamente mais branda, embora preocupante, já que sua história pessoal é assombrada pela morte . Mas ele também usa, à sua maneira, as alavancas do medo e do ressentimento. Retransmitindo as teses do memorando da Academia de Belgrado, ele usa regularmente em seus discursos a palavra "genocídio" para qualificar o que provavelmente acontecerá aos sérvios se eles não se defenderem. Em seus discursos, os croatas são sistematicamente assimilados ao ustasha e os alemães aos nazistas. Em 2004, durante seu julgamento em Haia, ele não hesitou em fazer a conexão entre a política externa de Hitler nos Bálcãs e a do Chanceler Kohl em 1990: “Um milhão de sérvios perderam a vida e mais da metade experimentou um sofrimento terrível, explica ele. A diretiva de Goebbels não perdeu sua relevância a partir de então na prática política alemã, ou seja, de se levantar com os croatas contra os sérvios. Esta é a posição alemã nos Bálcãs até o final do XX século. Esta é uma constante na política alemã . " Portanto, jogar com as emoções continua sendo para ele a forma ideal de apelar a um reflexo patriótico, de amordaçar seus oponentes, se não eliminá-los. Uma vez que as pessoas estão em perigo, quem não está preparado para tomar as medidas necessárias para defendê-las torna-se imediatamentesuspeito. Ao contrário de Hitler, Milosevic já está no aparato de poder. Como um bom apparatchik comunista, ele aos poucos tentou assumir o controle, alcançando seu fim em setembro de 1987, durante a oitava sessão da Liga dos Comunistas da Sérvia. A partir daí, despediu, destituiu, substituiu todos os que lhe pareciam moderados, no exército, na polícia e nos meios de comunicação (especialmente a televisão). Em Ruanda, o estilo do presidente Kayibanda é indiscutivelmente mais paternalista, mas não menos formidável. O princípio de seu regime se baseia na vingança contra os tutsis e na ideia de que a maioria dos hutus personifica a democracia. As relações de dominação se inverteram, os dominados de ontem se tornando os dominantes da primeira República de Ruanda, o novo poder em Kigali instituindo um sistema de partido único. Durante as eleições comunais de agosto de 1963, o partido do presidente (Parmehutu) ganhou 140 assentos de bourgmestres (prefeitos) em 141. Processo clássico: Parmehutu usou o medo do perigo externo tutsi como uma alavanca política para aumentar sua autoridade. Após o ataque aos exilados tutsis em dezembro de 1963 e as represálias resultantes (quase 10.000 tutsis mortos em janeiro de 1964), o próprio presidente Kayibanda usou a palavra “genocídio” em seu discurso de 11 de março de 1964. Esta é provavelmente a primeira vez que este termo é usado publicamente em Kinyarwandan. Algumas vozes foram então levantadas na Europa para qualificar como “genocídio” os massacres que acabaram de ocorrer em Ruanda. Mas Kayibanda respondeu: “Quem é culpado de genocídio? "," O que busca genocídio? "," O que o genocídio quer? " Usando essa palavra seis vezes em um discurso de poucos minutos, o presidente ruandês de fato estigmatiza a ação de oponentes tutsis armados de fora, a quem acusa de atividades "subversivas" e "terroristas". Suas palavras extremamente violentas contêm esta profecia extraordinária e assustadora: “Supondo que 29
°
30
você tenha sucesso no impossível, tomando a cidade de Kigali, explique-me um pouco como você imagina o caos que resultaria deste golpe. brilhar e de qual vocês seriam as primeiras vítimas? […] Seria o fim completo e abrupto da raça tutsi . »É raro no Hisque um chefe de estado anuncia genocídio. Na Alemanha, Hitler fez o mesmo em 30 de janeiro de 1939 no Reichstag. No entanto, nada ainda havia sido decidido e organizado naquela data para destruir maciçamente os judeus da Europa; vamos voltar a isso. É o mesmo em Ruanda, em 11 de março de 1964. E, no entanto, tais palavras públicas estão longe de ser triviais: palavras simples, algumas frases curtas pronunciadas em um contexto de ameaça e medo abrem o futuro de um país que caminha para o apocalipse do assassinato em massa. Talvez isso aconteça, talvez não. Mas se ... então a profecia se cumprirá. 31
Alimentando medo e ressentimento: o papel da mídia Se a manipulação das emoções ocupa assim um lugar central no estabelecimento de tais poderes, o que manterá e desenvolverá esse estado emocional é a propaganda. Ele necessariamente acompanha e fortalece o estabelecimento desses sistemas políticos. A propaganda muitas vezes é entendida como um conjunto de técnicas destinadas a demonizar um inimigo, o que de fato é. Mas essa abordagem "técnica" perde o que a propaganda propõe acima de tudo: um novo universo de sentido para todos. O que antes era desenvolvido por alguns intelectuais, retransmitido e desenvolvido por líderes políticos, agora é oferecido a um país inteiro, uma vez que esses líderes tenham conquistado o poder. Imprensa, rádio, televisão são "convidados" ou forçados a serem os vetores permanentes dessa visão de mundo. A propaganda torna-se assim um sistema de “envolvimento” geral da população. Então, como funciona para se expandir? O princípio básico é sempre o mesmo: fazer emoção. Ouça: desperte medo, desconfiança, ressentimento e, assim, provoque vigilância, orgulho, vingança em reação. Um aparelho de propaganda é, antes de mais nada, uma máquina de fabricar emoção pública, como os líderes cujas palavras ele transmite e amplifica. É por meio desse trabalho sobre a emoção que ela pretende conquistar o apoio do público: “Sem escolha, ela diz, todos temos que nos defender dessas pessoas. É uma questão de identidade: trata-se de nossa sobrevivência. “E é assim que a propaganda ataca o pensamento:“ Diante dessa ameaça comum, devemos nos mostrar mais fortes e fazer valer a força de nossa identidade. "Propagandapretende impor a todos uma interpretação do mundo apresentado como “vital”, do grupo a que pertencem. Assim, o envolvimento emocional do público é imediatamente prolongado por seu envolvimento ideológico. Um e outro não são separáveis: eles participam da mesma tentativa de invadir os espíritos. É cultivando o medo e a suspeita que a propaganda tenta "gravar" sua visão de mundo em cada indivíduo. Ela disse a todos: “Aqui está o que pensar agora, aqui estão seus novos benchmarks, gostem ou não. Então, "conosco" ou "contra nós"? Devemos então dizer que um sistema de pressão totalitária sobre a população está sendo instalado? As situações históricas devem ser diferenciadas. Assim que chegaram ao poder, os nazis estabeleceram o controle quase absoluto dos meios de comunicação, a começar pelo rádio, que desde cedo viram como um interesse estratégico como instrumento de comunicação de massa. As profissões relacionadas com a publicação estão sujeitas ao controle do governo, que cria uma câmara profissional de jornalistas, escritores, etc. Todos são, portanto, colocados sob a tutela do Estado: a censura prévia torna-se desnecessária. Goebbels, agora Ministro da Propaganda, pode declarar: "Que todos toquem seu instrumento, contanto que toquem a mesma música." Um dia, um
nalista acusado de trair o "povo alemão" muito rapidamente se encontra na prisão, com ou sem julgamento. Um sistema totalitário de propaganda é então estabelecido. Não podemos aplicar a mesma análise na Iugoslávia, neste período do final dos anos 1980 que presencia o colapso do sistema federal e o surgimento do nacionalismo em suas principais repúblicas. Na Sérvia, após a morte de Tito, foi acima de tudo o prestigioso jornal Politika que se tornou a ponta de lança do nacionalismo sérvio, enquanto a televisão manteve uma linha federal. Mas, a partir de 1987, essa mesma televisão de Belgrado apoiou cada vez mais a ação de Milosevic, retransmitindo, por exemplo, ao vivo a imensa manifestação nacionalista de 28 de junho de 1989, comemorando o seiscentésimo aniversário da batalha por Kosovo. . Seria um erro acreditar que todos os meios de comunicação estatais seguem o exemplo, já que o programa de rádio público não é o mesmo zelo nacionalista de então . Desenvolvimento ainda mais único em comparação com a Alemanha nazista: na Iugoslávia são decretadosem 1990, o princípio da liberdade de imprensa e o fim do regime de partido único. Consequência: torna-se legalmente possível a qualquer pessoa expressar a sua opinião e comunicá-la livremente. Estão surgindo meios de comunicação independentes, como o jornal de oposição Vreme . É o mesmo em relação ao rádio e à televisão, com o lançamento do Studio B . A lacuna é grande, entretanto, entre o princípio e sua aplicação. Por exemplo, os jornais podem até ser gratuitos, mas dificilmente têm meios para chegar aos seus leitores, devido à falta de acesso a redes de distribuição eficientes nas províncias. A televisão, único meio a atingir as áreas mais remotas do país, continua sob o controle do novo mestre de Belgrado. Ruanda experimentou um desenvolvimento bastante semelhante durante o mesmo período. Na verdade, o regime de Habyarimana aceitou no início dos anos 1990 uma certa abertura da mídia e em 1991 decretou o fim do regime de partido único. O resultado é uma verdadeira “mola de imprensa”, caracterizada pela criação de novos jornais . Mas este movimento de liberalização, paradoxalmente, beneficia os extremistas que, com o apoio do próprio Estado, têm as facilidades para lançar meios de comunicação que propaguem suas teses. Em 1990, apareceu o Kangura bimestral , lançando campanhas de denúncia contra os tutsis, publicando em particular os famosos “Dez Mandamentos do Bahutu” (ver box na página seguinte), um verdadeiro apelo ao ódio e à segregação contra os tutsis. Em julho de 1993, uma estação privada, Radio-Télévision des Mille Collines (RTLM), foi criada. O tom do RTLM é “jovem”, descontraído, e você pode ouvir música zairiana muito animada. Esta é uma verdadeira inovação para este país, porque a estação oficial nacional, Radio Rwanda, é muitas vezes enfadonha. Na RTLM, entre duas músicas, há um dilúvio de palavras, denunciando as “baratas” tutsis e exaltando a grandeza dos hutus. 32
33
Os Dez Mandamentos do Bahutu * Em dezembro de 1990, o jornal extremista Kangura (“Despertai!”) Publicou um texto particularmente significativo, apelando à “consciência dos Bahutu” e fixando um código de conduta para eles: são os “Dez Mandamentos”, um verdadeiro desvio do texto bíblico. Aqui estão "Os Dez Mandamentos": “1. Todo Muhutu deve saber que Umututsikazi, onde quer que esteja, trabalha por conta de seu grupo étnico Tutsi. Conseqüentemente, qualquer muhutu que se casa com um Mututsikazi, que faz de um Umututsikazi sua concubina, que faz de um Umututsikazi seu secretário ou protegido, é um traidor.
“2. Todo Muhutu deve saber que nossas filhas Bahutukazi são mais dignas e mais conscientes em seu papel como mulheres, esposas e mães. Não são lindas, boas secretárias e mais honestas! “3. Bahutukazi, seja vigilante e traga seus maridos, irmãos e filhos à razão. “4. Todo Muhutu deve saber que todo Mututsi é desonesto nos negócios. Ele apenas almeja a supremacia de seu grupo étnico. Conseqüentemente, qualquer Muhutu é um traidor: quem faz aliança com o Batutsi em seus negócios; quem investe seu dinheiro ou o dinheiro do Estado em uma empresa de um Mututsi; que concede aos Batutsi favores nos negócios (concessão de licenças de importação, empréstimos bancários, terrenos para construção, contratos públicos, etc.). “5. As posições estratégicas, sejam políticas, administrativas, econômicas, militares e de segurança, devem ser confiadas ao Bahutu. “6. O setor educacional (alunos, alunos, professores) deve ser predominantemente hutu. “7. As Forças Armadas de Ruanda devem ser exclusivamente hutus. A experiência da guerra de outubro de 1990 nos ensina isso. Nenhum soldado deve se casar com um Mututsikazi. “8. O Bahutu deve parar de ter pena do Batutsi. “9. Os Bahutu, onde quer que estejam, devem ser unidos, solidários e preocupados com o destino de seus irmãos Bahutu. Bahutu dentro e fora de Ruanda deve constantemente buscar amigos e aliados para a causa Hutu, começando por seus irmãos Bantu. Eles devem constantemente frustrar a propaganda tutsi. O Bahutu deve ser firme e vigilante contra seu inimigo tutsi comum. “10. A Revolução Social de 1959, o referendo de 1961 e a ideologia Hutu devem ser ensinados a todos os Muhutu e em todos os níveis. Qualquer Muhutu deve disseminar amplamente essa ideologia. Traidor é qualquer Muhutu que persiga seu irmão muhutu por ter lido, divulgado e ensinado essa ideologia. "
Citado em Jean-Pierre Chrétien (ed.), Ruanda. The Genocide Media, op. cit., © Karthala, 1995, p. 141-142.
* Para o significado das palavras Kinyarwandan usadas neste texto, consulte a nota 1 p. 82 Esta breve análise dos meios de comunicação permite-nos observar melhor o respetivo desenvolvimento de cada país. Do lado da Alemanha nazista, este é um cenário “clássico”: o do fim de uma república instável que leva à abolição do sistema parlamentar e ao estabelecimento brutal de uma sistema de controle total dos meios de comunicação. Do lado da ex-Jugoslávia e do Ruanda, assistimos antes à "saída" de uma ditadura, que autoriza uma forma relativa de liberdade de expressão política, concretizando-se num sistema multipartidário, do qual as correntes mais extremas saber imediatamente como tirar vantagem. É necessário, portanto, comparar suas respectivas histórias sobre este ponto, o que também se reflete no vocabulário utilizado pelos pesquisadores: alguns falaram do estabelecimento de uma "democracia" na Sérvia e de uma " democratização controlada ”em Ruanda . De outrosEm outras palavras, se o caso alemão mostra que a violência surge logicamente de um processo de "ditatorização" do Estado, os respectivos desenvolvimentos na Sérvia e em Ruanda ilustram, ao contrário, que a violência é paradoxalmente gerada por um processo de democratização política limitada, não enquadrado pelo Estado de 34
Direito. Basta aqui meditar sobre as virtudes sempre supostamente positivas do que chamamos, segundo uma fórmula consensual, de "transição democrática". Dependendo dessas diferentes configurações políticas, o aparelho de propaganda será, portanto, mais ou menos poderoso, mais ou menos total. E a linguagem dessa propaganda será diferente, refletindo traçosculturas específicas. Mas os temas e processos dessa propaganda, do ponto de vista de sua estrutura imaginária, costumam ser muito semelhantes. Porque a propaganda tende a recorrer aos mesmos tipos de operadores, que, nesse aspecto, parecem constantes, para além das diferenças culturais. A função desses operadores é dar forma a esse imaginário, expressálo em uma realidade muito concreta por meio de palavras e imagens, que geram emoções. E é através destes operadores - pólos reais de transformação do imaginário em ideologia - que os números do inimigo descrito no capítulo I são construídos . A venenosa árvore de propaganda Proponho aqui o resumo através da metáfora de uma árvore venenosa cujos ramos e folhagens são como os principais operadores desta propaganda. O primeiro desses operadores - aquele pelo qual tudo acontece, pode-se dizer - é a instrumentalização de um passado comum de sofrimento, de um trauma coletivo: o da Primeira Guerra Mundial pelos nazistas, do Segunda Guerra Mundial para os nacionalistas sérvios, domínio da realeza tutsi por extremistas hutus. É uma das maneiras mais eficazes de despertar o ressentimento e o medo em um povo, manipulando sua memória. É neste terreno fértil de infortúnios passados que cresce a árvore venenosa da pro paganda. Lá se desenvolvem dois grandes ramos que constroem toda a sua estatura. O ramo de um princípio quase eterno, o da grandeza e da pureza de nosso povo que, é claro, não suportará mais uma vez tais humilhações: “Não vamos ter mais uma vezes, não é? " Ao mesmo tempo, está associada ao ramo da demonização deste “Outro” que gera todos os infortúnios do nosso povo: “Eles são a fonte de todos os nossos males. Não podemos confiar neles. Essas pessoas não são como nós . " Destes dois grandes ramos brotam outros novos e muito ameaçadores. Um apóia a acusação de traição contra aqueles em nossas próprias fileiras que se recusam a nos seguir. Eles não são patriotas, traidores em potencial. Cuidado, esses traidores podem se esconder entre nossos vizinhos. A outra filial carrega o terrível de “conspiração” contra esse “Outro” tão diferente de nós. Na verdade, “essas pessoas estão se preparando para nossa queda. Você não necessariamente percebe isso, mas, você sabe, eles são muito poderosos. Seja em casa ou no exterior, seu objetivo é realmente nos destruir ”. Em seguida, vêm as folhas que cobrem esses galhos, vários curativos emocionais para tornar essa dupla ameaça um pouco mais crível. Uma dessas folhas, particularmente grossa, vem da manipulação de boatos: “Você sabe que em Kosovo os albaneses não hesitam em estuprar nossas mulheres e profanar nossos cemitérios. »Rumores que circulam em qualquer sociedade contra um grupo considerado ameaçador. Mas a característica da propaganda é tirar desse fundo de boatos (ou inventar) para torná-los "novos". Assim, da noite para o dia, esses rumores acabam na primeira página da imprensa ou no noticiário noturno da televisão. Como que por acaso, relacionam-se com a sexualidade, o sagrado, a filiação, enfim o que toca o mais íntimo. Outra folha, terrivelmente eficaz para aumentar a ansiedade, é a da acusação de atrocidades que bem poderia anunciar uma
resposta no espelho: “Você sabe que são verdadeiros assassinos que não hesitam em cometer os crimes. mais atroz; segurar: para queimar nossos bebês. Quais são de fato os crimes mais hediondos, senão aqueles que atacam inocentes? "Mais cedo ou mais tarde vamos nos vingar!" Em algum lugar daquela árvore, talvez no topo, você ainda encontrará a folhagem da animalização: os acusados de tais crimes não são mais humanos. São animais que não merecem mais nosso respeito. E por toda parte, como que englobando a árvore inteira, ainda espalha a folhagem da aspereza das palavras e das imagens, com que os inimigos são retratados. Aspereza no sentido literal e figurativo: entramos no excesso, no excesso, na pornografia. O uso da caricatura, por jornais como o Sturmer na Alemanha ou Kangura em Ruanda, é revelador desse levantamento das proibições. Como se já fossemos entrar no excesso de violência. Esta árvore dá bons frutos, mas são venenosos. Esses frutos do ódio, todos repulsivos, são as diferentes figuras do inimigo. Aqui, os judeus, os vermelhos, mas também as bocas inúteis ou os degenerados (deficientes, asociais, homossexuais); lá, os albaneses, os ustashas croatas, os muçulmanos (ou "turcos"); mais adiante, os tutsis, irrecuperáveis de qualquer maneira, mas também os "hutus maus" por serem amigos dos tutsis ou moderados demais. O que fazer com todas essas frutasinsalubre ou mal? Classificá-los? Esmagar todos eles? Os mais perigosos não nos deixam escolha: se os pouparmos, eles irão proliferar e apodrecer nosso solo. Devemos, portanto, nos livrar dele. Mas como ? Fazê-los desaparecer? Exterminá-los? O vocabulário hesita. Devemos podar esta árvore, purificá-la ou purificá-la. As palavras ainda estão confusas. Eles ainda não têm o valor de um programa. Essa árvore de propaganda constitui “simplesmente” a matriz semântica a partir da qual o massacre pode ocorrer. Os indivíduos expostos a tal dispositivo de ódio realmente acreditam nele? Muito freqüentemente, os estudos de propaganda postulam sua onipotência sobre as mentes. A sociologia da recepção da mídia mostra, entretanto, que essa é uma visão excessivamente simplista e caricatural. Voltarei a isso mais tarde. No entanto, o desenvolvimento de tal sistema de propaganda, combinado com a constituição de um aparato político que o apoie, tem necessariamente uma influência considerável, na vida pública como no cotidiano de um país. Por meio dessa propaganda, o governo legitima sua ação e justifica as primeiras medidas contra seus inimigos de dentro. Os nazistas fazem isso muito rapidamente contra os judeus, retiraram a cidadania alemã, foram eliminados do serviço público e de numerosos grupos profissionais e socioculturais. As leis de Nuremberg de 1935 para a "proteção do sangue e da honra alemães", além da proibição de todas as relações sexuais entre judeus e arianos (risco de "contaminar" a "raça"), acabaram com a igualdade de direito adquirida pelos judeus desde 1871, distinguindo nacionalidade e cidadania (esta última sendo reconhecida apenas para indivíduos de “sangue alemão”). Então, em nome da arianização do país, os judeus são novamente expulsos da atividade econômica e despojados de suas propriedades. Em Ruanda, também são tomadas medidas para limitar a influência dos tutsis, por exemplo, na administração (imposição de uma cota máxima de 9% dos tutsis). Por sua vez, Milosevic em 1989 aboliu a autonomia do governo e do Parlamento de Kosovo, uma decisão que por si só significou o fim da Iugoslávia. Em poucos meses, 90% dos albaneses são despedidos nos setores da saúde, mídia, cultura e educação. Em 1991, cerca de 450.000 alunos albaneses e estudantes se viram fora do sistema educacional, recusando seu controle exclusivo pelos sérvios. Ao mesmo tempo, a característica da propaganda é criar um clima deletério: ela dá o tom da violência, por meio de slogans e imagens. Ela diz publicamente que a violência é possível, se não permitida, contra os inimigos internos. Como observa Philippe Braud, “o discurso de ódio, a
exibição de títulos arrogantes de superioridade instauraram, ao longo do tempo, uma“ autorização ”de violência contra as vítimas designadas como bodes expiatórios ”. É, portanto, como se o novo regime não apenas tolerasse, mas encorajasse a violência contra seus inimigos. Além disso, na maioria dos casos, é o próprio Estado o iniciador por meio de suas forças policiais ou de grupos armados mais ou menos ocultos (organizações criminosas e milícias ad hoc ). . O contexto político está se tornando muito favorável à formação de tais grupos à sombra do poder: Tigres d'Arkan na Sérvia, milícia Interahamwe em Ruanda. Esses grupos irão operar com total impunidade. Em Ruanda de Kayibanda, e durante os últimos anos de Habyarimana, os tutsis são massacrados. Quanto ao Kosovo, na década de 1990, os albaneses também foram presos e torturados lá. E na Alemanha nazista da década de 1930, o número de abusos físicos cometidos contra judeus, incluindo assassinatos, foi perdido. Nesse estágio, a evolução dessas sociedades atesta que a violência em massa se torna possível. Estamos de fato testemunhando a subversão de uma norma política fundamental, que une todos os indivíduos que concordam em viver juntos: a proibição do assassinato. Se essa proibição for levantada contra um grupo específico, aonde essa transgressão levará? Em princípio, o papel do Estado é proteger os cidadãos, como explicam muitos autores da ciência política. Por meio da lealdade de indivíduos - que, portanto, concordam em obedecê-la - o Estado lhes oferece segurança. Mas nos casos aqui estudados, já não é o garante de todos os cidadãos. É ele quem está se tornando o assassino e o protetor dos assassinos. Quem pode então conter sua violência? 35
De religioso a sacrificial Não é sobretudo papel dos religiosos recordar com firmeza esta proibição do homicídio, que está na base de qualquer comunidade humana? A lembrança dessa lei fundamental constitui um marco moral da maior importância em uma sociedade mergulhada em turbulência. Em cada um dos três casos estudados, a religião cristã é amplamente dominante: especialmente protestante na Alemanha, ortodoxa na Sérvia, católica em Ruanda. No entanto, uma das características fundamentais do cristianismo está precisamente na exigência de respeito ao próximo. Recordemos o sexto mandamento bíblico: "Não matarás" e os convites ainda mais exigentes de Jesus: "Amai os teus inimigos" e "Amai-vos como eu vos amei" (Jo 15,12). . Irão as igrejas cristãs, portanto, aprovar ou criticar os impulsos violentos da política em relação a este ou aquele grupo? A questão deve primeiro ser tratada em um nível geral, examinando as relações estruturais que tendem a se estabelecer entre a Igreja e o Estado. À primeira vista, a convergência é surpreendente: observamos uma colaboração quase institucional entre os religiosos e os políticos. Na Alemanha, as Igrejas Protestante e Católica apóiam ou endossam o novo poder nazista. Em Ruanda, a própria Igreja Católica participa da ascensão de Kayibanda ao poder. Na Iugoslávia, em contraste, dignitários da Igreja Ortodoxa são oficialmente hostis a Milosevic, a quem eles consideram um líder comunista. Mas, como a política nacionalista deste último vem a convergir com as aspirações desta Igreja, esta o apóia parcialmente. Em cada um desses países, por ocasião de vários eventos oficiais ou cargos públicos, todos podem, portanto, observar a aproximação, às vezes conluio, entre Igreja e Estado. A política externa também é o elemento a ser levado em consideração, em primeiro lugar para os católicos sujeitos à autoridade do Vaticano. Por exemplo, a assinatura da Concordata de 1934 entre a Santa Sé e Berlim visa certamente preservar as
instituições católicas alemãs, mas é à custa do reconhecimento do regime nazista pelo Papa, o que equivale a pedir aos bispos e seus seguidores obedecer ao novo poder. Certamente, dentro dessas Igrejas, vozes mais ou menos autorizadas podem falar contra tal desenvolvimento. Em geral, ainda existem alguns.Mas o que eles podem obter uma vez que haja uma reaproximação institucional com as novas autoridades? Mais especificamente, é necessário observar as declarações e condutas das Igrejas quando se cometem atos de violência contra os inimigos internos designados pelo Estado. Na verdade, eles poderiam aceitar a política geral do novo governo, enquanto se concediam uma margem de apreciação quanto a um ou outro aspecto dessa política. Suas reações - ou não reações - aos atos de violência constituem, portanto, um indicador fundamental de sua capacidade de falar a lei, do ponto de vista mesmo de sua legitimidade religiosa. Eles vão se lembrar do limite? Irão eles, ainda mais, usar sua influência moral para chamar o político à ordem, ou seja, para garantir a proteção de todos? Alemanha: a solidão de Dietrich Bonhoeffer Na Alemanha, quando Hitler mal se instalou no poder, um jovem pastor, Dietrich Bonhoeffer, percebeu que este é um teste para o protestantismo alemão. Ele explica, em manuscrito concluído em 15 de abril de 1933, que a responsabilidade da Igreja perante o Estado está diretamente envolvida na maneira como este trata a "questão judaica". Em consonância com o pensamento de Lutero, Bonhoeffer reconhece que “o papel da Igreja não é dizer nada diretamente ao Estado a respeito de sua ação especificamente política. Não deve elogiar nem culpar as leis do Estado, [...] deve reconhecer o seu trabalho ordenador ”. É o Estado que faz História, ele enfatiza, não a Igreja. Bonhoeffer então parece fazer uma concessão pesada ao novo regime: “Não há dúvida de que um dos problemas históricos que o Estado deve resolver é a questão judaica, e também sem dúvida que o Estado tem o direito de se envolver neste assunto. em novos caminhos. "Mas isto é para acrescentar imediatamente:" Isso não significa, porém, que permita que a ação política aconteça sem fazer nada, pelo contrário, pode e deve pedir ao Estado que o faça. ele pode assumir [verantworten] sua ação como uma ação legitimamente estatal, ou seja, uma ação que prevê a lei e a ordem e não a ausência da lei e da ordem. Ele será chamado a fazer essa pergunta com insistência onde o Estado parece estar justamente ameaçado em seu ser [Staatlichkeit] , isto é, precisamente em sua função de provedor de ordem edireito em virtude do poder investido nele. Hoje ela terá que fazer a ele claramente esta pergunta sobre a questão judaica. Com isso, não interfere na responsabilidade específica da ação do Estado, mas, ao contrário, devolve ao Estado sua pesada responsabilidade frente às suas próprias prerrogativas. " Em outras palavras, Bonhoeffer lembra ao Estado e à Igreja suas respectivas responsabilidades: é claro que o Estado está em seu papel quando legisla, mas também é papel da Igreja reagir se esta perceber o lei estadual como injusta. Bonhoeffer torna-se ainda mais preciso: “Existem três tipos de ação possíveis da Igreja perante o Estado: a primeira consiste [...] em questionar o Estado sobre o caráter legítimo do Estado. ] de sua ação, isto é, devolvê-lo à sua responsabilidade. A segunda é ajudar as vítimas da ação do Estado. A Igreja tem obrigações irredutíveis para com as vítimas de todas as camadas sociais, mesmo que não pertençam à comunidade cristã. “Faça o bem a todos ” Em ambos os casos, ao fazê-lo, a Igreja serve livremente ao Estado e, nos momentos em que a lei se modifica, ela não pode, em caso algum, 36.
fugir a estas duas missões. A terceira possibilidade consiste em não se contentar em curar as feridas das vítimas passadas debaixo da roda, mas em meter paus nesta roda infernal. Tal ação seria uma ação da Igreja diretamente [unmittelbar] política, e é possível e necessária somente quando a Igreja vê o Estado falhando em sua função de provedor da lei e da ordem, ou seja - isto é, quando ela o vê, sem escrúpulos, implementando um transbordamento ou muito pouca ordem e lei. Em ambos os casos, deve considerar a existência do Estado, bem como a sua própria, como ameaçadas ” . Combinando ação com pensamento, Bonhoeffer fará de tudo para convencer sua própria Igreja a vir em auxílio dos judeus, completando este texto apenas uma semana após a promulgação da lei sobre a "restauração do serviço público", que dispõe, nem mais nem menos, para excluir os judeus de todos os corpos de funcionários. Mas ele não conseguenão foi bem sucedido. Claro, ele se encontrou entre a minoria que se opõe à corrente de "cristãos alemães" (protestantes prónazistas) e participou da fundação da Igreja confessante. Mas mesmo aqueles que criaram esta nova Igreja não compartilham de sua firmeza, pois aceitam a introdução do "parágrafo ariano ", que equivale a excluir "judeus-cristãos" (judeus convertidos ao cristianismo), que Bonhoeffer desaprovo totalmente. Assim, para ele, mesmo a Igreja confessante está falhando em suas responsabilidades históricas, ainda que encarne o início da resistência ao regime, por motivos religiosos. Cerca de trinta e cinco anos depois, o grande teólogo Karl Barth, ele próprio uma figura da oposição protestante ao nazismo, prestou homenagem à clarividência de Bonhoeffer, salientando que ele “foi em 1933 o primeiro e quase o único a ter considerado a questão judaica de forma tão central e ter lutado por ela com tanta energia ” . Outro pastor da Igreja Luterana, Hermann Umfried, ousou protestar abertamente em março de 1933 contra a violência de que muitos judeus foram vítimas. “Mas quando os ataques começaram a chover [contra ele], nenhuma autoridade eclesiástica local, regional ou nacional ousou mostrar o seu apoio nem se levantar, mesmo timidamente, contra a violência contra os judeus . “Forçado a renunciar à hierarquia, cometeu suicídio em janeiro de 1934. As Igrejas Protestante e Católica também permaneceram em silêncio quando as leis discriminatórias de Nuremberg foram publicadas, com exceção das autoridades católicas da região de Aix. la-Chapelle e alguns protestos de pastores evangélicos em Speyer. A palavra institucional mais forte contra o nazismo, pronunciada por igrejas cristãs, é faladaem março de 1937 na encíclica de Pio XI Mit brennender Sorge , publicada diretamente em alemão e lida do púlpito em todas as paróquias católicas alemãs. O Papa condena veementemente a pseudo-religião nazista e as teorias raciais do regime, sem fazer qualquer referência direta ao destino dos judeus. O pogrom de 9 de novembro de 1938, conhecido como "Noite de Cristal", marca o auge da perseguição aos judeus na Alemanha, cinco anos após Hitler chegar ao poder. Precedida no dia anterior por uma intervenção de Goebbels na rádio, que lançou no rádio um verdadeiro apelo ao homicídio e saques, esta acção orquestrada pelo partido atingiu um nível de violência ainda desconhecido: mais de cem judeus assassinados, número de sinagogas incendiadas e lojas de judeus saqueadas. Milhares de judeus estão presos em campos de concentração. No entanto, nenhuma voz oficial da hierarquia religiosa se levanta para protestar contra o que acabou de acontecer, não mais do lado protestante do que do lado católico. Claro, o Papa Pio XI então quis romper com Berlim; mas seu futuro sucessor, Eugenio Pacelli, pró-alemão, o dissuadiu. E a Concordata sempre ajuda a amarrar a palavra dos bispos alemães, que não são, porém, anti-semitas . Bonhoeffer certamente terá visto na não reação das Igrejas a esse acontecimento a prova de que estavam de fato ameaçadas em suas fundações evangélicas. O seu silêncio em 1938 atesta um colapso dos religiosos que já não sabem lembrar a todos a proibição do homicídio, no momento 37
38
39
40
41
em que o Estado, pela voz do seu Ministro da Propaganda, incitou abertamente os alemães a cometê-lo. contra os judeus. Se o político clama pela violência pública enquanto os religiosos não ousam mais confiar na própria tradição para condená-la, quem sabe o que pode acontecer a seguir? A Igreja Ortodoxa e o “Mártir Sérvio” Na Iugoslávia, a Igreja Ortodoxa está totalmente envolvida no renascimento do nacionalismo sérvio. Se os interesses fundamentais dos sérvios estão ameaçados, como pensa sua hierarquia, não devemos, portanto, esperar que a Igreja reprima os impulsos violentos que emanam do poder político. Na verdade, a separação entre nação e religião temrealmente não faz sentido neste país. Para a Igreja, a questão nacional não é um problema político particular, mas um elemento consubstancial à religião. No mundo espiritual bizantino, Igreja e Estado andam de mãos dadas. Como Radmila Radic sublinha, a pertença nacional está antes de mais nada inscrita no próprio nome de “Igreja Ortodoxa Sérvia” . Durante a década de 1980, este último reapareceu na cena pública para defender ruidosamente a causa do povo sérvio. Já em 1982, vinte e um padres (incluindo três teólogos eminentes) assinaram um “apelo” dirigido às mais altas autoridades políticas e religiosas para promover “a essência espiritual e biológica do povo sérvio no Kosovo e Metohija”. No mesmo ano, a revista Orthodoxie publicou um artigo no qual seu autor afirma que a “mensagem dos irredentistas albaneses” revela “seu verdadeiro objetivo final: o extermínio do povo sérvio no território de Kosovo. Esta mensagem dos nazistas albaneses foi expressa [...] por várias décadas ”. Mesmo antes de Milosevic usar o termo em seus próprios discursos, foi a Igreja Ortodoxa que usou pela primeira vez, durante o Sínodo de 1987, a palavra “genocídio” para descrever as dificuldades enfrentadas pelo povo sérvio em Kosovo. Nessa consciência de vítima absoluta é enxertada uma retórica religiosa emprestada do Cristianismo. São precisamente estas experiências de sofrimento, presente e ainda mais passado, que, como as vividas por Cristo, transfiguram a história da Sérvia. Assim, o «martírio dos sérvios» leva eminentes representantes da Igreja a abordar, por exemplo, o tema da «celeste Sérvia». Em si, este tema não carrega necessariamente um raio vingativo. Ele toma emprestado da teologia cristã e afirma que, apesar de seus sofrimentos, a Sérvia, uma nação eminentemente espiritual, pode e um dia será ressuscitada: como Jesus Cristo. Mas é o contexto em que é usada essa retórica religiosa que lhe confere um formidável potencial destrutivo . As palavras do Bispo Jovan de Sabac-Valjevo, na sua carta pastoral de 1988, por ocasião da chegada das sagradas relíquias do Príncipe Lazar ao Kosovo, são um bom exemplo: “Os sérvios estão, antes de mais, a criar uma Sérvia. Celestial, diz ele, que até hoje se tornou, sem dúvida, o maior Estado Celestial. Se pegarmos apenas as vítimas inocentes da última guerra, os milhões e milhões de sérvios, homens e mulheres, crianças e idosos, mortos ou torturados no pior sofrimento, ou mesmo jogados em fossas e cavernas por criminosos Ustashi , pode-se imaginar a extensão do império sérvio nos céus hoje . Assim, como os sérvios estão hoje ameaçados com um novo "genocídio", a Igreja estará lá para os defender, no Kosovo ou noutro local. Porque as ameaças pesando contra eles também estão na Croácia, Bósnia-Herzegovina, etc. Da questão do Kosovo, a religião contribui fortemente para despertar e ampliar a causa do nacionalismo sérvio. O líder sérvio da Bósnia Radovan Karadzic dirá repetidamente: nada pode ser feito sem a Igreja. O "Amai-vos como eu vos amei" só se aplica entre os sérvios, certamente 42
43
44
não entre os albaneses, contra os quais prevalece a situação de legítima defesa. Portanto, é difícil ver como a Igreja Ortodoxa poderia protestar de alguma forma contra as atrocidades e humilhações cada vez mais freqüentes a que os albaneses são submetidos nas mãos dos sérvios. A proibição da violência contra eles já foi levantada e uma guerra de "defesa" parece possível. No entanto, alguns padres ou teólogos ortodoxos recusaram tal perspectiva, como o Padre Sava em Kosovo, que pede um verdadeiro diálogo com os albaneses, ou o Professor Ignatije Midic, que se opõe à guerra, sob esse ponto de vista. humano do que religioso. Mas a hierarquia da Igreja não o entende dessa forma, justificando sua posição por se apoiar também no texto bíblico. Assim, o assassinato original de Abel por Caim é explicitamente usado pelo Patriarca Pavle para justificar a guerra: "O mal sempre ataca e o bem deve se defender", afirma. Caim ainda está tentando matar Abel e Abel tem que se defender. Defenda-se dos ataques dos ímpios, defenda sua vida, a vida e a paz de seus entes queridos contra os criminosos. Esses são os limites que definem uma guerra justa . " 45
A Igreja Católica de Ruanda: entre o apoio ao regime e as contradições internas Em Ruanda, as fortes relações institucionais entre a Igreja Católica e o Estado limitam muito sua capacidade de dirigir o poder de forma livre e crítica. Conhecemos os laços pessoais que unem Monsenhor André Perraudin (pai branco da Suíça) ao primeiro Presidente da República, Grégoire Kayibanda. Em fevereiro de 1959, este novo chefe da Igreja Católica de Ruanda legitimou claramente as aspirações políticas desta última em uma carta pastoral que afirmava: "em nosso Ruanda, existem várias raças claramente caracterizadas" e "as desigualdades sociais são para uma. amplamente relacionado às diferenças raciais ” . Essa postura pública, próxima ao espírito do “Manifesto Bahutu”, constituiu então uma reversão fundamental da Igreja em relação aos anos anteriores, quando seus dignitários haviam apoiado o domínio da realeza tutsi. Posteriormente, o arcebispo hutu Vincent Nsengiyumva, sucessor de Perraudin, será ele próprio amigo do segundo Presidente da República, Juvénal Habyarimana. Além disso, Nsengiyumva permaneceria membro do Comitê Central do partido presidencial, até ser convencido, em 1990, a abandonar formalmente tal filiação. Portanto, não será nenhuma surpresa que a hierarquia da Igreja se abstenha de condenar a política de cotas para os tutsis instituída pelo regime e geralmente se cala sobre a violência perpetrada contra eles. No entanto, algumas posições do Vaticano não carecem de uma certa força para condenar os assassinatos de onde quer que venham, se acreditarmos na análise dos comunicados de imprensa e artigos publicados pela FIDES, a agência de notícias do Vaticano. . Em que medida essas posições "externas" foram transmitidas no local? Seja como for, apesar dos silêncios da hierarquia, as igrejas serviram, no entanto, de refúgio aos tutsis, até aos anos 1960, época dos episódios de massacres: os agressores não ousaram não violar esses santuários. Esses espaços religiosos ainda permanecem proibidos de matar, embora a violência seja muito ameaçadora pelo menos até 1994. Porque, mais tarde, as igrejas vão se tornar uma armadilha para quem ali se refugiar. Já as várias igrejas protestantes, que representam 18% da população, não têm uma posição unificada em relação ao regime, mas em geral o alto clero anglicano e a Igreja Batista a apóiam. Em suma, “o clero católico e protestante cooperou com os funcionários, difundindo as mensagens do Estado em seus sermões ” . A relação entre o poder e a Igreja Católica, no entanto, passou por períodos de crise. A composição da Igreja Católica não é à toa, ainda que esse fator não seja o único causador dessas 46
47
48
tensões. De fato, embora a Igreja seja chefiada por bispos hutus (sete de nove no início da década de 1990), o clero é predominantemente tutsi (cerca de 65%). Conseqüentemente, existe uma lacuna considerável entre o topo de seu aparelho e as realidades da vida paroquial, na qual os religiosos tutsis estão muito envolvidos. Além disso, é a sua presença nas bases que muitas vezes facilitou a recepção dos tutsis nas igrejas quando eram ameaçados de morte (mesmo que os padres hutu pudessem fazer o mesmo). Esta situação paradoxal - uma hierarquia predominantemente hutu dominando um clero predominantemente tutsi, dentro de uma população predominantemente hutu - poderia explicar em parte o silêncio da Igreja de Ruanda sobre as questões mais delicadas: era impossível chegar a um consenso. . Mas não houve mais diálogo entre os bispos hutu e os padres hutu. O corte entre a hierarquia e a base era realmente profundo, não só por causa do compromisso do arcebispo Perraudin com o regime, mas também por causa do enriquecimento dos líderes religiosos ou de sua frequente timidez. “Portanto, havia poucas decisões comuns; poucas foram tomadas posições claras […]. Ligados a este estado de coisas, certos problemas fundamentais da sociedade ruandesa (e de sua Igreja) nunca (ou muito raramente) foram abordados. O mesmo ocorre com o problema racial . " Este fosso considerável entre a base e o topo da Igreja facilitou, em parte, discursos independentes, à medida que o regime se tornou cada vez mais aberto a críticas e corrupção. O protesto também foi expresso por meio de publicações da própria Igreja Católica, como a bimestral Kinyamateka , então dirigida pelo padre André Sibomana. Notório oponente do regime, ele defende notavelmente jornalistas presos e torturados e torna-se presidente da Associação Ruandesa para a Defesa dos Direitos Humanos e das Liberdades Públicas. Em 1990, a visita do Papa João Paulo II a Ruanda, de 7 a 9 de setembro, também criou, em certa medida, a possibilidade de um espaço de fala. Em 1991, a carta de Monsenhor Thaddée Nsengiyumva (conhecido como "do presbitério de Kabgayi") teve algum impacto, denunciando a flagrante discriminação de que foram vítimas os tutsis. Outras iniciativas foram empreendidas durante este período, tanto pela Igreja Católica como pela Protestante, para promover o diálogo entre os opositores políticos (cf. capítulo III). Mas o impacto dessas tentativas permanece limitado. Não permitem que o regime saia de sua lógica étnica original, pois se sente fortemente ameaçado pela guerra iniciada pela RPF. Como se fosse uma resposta “tradicional” deste poder, as práticas dos massacres tutsis foram retomadas em 1990, como nos primeiros anos do regime. 49
A refundação sacrificial de "nós" Essas diferentes situações caracterizam-se, portanto, pelo levantamento da proibição do homicídio: o religioso o incentiva para fins de autodefesa (Iugoslávia), não consegue se opor, ou mesmo tolera (Alemanha), mesmo que em casos extremos, ainda contribui para fornecer locais de refúgio que, no entanto, irão desaparecer (Ruanda). Muito provavelmente, um limite está sendo ultrapassado, ou corre o risco de ser ultrapassado, no início da violência. Enquanto o religioso instituído (por meio das Igrejas cristãs) não é mais, não pode mais, não quer mais ser o fiador espiritual da proibição do assassinato, uma nova lógica tende a se desenvolver: aquela que coloca a perpetração do assassinato no centro do religioso , ou melhor, de outro tipo de sagrado. Um sagrado que, dependendo do caso, tem como objeto comum de veneração raça, nação ou etnia. Esta sacralização do povo “Eleito” ou maioria supõe a construção de um altar sacrificial para
queimar todos aqueles que são designados como esse “Outro” estrangeiro perigoso. A exclusão sacrificial é necessariamente constitutiva desse movimento de veneração de si mesmo, de "nós". A relação com a violência é, portanto, totalmente invertida: o assassinato não é mais uma proibição a ser respeitada, pelo contrário, torna-se uma prática fundadora não de uma nova religião, mas de uma concepção diferente de transcendência coletiva, que baseia-se em práticas religiosas instituídas, ou mesmo as recicla. Em suma, é a violência, inclusive por meio do assassinato, que remodela o grupo, por meio do sacrifício daqueles que são designados como responsáveis pela crise. O desenvolvimento desta dinâmica social sacrificial não dissolve a presença dos religiosos representados pelas Igrejas. Mas este último se encontra em competição com essa lógica do sagrado pelo assassinato, que tende a subjugá-lo, até mesmo substituí-lo. No caso da Alemanha, tudo se passa como se os religiosos estivessem paralisados, aniquilados pela onda de uma incrível onda de sacrifícios da qual a noite de Cristal marca a ascensão espetacular. Na Iugoslávia, é o religioso que por si e por si atiça as brasas de uma crise de identidade, ao propor como objeto comum de adoração a todos os sérvios a "Sérvia celestial": de certa forma, ela ele é o religioso que oferece um futuro sacrificial aos seus fiéis. Em Ruanda, após o ataque do RPF, a dinâmica sacrificial prevalecerá cada vez mais sobre o quadro institucional dos religiosos, permanecendo em silêncio após os massacres de tutsis em Bagogwe ou Bugesera. Tais análises são inspiradas na tese central de René Girard, que sustenta que "a violência constitui o verdadeiro coração e a alma secreta do sagrado ". Na verdade, o vocabulário girardiano ajuda em parte a conceituar o que acaba de ser observado na evolução mortal dos países estudados. Referindo-se ao costume bíblico do “bode expiatório” , René Girard propôs um modelo interpretativo da violência que, nas comunidades em crise, atinge uma vítima declarada culpada. O assassinato do emissário da vítima permite o expurgo dessa violência e o apaziguamento do grupo. Seja na Alemanha,Na Iugoslávia ou em Ruanda, não vemos uma verdadeira crise de sacrifícios ocorrendo, de quais vítimas designadas sofrerão o impacto? Fatores históricos e culturais presidem a esta designação de vítima: aqueles que se encontram em um certo status de marginalidade social e contra os quais um ressentimento de longa data se acumulou ao longo dos anos - em suma, aqueles que já estão na posição de vítimas. A sua importância numérica ou a sua influência precisa na sociedade em questão pouco têm a ver com o processo de designação do emissário vítima: são representações de figuras hostis que tomam forma numa sociedade em crise que procura uma explicação para o seu infortúnio. . Destacam-se aqui as figuras do judeu, do tutsi e do albanês, cuja marginalização social corre o risco de aumentar. A linguagem e as atitudes destinadas a desqualificá-los como seres humanos (insultos, palavrões, atribuição de características animais, brutalidade, etc.) aparecem ou se desenvolvem em relação a eles. E quanto mais profunda a crise que atinge a sociedade, maior o risco de tombar para o expurgo da violência contra essas vítimas. Mas em que condições essa mudança para a violência produzirá uma sacralidade que provavelmente reconciliará o grupo consigo mesmo? A obra girardiana incomoda quem quer estar próximo dos fatos sociais e históricos. Sua teoria é construída sobre uma hipótese sedutora de mimese na base de todas as relações humanas ("Sempre desejo o objeto do desejo do outro"), a partir da qual ele pretende explicar o conflito amoroso e a guerra. . Mas se ele parece convincente ao analisar a psicologia dos heróis de Shakespeare ou Dostoievski, ele permanece alusivo ou silencioso sobre os conflitos contemporâneos. Seu pensamento nunca é submetido ao teste da contextualização histórica e, como ele sempre coloca essa "hipótese mimética" em seu centro, ele necessariamente desliza para 50
51
um espírito de sistema. Outra dificuldade surge do fato de que ele teoriza a relação entre a violência e o sagrado a partir de um relato mítico de um suposto assassinato sacrificial pelo qual a comunidade primitiva teria matado arbitrariamente um de seus membros, sendo esse assassinato posteriormente cometido pelo com base no seu apaziguamento. Não sendo os homens capazes de compreender os motivos da sua reconciliação, sublinha, vão adorar a partir daí os substitutos desta vítima através dos ritos, mitos que farão lembrar esta história. Mas a história deste assassinato fundador, que pretende ser uma interpretação competir com o elaborado por Sigmund Freud em Totem e tabu (o assassinato do pai pela horda primitiva) é igualmente especulativo: acredita-se ou não acredita. Esta dimensão da crença ainda se encontra no lugar central que Girard dá a Jesus Cristo que, como uma vítima inocente, teria vindo a revelar o mecanismo sacrificial, pelo qual os homens caem na violência para depois serem reconciliados. Assim, haveria um "antes" e um "depois" na história da humanidade por causa da morte de Cristo: uma afirmação que certamente apoiaria o cristão que o próprio Girard é. Mas como verificar sua relevância e universalidade do ponto de vista das ciências sociais? A demonstração não parece muito óbvia ... No entanto, reterei de René Girard sua abordagem da violência sacrificial que visa “refundar” o grupo, em detrimento de um “Outro” a ser excluído ou banido. Essa refundação visa a sua reformulação da identidade, tanto quanto sua purificação redentora. Também não é por acaso que encontramos aqui os temas da identidade e pureza discutidos no Capítulo I . A violência sacrificial prospera em suas respectivas imaginações. Num mundo incerto, a violência cristaliza a identidade: cria certezas onde a incerteza reinava, construindo barreiras intransponíveis entre "eles" e "nós". É uma forma de refundar a “convivência” de “nós” com o sacrifício de “eles”. Ao fazer isso, a violência sacrificial pretende ser uma prática de purificação. É por meio disso que ele entra no universo do sagrado, que se torna sagrado. Quer ser um ato de purificação destinado a expulsar o que é percebido como estranho, até mesmo diabólico. Baseia-se nisso nas estruturas culturais de crença religiosa ou mágica, específicas de cada país. Pois é frequente que visões do diabo sejam associadas a representações do inimigo: matar o inimigo é "expulsar o diabo", é "vencer o mal". E é assim que o grupo acredita que está se purificando e se salvando. O massacre sacrificial se torna a condição de sua salvação. Mas os indivíduos que a compõem entram tão facilmente nessa dança macabra?
O social entre adesão, consentimento e resistência Se o poder político não é mais o garante da proibição do homicídio, se a religião não representa um freio espiritual à violência, o que resta para evitá-la, senão os próprios indivíduos? quem compõe esta empresa? A política ou a religião não imprimem automaticamente seus mitos e ideologias em indivíduos passivos ou comunidades submissas. A ideia de que uma sociedade pode ser completamente monolítica e uniforme é pura abstração: ela ignora a faculdade da mente humana de desconfiar dos padrões de dominação e crença. O historiador da antiguidade Veyne questionou: "Os gregos acreditavam em seus mitos ? " Esta questão relevante aplica-se precisamente a cada um dos casos estudados. A priori , podese responder: não é verdade que todos os hutus odeiam os tutsis, que todos os sérvios se tornaram nacionalistas e que todos os alemães se sentiram "arianos" desde que Hitler conquistou o poder. . 52
Diversas obras históricas ou antropológicas atestam essa discrepância entre o que é vivido, ao nível dos indivíduos ou grupos, e o que se relaciona com as representações míticas e ideológicas coletivas . Consequentemente, podemos postular uma capacidade potencial de resistência social, de resistência social ao desenvolvimento da violência de identidade. Superficialmente, porém, nada de importante está acontecendo a esse respeito. A violência ainda não conhece freios e sempre alcança novos patamares. Mas é tão certo? Então, não existe uma forma de resistência invisível? À primeira vista, a repressão parece capaz de sufocar tudo, de esmagar tudo. Vamos nos livrar dessa ideia simplista de poderes fantasmagóricos tiranizando povos inocentes. Porque esses poderes despóticos têm uma história: eles realmente vêm de suas próprias sociedades e são o produto delas. Se líderes políticos como Hitler ou Milosevic chegam ao topo do estado, é porque são vistos como legítimos por grande parte da população. Eles respondem a uma expectativa popular em um determinado momento da história de seu país. Muitos analistas descreveram assim o Führer como o "salvador" que os alemães esperavam para endireitar seu país à deriva e restaurálo à sua grandeza. Dentrooutro contexto, o mesmo se disse de Milosevic, em quem muitos sérvios se reconheceram no final da década de 1980, porque levantava a esperança de uma “nova Sérvia” que, livre da tutela da burocracia, viria encontrar na história o lugar que merecia. Todo o raciocínio proposto neste capítulo é baseado nesta linha de interpretação. Se intelectuais extremistas conseguiram propagar suas ideias, se os líderes políticos transmitiram essas ideias com sucesso, é porque prosperaram em um solo social favorável às suas teses. Como não lembrar aqui o Discurso sobre a Servidão Voluntária de Étienne de La Boétie? Este texto contém, de fato, intuições deslumbrantes sobre esse enigma: os indivíduos consentem em obedecer a um poder tirânico. Mas atenção: "solo favorável" não significa "completamente adquirido e sujeito ao poder". Pesquisas históricas ou sociológicas revelam uma variedade de comportamentos sociais e individuais. A gama é ampla entre uma minoria que adere francamente à ideologia dominante, numerosos comportamentos de consentimento ou acomodação ao sistema e formas mais ou menos tangíveis de dissensão, até mesmo de resistência. Assim, a historiografia da sociedade alemã sob o nazismo mostra que, além de seu apoio geral ao Führer, comportamentos de desconfiança, até mesmo rejeição, podem ser identificados na vida cotidiana, que Martin Broszat sugere chamar de Resistenz . Este autor mostrou o grande interesse dos estudos regionais em avaliar concretamente a forma como os alemães aceitam ou não, no dia a dia, os padrões nazistas. Ele observa, por exemplo, que onde os católicos estão firmemente estabelecidos, os sinais de desconfiança em relação ao regime são mais frequentes. Dando continuidade a essa linha de pesquisa, Pierre Aycoberry por sua vez, se propôs a avaliar as atitudes de cooperação ou rejeição segundo grupos sociais e etários. No caso de Ruanda, André Guichaoua fala de uma arte das aparências que anda de mãos dadas com a “paz étnica” dos anos 1980. Aderirem ou não ao discurso etnista, os ruandeses vivem com ele, em primeiro lugar Tutsis que conseguem encontrar um lugar para si no sistema, estar muito presentes no comércio, na Igreja Católica, nas redes internacionais, etc. Ao mesmo tempo, os camponeses hutu ou tutsi podem desenvolver espontaneamente uma forma de resistência passiva aintrusões de um poder central considerado arrogante e incompetente. Outro fenômeno notável: a persistência do rito ligado ao culto iniciático aos kubandwa , praticado na clandestinidade, e considerado por Claudine Vidal como uma forma de resistência à colonização religiosa. Da mesma forma, é exagerada a ideia de que os indivíduos são "esmagados" por um sistema de propaganda política que condiciona seus pensamentos. Claro, a propaganda destila a estrutura 53
54,
de significado que define o universo ideológico do poder. As anotações do dia a dia na Alemanha nazista pelo filólogo Victor Klemperer são de excepcional interesse a esse respeito: ao dissecar a "linguagem" do nazismo, ele revela seu "veneno lexical", que permite matar pessoas. avançar com palavras. Mas até que ponto o público exposto a essa propaganda a subscreve totalmente? Ninguém pode dizer isso com precisão e nuance. A sociologia da recepção da mídia, em qualquer caso, provou suficientemente que tendemos a superestimar seu impacto geral. Os indivíduos retêm uma certa capacidade crítica para decodificar essa propaganda e reinterpretar essas mensagens de acordo com sua experiência pessoal e daqueles ao seu redor. Se a eficácia da propaganda existe, ela não se baseia apenas no seu conteúdo. É também, e talvez antes de tudo, devido à receptividade daqueles que estão expostos a ela e querem acreditar nela. É o contexto de recepção dessa propaganda que a torna mais performativa: um contexto de crise e medo coletivo. Portanto, mesmo que a “informação” não seja confiável, pode-se acreditar. Nesse sentido, medo e propaganda são colocados em uma relação dialética. Sentimentos de medo, de apreensão do futuro oferecem boas condições para receptividade até mesmo à propaganda grosseira. O medo de uma ameaça percebida como mortal pode tornar crível a irracionalidade de um discurso destinado a evitá-la. Por outro lado, a própria propaganda, pela disseminação repetida de mensagens que induzem à ansiedade, contribui para aumentar o medo em uma população já preocupada. A propaganda tem então o efeito de mobilizar o grupo que se sente ameaçado e desenvolver o ódio contra o que esse grupo percebe como um perigo mortal. A "espiral do silêncio" Outro fenômeno ligado ao medo é o da "espiral do silêncio", descrita pela socióloga alemã Elisabeth Noelle-Neumann: medo não de ser destruído, mas de se encontrar isolado do próprio grupo. de pertencer. O autor parte da ideia de que, para não experimentar o isolamento, ou mesmo o banimento, o indivíduo pode desistir de expressar seu próprio julgamento. Essa tendência à conformação é, de fato, uma das condições de sua integração social. Isso é crucial em uma situação de instabilidade em que o indivíduo, testemunhando uma luta entre posições opostas, deve tomar partido. Ele certamente pode concordar com o ponto de vista dominante, que reforça sua autoconfiança e permite que ele se expresse sem relutância, sem correr o risco de ficar isolado diante de quem tem diferentes pontos de vista. Mas, ao contrário, ele pode descobrir que suas convicções estão perdendo terreno: quanto mais, menos seguro ele ficará - menos inclinado estará a compartilhar suas opiniões. A tendência de se expressar em um caso e de calar-se no outro, portanto, gera uma espiral que vai estabelecendo uma opinião dominante. Alexis de Tocqueville foi notavelmente descreveu este processo em O Antigo Regime ea Revolução , mostrando como o desprezo da religião se torna uma atitude generalizada durante o XVIII século francês. Assim, ele observa: “Os homens que mantiveram a velha fé temiam ser os únicos a permanecer fiéis a ela e, temendo o isolamento mais do que o erro, juntaram-se à multidão sem pensar assim. Isso era apenas uma parte do sentimento da nação aparecia na opinião de todos e, portanto, parecia irresistível aos olhos de quem lhe dava a falsa aparência . " Com base nesta “espiral de silêncio”, Elisabeth Noelle-Neumann define a opinião pública como “aquela opinião que pode ser expressa em público sem risco de sanção e na qual se pode basear a ação realizada em público ” . A opinião pública consistirá, portanto, em dizer: "O judeu não vale nada", "os muçulmanos bósnios são turcos", "os tutsis são os antigos invasores e th
55
56
dominadores de Ruanda". Ao mesmo tempo, essa opinião pública é amparada por uma política pública que visa alcançar o que reivindica. Em nenhum momento Elisabeth Noelle-Neumann postula que os indivíduos realmente acreditam nesta opinião da maioria. Este é, sem dúvida, o caso dos mais convictos, mas, segundo ela, a maioria concorda com issoobediência e medo de punição. Em suma, existem opiniões divergentes, mas são silenciosas. A opinião exibida e martelada é que "você não deve amar os judeus". Mas essa injunção será confirmada toda vez que um não-judeu realmente se encontrar com um judeu? Provavelmente sim, pois o modelo desenvolvido por Elisabeth Noelle-Neumann se baseia na submissão dos indivíduos à opinião majoritária, por medo de sanções e isolamento. Mas às vezes não, já que sua teoria mantém a distinção entre manifestação pública e convicção pessoal. A resistência à opinião maioritária é, portanto, sempre possível, desde que os indivíduos que tomam a iniciativa tenham a coragem de desafiar o medo da marginalidade: “A função ativa de iniciador de um processo de formação de opinião, ela diz, é para qualquer um que pode resistir à ameaça de isolamento . " Quem poderá mostrar inconformismo para resistir à exclusão desse Outro retratado como inimigo? Aqui estamos, de fato, no ponto crucial deste capítulo. O que está em jogo é uma escolha existencial entre duas formas possíveis de isolamento: o que já atinge as vítimas designadas, o que zela por todos aqueles que gostariam de ajudá-los de alguma forma. O tecido desta crise centra-se no que os sociólogos chamam de "laço social", isto é, o que liga fundamentalmente os indivíduos de uma mesma sociedade, o que os faz reconhecer-se como pertencentes a uma mesma comunidade. da vida. Esse vínculo social está em processo de "liberação" ou ainda está se mantendo? Esta é a principal questão do drama que está se desenrolando. Ele não irá tão longe a ponto de até mesmo alcançar o vínculo intergeracional, rompendo em algum lugar as relações entre pais e filhos? O poder nazista pretende atacá-lo. Assim, o historiador Omer Bartov cita vários exemplos que mostram que o regime de Hitler não apenas organizou uma doutrinação em massa da juventude alemã, mas chegou a encorajar as crianças a denunciarem seus pais como "inimigos do Estado", em usá-los como indicadores no círculo familiar . Para a socióloga americana Helen Fein, uma das pioneiras nos estudos comparativos sobre genocídio, o laço social está no que chamado de "universo de obrigações" (universo de obrigações) , que define como "o círculo de indivíduos ligados pelos compromissos recíprocos de proteção mútua e cujas ligações vêm de sua relação comum com uma divindade ou autoridade sagrada (o estado que constitui uma das formas comuns desta autoridade à qual os indivíduos juram fidelidade) ” . Porém, para tornar perceptível a desumanidade das vítimas, diz ela, basta colocálas fora desse universo de obrigações. Esse "outro" inimigo torna-se então completamente "outro", isto é, livre de qualquer vínculo de identificação recíproca. É um processo de desidentificação (ou mesmo desculturação, como diriam os psicólogos) que expulsa os indivíduos de sua comunidade de pertencimento. Nesse sentido, o conflito parece muito mais radical do que no contexto de uma guerra civil. Porque, neste caso, os atores em conflito sempre se reconhecem como parte da mesma comunidade política ou nacional. Na Guerra Civil Espanhola, por exemplo, os franquistas e os republicanos, embora lutassem ferozmente, continuaram a se reconhecer como espanhóis. Aqui estamos indo para algo bem diferente. A crescente perseguição aos judeus na Alemanha nazista parecia, a partir do final da década de 1930, apresentar um exemplo extremo: por etapas sucessivas, ia sempre mais longe, sempre mais forte, obrigando os judeus à exclusão jurídica, política e econômica. , fisica. Assim, eles efetivamente se encontraram fora do “universo de obrigações”, projetado fora da 57
58
59
comunidade nacional. Falar, neste caso, de decadência do vínculo social é muito fraco: trata-se de sua destruição pura e simples em todas as suas dimensões. Para se ter uma ideia do desastre, vamos ler o diário de Victor Klemperer novamente. Ele conta, por exemplo, como seus ex-colegas de universidade não demonstram solidariedade com ele, à medida que ele se encontra cada vez mais isolado. Em suas Memórias, o ex-combatente da resistência judaica Jean Améry testemunha um sentimento que parece ir além do abandono: “Todos os dias, mais uma vez, perco minha confiança no mundo. O judeu, que não pode ser definido em termos de positividade [...], deve chegar a um acordo com uma existência privada de confiançano mundo. A vizinha me cumprimenta gentilmente: “Olá, senhor”; Tiro o chapéu: "Olá, senhora". Mas Madame e Monsieur estão separados um do outro por distâncias interplanetárias, porque ontem uma Madame virou a cabeça quando um cavalheiro estava sendo levado embora, e pelas janelas de treliça do carro que estava dando partida, um cavalheiro olhou para uma Madame como um anjo de pedra em um céu claro e duro, para sempre fechado para os judeus . " 60
A quebra do laço social Os modos de colapso desse vínculo social são múltiplos. Na Iugoslávia, esse processo de desvinculação é muito diferente daquele da Alemanha. Muitos autores têm insistido no peso das feridas e traumas que os massacres perpetrados durante a Segunda Guerra Mundial deixaram na memória. Assim, anos depois, sentimentos de desconfiança, ressentimentos, nunca totalmente extintos, puderam permanecer em cada um dos povos que constituíam a federação iugoslava desejada por Tito. Mas esse legado traumático não deve, no entanto, obscurecer o próprio comunismo iugoslavo. Com efeito, nos tempos do comunismo de autogestão, quem quer se opor politicamente a Tito, à ideologia da “fraternidade dos povos”, só o pode fazer em bases nacionalistas. Transgredir esse tabu essencial do regime parece necessário para conquistar o direito de se expressar livremente. Tanto é verdade que, nos anos que se seguiram à morte de Tito, a aspiração por liberdade e democracia se confunde cada vez mais com a busca nacionalista. As eleições que se seguiram, em 1990, 1991 e 1992, foram quase sempre baseadas no mesmo cenário de “liberdade”: votar pela democracia é votar no partido que representa a “nação”. No entanto, esse cenário contém uma grande contradição, pois se baseia em uma oposição fundamental entre partido e democracia; sendo o partido monoétnico, não apóia outras formas de expressão. É por isso que o sistema federal praticamente explodiu por causa de suas contradições internas. Concretamente, todos são forçados a se fazer uma pergunta sobre a qual geralmente não pensam: quemsou eu? E quem é esse “Outro”? Sérvio, croata, bósnio? Anteriormente, eles mal se importavam. Agora, esse critério de etnia existe na cabeça das pessoas. O resultado é, portanto, uma etnicização tão política quanto a própria . No entanto, esse processo está longe de ter a mesma intensidade em todos os lugares. A questão não se coloca na Eslovênia, onde 92% dos eslovenos se consideram eslovenos e, portanto, se sentem seguros lá. Na Croácia, na grande maioria dos municípios, os habitantes também se reconhecem como croatas; em dois terços do território da Croácia, portanto, não há medo de ser massacrado por um vizinho, exceto em casos de agressão militar externa. É apenas na Bósnia que este sentimento de insegurança assume uma dimensão trágica. 61
Neste sentido, Xavier Bougarel mostrou como esta crise de cidadania abalou o sistema federal por dentro, o que teve como efeito, nomeadamente, pôr em causa as regras de boa vizinhança entre comunidades, em vigor através do komsiluk herdado . do Império Otomano. Este termo de origem turca designa relações de vizinhança no seu conjunto, de convivência pacífica entre as diferentes comunidades (ajuda mútua no trabalho e na vida quotidiana, convite a cerimónias religiosas, associação a eventos familiares, etc.) . Esta importância do komsiluk deve-se ao facto de a sociedade bósnia ser uma sociedade pós-otomana, ainda marcada pelo sistema dos “millets” (comunidades religiosas não soberanas e não territoriais), o que lhes permitia coexistir no mesmo território. O komsiluk , que não se baseia em nenhum caso numa lei escrita ou num código formal, mas sim numa prática social, que tem rituais próprios. Não é sinônimo de “misto”: pressupõe que duas pessoas de duas comunidades diferentes vivam em duas casas diferentes, enquanto um casamento misto pressupõe que duas pessoas de comunidades diferentes vivam na mesma casa. É, portanto, uma forma de todos ficarem em casa, mas com um sistema de trocas intercomunitárias cujo fiador é, em última instância, o Estado. Com efeito, “esta garantia ao nível quotidiano do carácter estável e pacífico das relações entre as comunidades funciona porque o Estado é capaz de garantir este carácter estável e pacífico ao nível político. Quer ele pare de fazer isso ou coloque as comunidades umas contra as outras, o komsiluk - buscando segurança por meio de reciprocidade e paz - pode então se transformar em crime - buscando segurança por meio da exclusão e guerra ”. Isso é precisamente o que provavelmente acontecerá no início dos anos 1990, com a crescente fragmentação da sociedade bósnia e a etnicização da luta política. A consequência imediata é o declínio das práticas de boa vizinhança. Da mesma forma, a frequência a locais comuns de sociabilidade (cafés, por exemplo) ou a participação nas mesmas atividades (danças folclóricas) tende a diminuir. Todos estão inclinados ou convidados a permanecer no grupo “seu” . Este desenvolvimento étnico na Bósnia e Herzegovina não é, entretanto, uniforme. Por exemplo, a cidade de Tuzla e sua região estão resistindo às pressões nacionalistas. Sem dúvida, por ser uma cidade industrial e mineira, cuja identidade social continua forte, consegue preservar os equilíbrios e modos de funcionamento associados ao antigo sistema iugoslavo enquanto se pervertem. e desabou em outro lugar. Em vez de assumir a generalização da ideologia étnica na Bósnia, é necessário, portanto, examinar as situações caso a caso: só uma história local e regional pode trazer à luz a complexidade dessas relações. O mesmo vale para Ruanda. Se o discurso etnicista é dominante, a estigmatização dos tutsis é muito desigual no país. O antagonismo étnico assume contornos diferentes de acordo com as regiões e, dentro das regiões, de acordo com os grupos sociais e redes políticas. Na região de Butare, por exemplo, no sul do país, a categorização hutu / tutsi influencia muito pouco o tecido das relações sociais. Nesse caso,como em Tuzla, o laço social parece se manter bom, apesar de um ambiente político que está se dilacerando. Mas por quanto tempo? Em todo caso, devemos nos esforçar para pensar o avesso e o avesso do mesmo fenômeno: o que diz respeito à destruição e preservação - da melhor forma possível - do vínculo social. Em relação à Iugoslávia, o sociólogo Anthony Oberschall questiona os modelos interpretativos que foram propostos para explicar a queda do país na guerra étnica. Ele conclui acertadamente que a dificuldade é conseguir pensar simultaneamente em dois "quadros cognitivos" contraditórios das relações sociais - os da cooperação e do ódio -, podendo um ou outro ser acionado de acordo com as circunstâncias econômicas e políticas. do momento . 62
63
64
65
Da mesma forma, a antropóloga belga Danielle de Lame conduziu um estudo notável sobre a vida de uma colina no sul de Ruanda entre 1988 e 1990, antes do início da guerra civil. Ela explora todos os aspectos: produção, consumo, fluxos monetários, relações sociais, redes de influência, conflitos. Será difícil detectar em suas análises o início do que acontecerá apenas quatro anos depois. Ainda é verdadeiramente "a calmaria antes da tempestade ". Se a cultura de Ruanda pode de fato legitimar a vingança em certos casos (lealdade aos ancestrais implica vingar qualquer assassinato cometido em sua própria linhagem pelo assassinato de qualquer homem da linhagem assassina), bondade e nobreza de coração fazem isso também parte. Danielle de Lame acredita que o universo de significados que fazia a coerência do sistema de representações desta cultura ruiu repentinamente devido à crise econômica e política do final dos anos 1980. Assim que se percebeu essa ameaça de caos , ela pediu uma nova forma de ordem, a eclosão de assassinatos pode parecer uma tentativa desse tipo. Mas esta dinâmica sacrificial ainda não cancelou os gestos de solidariedade, inclusive na crise. 66
O papel do terceiro Muitas vezes, quando a situação de um país se transforma em "violência étnica", os jornalistas tendem a ver apenas violência. Essa atitude espontânea é perfeitamente compreensível. A ação violenta sendo a mais identificável, facilmente se presta ao tratamento jornalístico. Mas essa cobertura da mídia é enganosa. Pois quem disse que ao mesmo tempo outros atores, de forma discreta e portanto discreta, não estão fazendo esforços consideráveis para salvar as vítimas ameaçadas de serem varridas pela tempestade? Anos depois, o trabalho do historiador muitas vezes é capaz de prová-lo, ainda que essas ações de solidariedade continuem sendo modestas. O ato de violência, espetacular e trágico, não deve de modo algum nos fazer esquecer os gestos de ajuda mútua, humanistas, muitas vezes anônimos. Essas situações contrastantes levam a cautela e nuances na percepção dos eventos; trata-se de construir uma grade de análise que leve em conta essa complexidade flutuante. De agora em diante, vou manter este ponto fundamental em meus olhos: se o futuro do vínculo social desempenha um papel determinante no desenvolvimento da violência, então isso não pode ser reduzido a uma relação binária entre perseguidores e vítimas. Seria uma visão muito maniqueísta e reduzindo a complexidade de suas relações. Entre esses dois termos, há sempre um “terceiro”, um “terceiro”, que os autores anglo-saxões costumam chamar de espectador , palavra traduzida de maneira imperfeita para o francês como “espectador”. Além dessa dificuldade de tradução, esse termo não parece ser suficientemente "profundo": como sugere sua construção, designa um terceiro que está "próximo a" e, conseqüentemente, não é realmente um stakeholder no que está acontecendo.
Crystal Night, 9 a 10 de novembro de 1938 “Na noite de 9 de novembro, o Ministro da Propaganda, Goebbels, fez um discurso furioso, uma mistura inteligente de negação da realidade e um apelo ao assassinato. Ele acrescenta que “o Partido [nazista] não tem que planejar ou organizar essas manifestações; mas, uma vez que essas erupções surgiram espontaneamente, não devem ser reprimidas ”. […] Apelo claro para assassinato, seguido em toda a Alemanha por dezenas de SS, SA e cidadãos corajosos. No dia seguinte, lamentamos em Berlim os danos, destruição ou saque de 3.767 casas e lojas de judeus, a destruição pelo fogo de 9 das 14 sinagogas públicas da cidade. 5 permaneceram mais ou menos
intactos. Entre eles, o maior, e o mais belo, cuja localização parecia fadada ao desaparecimento, na intersecção entre a grande Universidade Humboldt, um enorme enxame de jovens nazistas, e o bairro “celeiro”, o dos judeus de do Oriente (os Ostjuden ), onde se cristalizaram as formas mais violentas de ódio anti-semita. Então, por que essa sinagoga foi poupada? “A história é curta, muito simples. Não de um grande heroísmo, mas de um gesto rotineiro. A delegacia nº 16 de Berlim cobriu então a área do celeiro. À sua frente, o chefe Wilhelm Krützfeld, nascido perto da fronteira dinamarquesa em 1880, um policial em Berlim, que assumiu este cargo administrativo em setembro de 1932, poucos meses antes da nomeação de Hitler para a chancelaria. Sob Hitler, em 1937, pouco antes da Kristallnacht, ele foi até nomeado Inspetor Geral, no posto mais alto que pôde alcançar. Na noite de 9 de novembro de 1938, ele estava em casa, com sua esposa e dois filhos, e recebeu um telefonema do colega de plantão: a SA, soltou, saqueou os armazéns, destruiu o tesouro da sinagoga e se desfez fardos de palha, para acendê-la. Krützfeld então fez alguns telefonemas, pegou sua arma e sua pasta e foi com alguns agentes ao local. Na Oranienburgerstrasse, ele colocou seus poucos homens de frente para osinagoga, liberou os saqueadores que por ali passavam, chamou os bombeiros, que obrigou a apagar imediatamente as primeiras chamas da sala do tesouro, guardou na sua pasta alguns documentos preciosos. Então a sinagoga foi salva. Sem SA, sem SS, nenhum outro de nenhuma patente ou ousadia se opôs a ele. Ele enviou outros policiais para proteger a escola judaica atrás da sinagoga a alguns metros de distância. Ela também sobreviverá às chamas. Poucos policiais, por determinação de apenas um, terão assim bastado para inverter o curso do que em todos os outros lugares será designado como o curso inexorável da história, a fatalidade. “A história dos dias seguintes permite-nos compreender o que este gesto deve à imprudência ou à inconsciência. No dia seguinte, de fato, e na perfeita lógica das coisas, o chefe da segurança alemã e braço direito de Himmler, Heydrich, dirigiu uma carta oficial ao promotor público para ordenar que ele “não iniciasse nenhum processo contra o “Ação judaica ' [Judenaktion] ”. Sem processo ou julgamento, portanto, 10.000 judeus serão enviados diretamente para o campo. A polícia não vai investigar, a justiça não vai falar. Já em 1938, o regime quase não deu a si mesmo aparência de justiça. O chefe de polícia Krützfeld liga para o estilista da esquina, Herr Hirschberg, e da mesma forma salva, com um simples telefonema, o rabino da grande sinagoga, que fugirá na mesma noite para Stuttgart, depois para Grã-Bretanha. Em 11 de novembro, Krützfeld foi chamado a comparecer o mais rápido possível perante o Comissário da Polícia de Berlim, SAObersgruppenführer Wolf Heinrich, Conde de Helldorf […]. Sob Hitler, ele deveu sua deslumbrante carreira policial a suas façanhas nacionalistas. A partir de 1938, porém, ele participou de várias conspirações militares contra Hitler, incluindo a de 20 de julho de 1944, o ataque fracassado que quase custou a vida do ditador: em 20 de julho de 1944, ele havia desmobilizado completamente a polícia de Berlim e assim permitido a muitos conspiradores para escapar da SS. Ele será executado em 15 de agosto de 1944. Ele também terá permitido, além disso, que judeus fugissem da Alemanha, por meio do tráfico de passaportes falsos. Mas apenas para judeus ricos. Aqueles que poderiam então pagar a soma de 250.000 marcos alemães que ele exigia deles. "
Trecho de Fabien Jobard, “Em nome do pedido. Policiais em resistência durante a Kristallnacht ”, © Alternativas não violentas , n ° 118, primavera de 2001, p. 40
No entanto, a situação se apresenta exatamente de maneira oposta: este terceiro está efetivamente envolvido na dinâmica social que irá ou não levar à crescente marginalização das vítimas designadas. Concretamente, como nota Jean Améry, na relação cotidiana entre judeus e não judeus, como vimos também para a Bósnia, esse terceiro é o vizinho. Ele mesmo chorará com os lobos? Ele vai fechar os olhos? Ele expressará aberta ou discretamente sua amizade, sua solidariedade? Este terço vizinho, este terço próximo não é necessariamente um inimigo do novo regime. Ele pode se identificar com a política de “recuperação” das novas autoridades enquanto discorda sobre um ou outro aspecto das medidas tomadas. Portanto, ele pode considerar que, em termos de perseguição e marginalização de tal ou qual grupo, “estamos indo longe demais”. Isso não o impede necessariamente de reconhecer, em sintonia com a propaganda que ouve todos os dias, que "sim, há um problema com os judeus". No entanto, para oou aqueles judeus que estão em seu círculo imediato, ou que ele pode encontrar por acaso, ele pode estar preocupado. Em outras palavras, ele pode aderir a uma opinião abstrata chamada "anti-semitismo", mas se comportar em contradição com essa ideia para ajudar alguém que ele sabe ser judeu. O papel deste terceiro é, portanto, particularmente importante no que diz respeito ao futuro da relação perseguidor / vítima. Isso nunca se reduz a relações binárias e antagônicas, mas evolui com base em uma estrutura triangular. Se o terceiro mostrar solidariedade concreta para com as vítimas, é possível que sua intervenção venha a retardar o desenvolvimento da violência. Melhor ainda, essas reações de solidariedade “popular” podem até se expressar por meio da formação de uma nova opinião pública, desta vez resistente, como sugere o modelo de Elisabeth NoelleNeumann. Mas se esse terceiro permanecer globalmente indiferente à perseguição das vítimas, então está aberto o caminho para o desenvolvimento de uma violência ainda mais intensa. A respeito da perseguição aos judeus, o historiador Leon Poliakov desde muito cedo intuiu essa importância do terceiro. Já em 1951, ele afirmava que os nazistas levavam em consideração as reações da opinião pública alemã . A tentativa de boicote às lojas judaicas, empreendida em 1933 e 1934, pouco apreciada pelos alemães, não teve, por exemplo, continuidade. Mas quando outra medida discriminatória foi implementada sem suscitar reações hostis, então um novo nível de perseguição poderia ser adotado. Este modelo básico não foi negado posteriormente, embora trabalhos posteriores o tenham tornado mais complexo. Sabemos, por exemplo, que a opinião pública alemã condenou a violência da Kristallnacht em 1938. Como observa o historiador israelense David Bankier, os alemães se acostumaram a "não mais ver" os judeus. E agora esse pogrom os lembrava brutalmente de sua existência e os chocava com uma explosão de violência . Os nazistas chegaram à conclusão de que deveriam ser mais tolerantes com os judeus? Certamente não. Eles deduziram que era necessário isolar ainda mais os judeus do resto da população.e encorajar sua partida. Esse foi, aliás, o efeito imediato desse pogrom: o terror que provocou crescentes demandas de exílio. No final de 1939, mais de 250.000 judeus haviam deixado o Reich. A mensagem era clara: eles eram totalmente indesejáveis lá, sua situação continuou a piorar desde 1933. Pode-se ficar surpreso que 200.000 deles optaram por ficar ... porque, mais uma vez, depois dessa explosão de violência, ninguém protestou. As igrejas ainda estavam em silêncio. Eles não haviam desempenhado esse papel de terceiro protestante que poderia ter influenciado as autoridades. 67
68
Essa palavra de protesto, que faltava dramaticamente na Alemanha, não poderia ter vindo de fora do país? Esse apoio de terceiros ausente não poderia aparecer no cenário internacional, de certa forma por procuração? De facto, esta questão abre um novo campo de análise: aquela que visa compreender o processo de violência que conduz ao massacre não só do ponto de vista da evolução interna do país, mas no seu contexto internacional. Os constrangimentos da construção deste livro obrigam a não tratar estas duas dimensões em conjunto. Mas é claro que os dois estão em constante interação. É, portanto, para o espaço internacional de crise que agora vamos nos voltar e que, de repente, as situações examinadas se tornarão ainda mais trágicas. Porque, no final das contas, o que vai radicalizar muito mais as mentes, o que vai brutalizar ainda mais os atores, é a transformação desse processo de violência em ato de guerra. 1. Norbert Elias, La Dynamique de l'Occident , Paris, Calmann-Lévy, col. "Pocket Agora", 1991. 2. Jonathan Fletcher, "The Theory of Decivilizing Processes and the Case of Nazi Mass Murder", Amsterdams Sociologisch Tijdschrift , 1994. Ver também, em francês, S. Mennell, "l'Envers de la médaille: les process de décivilisation", em A. Garrigou e B. Lacroix (eds.), Norbert Elias. Política e História , Paris, La Découverte, 1997, p. 213-235. 3. Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust , op. cit. 4. Abram de Swaan, “Decivilização, extermínio e o Estado”, em Yves Bonny, Jean-Manuel de Quieroz e Erik Neveu (ed.), Norbert Elias e a teoria da civilização , Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 63-73. 5. Embora o significado aqui atribuído a esta palavra seja próximo ao que Jacques Julliard e Michel Winock lhe atribuíram através da noção de compromisso: “Um intelectual não é apenas um signatário de petições. É um homem ou uma mulher que, por meio dessa atividade, pretende propor a toda a sociedade uma análise, um direcionamento, uma moralidade que seus trabalhos anteriores o qualificam a elaborar [...]. Supõe-se por convenção que, justificada ou não, as atividades intelectuais (artes, ciências, literatura, filosofia) predispõem quem as exerce ao manejo de ideias gerais sobre a sociedade ou a forma de gerenciá-la ”(ver Jacques Julliard e Michel Winock, Dicionário dos intelectuais franceses , Paris, Le Seuil, 1996, p. 12). 6. Ian Kershaw, Hitler , op. cit. , p. 58 7. Leremos sobre ele em francês, em particular Le Temps du mal , Lausanne, L'Âge d'homme, 1990. 8. Citado por Paul Garde, Life and Death of Yugoslavia , Paris, Fayard, 1992, p. 54 9. Mirko Grmek (ed.), The Ethnic Cleansing. Documentos históricos sobre uma ideologia sérvia , Paris, Fayard, 1993, p. 251. 10 . Citado por Gérard Prunier, Ruanda, 1959-1996 , op. cit. , p. 62-63. Em Kinyarwandan, Muhutu e Mututsi são os termos genéricos para nomear Hutu e Tutsi. Bahutu é o plural de Hutu , assim como Batutsi é o plural de Tutsi . 11 . Veja o estudo de Julie Mertus, Kosovo. How Myths and Truths Started a War , Berkeley, University of California Press, 1999.
12 . René Lemarchand, “Comparando os Campos de Matança: Ruanda, Camboja e Bósnia”, em Steven LB Jansen (ed.), Genocídio. Casos, comparações e debates contemporâneos , Copenhague, Centro Dinamarquês para Estudos do Holocausto e Genocídio, 2003, p. 141-173. 13 . Autor de um manual de anatomia que leva seu nome, ele se tornará o reitor, depois reitor da Faculdade de Medicina de Viena, após a ascensão de Hitler ao poder. 14 . O primeiro, diretor do hospital neuropsiquiátrico de Sibenik (na costa da Dalmácia), iniciou uma carreira deslumbrante em 1988, multiplicando escritos e discursos em que se chocam referências religiosas, nacionalistas e psicanalíticas; o segundo assumirá a liderança do Partido Nacionalista (PDS) e se tornará o líder político sérvio-bósnio mais proeminente. 15 . Robert Ian Moore, The Persecution. Sua formação na Europa, x -XIII século , Paris, Les Belles Lettres, 1991. e
th
16 . Citado por Jean Hatzfeld, Dansle nu de la vie. Histórias dos pântanos de Ruanda , Paris, Le Seuil, 2000, p. 106; cana. col. "Points", 2002. 17 . Arlette Farge, “A jornada de um historiador. Entrevista com Laurent Vidal ”, Genesis , n ° 48, setembro de 2002, p. 115-135. 18 . Entrevista com Ian Kershaw, “A Alemanha sonhou com um grande homem”, L'Histoire , janeiro-março de 2003, p. 60-63. 19 . Vesna Pesic, "The War for National States", em Nebojsa Popov (ed.), Radiographie d'un nationalisme. As raízes sérvias do conflito iugoslavo , Paris, L'Atelier / Éd. trabalhadores, 1998, p. 45-46. 20 . John B. Allcock, Explicando a Iugoslávia , op. cit. , p. 430-431. 21 . Jean-R. Hubert, La Toussaint rwandaise et sa repression , Bruxelas, Royal Academy of Overseas Sciences, 1965. 22 . Filip Reyntjens, África dos Grandes Lagos em Crise , Paris, Karthala, 1994, p. 24 23 . Claudine Vidal “O genocídio dos tutsis ruandeses: crueldade deliberada e ódio lógico”, em Françoise Héritier (ed.), De la violência , Paris, Odile Jacob, 1996, t. I, p. 339. 24 . Em 1961, Ruanda tinha quase 2.800.000 habitantes. Os tutsis, representando 15% da população, eram cerca de 420.000; cerca de 120.000 deles já haviam escolhido o exílio no final de 1963. 25 . Aaron Segal, Massacre in Rwanda , Londres, The Fabian Society, 1964; Luc Deusch, Massacres coletivos em Ruanda? , Bruxelas, Syntheses, 1964, p. 418-426. 26 . André Guichaoua (ed.), Crises Políticas no Burundi e Ruanda (1993-1994) , Paris, Karthala, 1995, p. 22
27 . Id., Camponeses destinos e políticas agrárias na África Central , t. I: Ordem dos Camponeses das Terras Altas do Burundi e Ruanda , Paris, L'Harmattan, 1989. 28 . O historiador se apoia aqui na noção de “carisma”, desenvolvida pelo sociólogo alemão Max Weber. Ver Ian Kershaw, Hitler , op. cit. 29 . De fato, o pai de Milosevic, sacerdote da Igreja Ortodoxa (excomungado depois de 1945 por ter denunciado seus colegas às novas autoridades), acabou cometendo suicídio. Alguns anos depois, sua mãe, uma professora, comete suicídio por sua vez. Veja Adam LeBor, Milosevic. A Biography , London, Bloomsburry, 2002, p. 26-27 (sobre o suicídio do pai) e p. 36-37 (no da mãe). 30 . Audiência de 31 de agosto de 2004 no Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia, Haia. 31 . Apelo de Sua Excelência o Presidente Kayibanda aos Ruandeses emigrados ou refugiados no exterior, pronunciado em Kigali em 11 de março de 1964 (documento comunicado por Marcel Kabanda). 32 . Radé Veljanovski, “The turnaround of audiovisual media”, em Nebojsa Popov (ed.), Radiographie d'un nationalisme , op. cit. , p. 299 sq . 33 . Ver a análise de Jean-François Dupaquier em Jean-Pierre Chrétien (ed.), Ruanda . The genocide media , Paris, Karthala, 1995, p. 29 (reed. 2003). 34 . Joseph Krulic, "Reflexões sobre a singularidade sérvia", Le Débat , n ° 107, novembro-dezembro de 1999, p. 97-117; Jordane Bertrand, Ruanda. Oposição democrática antes do genocídio (1990-1994): a armadilha da História , Paris, Karthala, 2000. 35 . Citado em L. Gayer e A. Jaunait, “Discours de guerre contre dialogues de paix. Os casos da ex-Iugoslávia e de Ruanda ”, Cultures et Conflits , 40 (1). Ver também Philippe Braud, Political Violence , Paris, Le Seuil, coll. “Points Essais”, 2004. 36 . Gálatas 6.10. 37 . Dietrich Bonhoeffer, “Die Kirche vor der Judenfrage”, em Berlim, 1932-1933 , Munique, Christian Kaiser Verlag, 1997, p. 350354. Gostaria de expressar minha gratidão a Andréa Tam, que me apresentou a este texto inédito em francês e para o qual ela forneceu a tradução. 38 . A lei para o restabelecimento da função pública profissional, promulgada em 7 de abril de 1933, também era aplicável aos funcionários eclesiais. Como resultado, a Igreja agora teve que se recusar a empregar e contratar pastores judeus-cristãos; o que Bonhoeffer chamou de “parágrafo ariano”. 39 . Karl Barth acrescenta: “Já faz muito tempo que não me sinto pessoalmente culpado por não tê-la defendido durante o Kirchenkampf como uma questão decisiva, pelo menos não publicamente (por exemplo, nas duas declarações teológicas de Barmen que eu Eu
escrevi em 1934) ”, citado por Andréa Tam,“ Dietrich Bonhoeffer et la question juive ”, em The Catholic Engagements e Protestant Against Nazism in France and Germany , CIERA Study Day, Paris, 21 de maio de 2003. 40 . Saul Friedlander, Alemanha Nazista e os Judeus , op. cit. , p. 53 41 . Sobre este assunto, consulte o livro matizado mas intransigente de Michael Phayer, The Church and the Nazis, 1930-1965 , Paris, Liana Levi, 2001. 42 . Radmila Radic, “A Igreja e a Questão Sérvia”, em Nebojsa Popov (ed.), Radiographie d'un nationalisme , op. cit. , p. 137 43 . O livro de Branimir Anzulovic mostra como mitos culturais ou crenças religiosas foram assim reinterpretados pelos partidários do renascimento nacionalista, a fim de legitimar sua política aos olhos do maior número. Veja Branimir Anzulovic, Heavenly Sérvia. From Myth to Genocide , London, Hurst, 1999. 44 . Ibid. , p. 147 45 . Ibid. , p. 162 46 . Citado por Jean-Pierre Chrétien, L'Afrique des Grands Lacs , op. cit. , p. 264. 47 . Véronique Avril, A Igreja, Ruanda e descolonização. Influências e alianças , tese DEA, Instituto de Estudos Políticos de Grenoble, 1996-1997. 48 . Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 57-58. 49 . Guy Theunis, “O papel da Igreja nos acontecimentos recentes”, in André Guichaoua (ed.), Les Crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994) , op. cit. , p. 295. 50 . René Girard, La Violence et le Sacré , Paris, Grasset, 1972, p. 52 51 . Ritual que consistia em carregar simbolicamente uma cabra com todos os pecados de Israel e expulsá-la para o deserto. 52 . Paul Veyne, os gregos acreditaram em seus mitos? , Paris, Le Seuil, 1983. 53 . Ver, por exemplo, Martin Broszat e Eike Fröhlich (ed . ), Bayern in der Zeit NZ , Oldenburg-Munich, 1977-1983, 6 vols. ; Tone Bringa, sendo muçulmano à maneira da Bósnia. Identity and Community in a Central Bosnian Village , Princeton, Princeton University Press, 1995; Danielle de Lame, Uma colina entre mil ou calmaria antes da tempestade. Transformações e bloqueios na área rural de Ruanda , Tervuren, Museu Real da África Central, 1996. 54 . Pierre Ayçoberry, A Sociedade Alemã sob o III e Reich , Paris, Le Seuil, 1998.
55 . Alexis de Tocqueville, O Antigo Regime e a Revolução , Paris, Gallimard, 1967, p. 250 56 . Elisabeth Noelle-Neumann, “The Spiral of Silence. Uma teoria da opinião pública ”, Hermès , n ° 4, 1989, p. 182 57 . Ibid . 58 . Omer Bartov, Exército de Hitler. The Wehrmacht, the Nazis and the War , Paris, Hachette, 1999, p. 161 sq . 59 . Helen Fein, Contabilidade para o Genocídio: Vítimas e Sobreviventes do Holocausto. National Responses and Jewish Victimization during the Holocaust , Nova York, The Free Press, 1979, p. 4 60 . Jean Améry, Além do crime e da punição. Ensaio para superar o intransponível , Arles, Actes Sud, 1995, p. 157 61 . Ver Jean-François Gossiaux, Ethnic Powers in the Balkans , Paris, PUF, 2002. 62 . Nessas três áreas, ele obedece a regras rígidas de respeito e reciprocidade, cujo símbolo é a partilha de um café doce que se bebe entre vizinhos. 63 . Xavier Bougarel, Bósnia. Anatomia de um conflito , Paris, La Découverte, 1996, p. 84 64 . Leremos, assim, o estudo muito interessante da antropóloga Lynn D. Maners que relaciona as manifestações do tipo folk ao desenvolvimento de ideias nacionalistas: "Palmas para os Sérvios: Nacionalismo e Performance na Bósnia e Herzegovina", em Joel M. Halpern e David A. Kideckel (eds), Neighbours at War , University Park, Pennsylvania State University Press, 2000, p. 302315. 65 . Anthony Oberschall, “The Manipulation of Ethnicity. Da Cooperação Étnica à Violência e Guerra na Iugoslávia ”, Ethnic and Racial Studies , vol. 23, n ° 6, novembro de 2000, p. 982-1001. 66 . Danielle de Lame, Uma colina entre mil ou a calmaria antes da tempestade , op. cit. 67 . Léon Poliakov, Le Béviaire de la haine (1951), prefácio de Raymond Aron, Paris, Calmann-Lévy, 1983. 68 . David Bankier, The Germans and the Final Solution. Public Opinion under Nazism , Oxford, Blackwell, 1992.
CAPÍTULO III Contexto internacional, guerra e mídia Muitos estudos sobre genocídio se limitaram a analisar fatores internos a um país, como a natureza da ideologia dominante ou o poder do Estado se tornar assassino de sua própria população. Como se bastasse circunscrever um desenvolvimento aberrante dentro de uma dada sociedade, independentemente do seu ambiente externo próximo (a “região” dos países vizinhos) ou mais global (espaço global). Esta análise isoladamente não é sustentável. É impossível compreender o curso dos acontecimentos na Alemanha, Iugoslávia ou Ruanda se os isolarmos do mundo exterior. Esses estados e sociedades são necessariamente produtos de uma história regional e, de forma mais ampla, de uma certa concepção das relações internacionais. A dificuldade, então, é pensar os modos que possibilitam a passagem ao ato do massacre, levando em conta ao mesmo tempo os contextos local e global, como também se faz para pensar a guerra . No entanto, nenhuma grade explicativa geral pode ser proposta. Tentar pensar a relação entre “massacres” e “sistema internacional”, em suma, parece um desafio. No entanto, distinguirei dois tipos de interpretação. O primeiro examina os fundamentos do próprio sistema internacional, e mais particularmente a história de uma região, para mostrar como certos tipos de dados (soberania do Estado, práticas anteriores de massacres, movimentos de refugiados, rivalidades entre poderes) são susceptíveis de aumentar a violência. O segundo mostra como essa escalada de violência dentro de um determinado país - pode sempre irainda mais porque, em escala internacional, nenhum freio, nenhum obstáculo sério impede seu progresso infernal. Essas duas abordagens são obviamente complementares: uma sendo mais de tipo estrutural (porque se baseia no estado de um sistema ou região), a outra é mais funcional (porque se baseia na dinâmica do conflito) . Mas essa classificação é apenas muito relativa, uma vez que, como veremos, os dados estruturais influenciam a dinâmica do conflito e vice-versa. Uma dinâmica, mas para quê? Em direção à guerra. Embora não parecesse iminente, era de fato, com bastante frequência, previsível. No entanto, essa mudança na guerra terá consequências consideráveis tanto para os atores em conflito quanto para os grupos já designados como vítimas. A partir de agora, a situação de guerra pode justificar mais facilmente a sua perseguição, até mesmo a sua eliminação: o processo de violência, que estava em gestação, pode “explodir”. Mas até que ponto? Já não existe limite para o massacre? Quem pode testemunhar o que está acontecendo? Podemos, por exemplo, esperar que a mídia desempenhe um papel fundamental em alertar o que hoje chamamos de “opinião pública internacional”? E que uma intervenção armada é decidida em nome da lei? Esse cenário de última hora, como seria desejável para quem já está em perigo! Infelizmente, essas oportunidades finais de intervir antes que seja tarde demais nem mesmo são consideradas. Nos casos aqui estudados, tudo irá de mal a pior. Vamos tentar entender por quê. 1
Uma estrutura de oportunidades políticas A abordagem "estrutural" consiste em questionar, em primeiro lugar, a própria natureza dos princípios jurídicos que regem o sistema internacional. Isso não foi projetado de tal forma que permite que o massacre ocorra e até torna o massacre estatal legal? De acordo com o princípio do estado soberano territorial, que se desenvolveu a partir do Tratado de Westfália de 1648, o estado pode fazer o que achar conveniente dentro de suas fronteiras. Para o sociólogo americano Leo Kuper, pioneiro dos estudos comparativos sobre o genocídio, “não há dúvida: o Estado territorial soberano reivindica, como parte integrante de sua soberania, o direito de cometer genocídios ourealizar massacres genocidas contra as populações sob seu domínio, e as Nações Unidas, por todos os tipos de razões práticas, defendem esse direito ”. Claro, explica ele, “nenhum Estado reivindica explicitamente esse direito - que não seria moralmente aceitável, mesmo em círculos internacionais - mas esse direito é exercido sob outros pretextos, principalmente por dever. para manter a lei e a ordem ou a chamada sagrada missão de defesa do território do Estado ” . E para citar como exemplos os massacres dos índios Aché no Paraguai, os perpetrados por Amin Dada em Uganda ou por Pol Pot no Camboja. A Carta das Nações Unidas é um reflexo desse estado de coisas. Certamente, seu preâmbulo expressa a fé das partes contratantes nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana. Mas também estipula, no artigo 2, que nada nesta Carta autoriza as Nações Unidas a intervir em questões que são essencialmente da competência nacional de um Estado. Conseqüentemente, este último pode ser, como lhe agrada, democrático como ditatorial, despótico, totalitário, e pode tratar sua população como achar melhor. Como resultado, os estados podem efetivamente, sem grandes barreiras legais, cometer assassinatos em massa. A história trágica do XX século atesta: de acordo com o cientista americano Rudolph Rummel, 164 milhões de pessoas foram mortas por seus próprios governos durante o XX século, bem acima dos 35 milhões de mortes causadas por guerras durante o mesmo período (incluindo, é claro, as duas guerras mundiais) . Rummel denuncia, portanto, a capacidade “democida” dos Estados, no sentido de que dispõem dos meios para destruir “seu” povo . Para ele, os maiores chefes de estado democidas foram Mao, Stalin, Hitler,Tchang Kaï-shek, Lenin, Hideki Tojo (Japão), Pol Pot, Yahya Khan (Paquistão) e Tito. No entanto, o princípio da soberania não parece ter que ser rejeitado como tal, uma vez que protege legalmente os pequenos Estados contra os apetites de seus vizinhos. Nesse sentido, é um dos meios formais de colocar todos os Estados no mesmo patamar, embora seus níveis de poder sejam muito desiguais. Não é tanto o princípio da soberania que é, por si só, a causa da violência, mas a forma como os Estados podem invocá-la, seja para legitimar políticas contrárias aos direitos humanos, seja para permanecer indiferente a eles. essas violações. Em ambos os casos, a soberania do estado é apenas um argumento legal para justificar sua ação ou inação. É por isso que vários especialistas têm defendido que este princípio seja regulamentado, supervisionado ou limitado, mas não abandonado. Nesta perspectiva, alguns, como Mario Bettati, têm feito campanha a favor de um direito e mesmo do dever de intervenção . No entanto, outros juristas criticaram a expressão, observando que os Estados dos ex-países colonizados percebem esse direito de ingerência como um meio disfarçado para que as grandes potências continuem a interferir em seus assuntos internos. Por isso, preferem falar, como Robert Badinter, de um direito de “assistência a uma população em perigo”, da mesma forma que já existe um direito de assistência a uma pessoa em perigo . Em qualquer caso, ambos concordam em trabalhar para o 2
°
th
3
4
5
6
desenvolvimento de um autêntico direito penal internacional, com poderes para sancionar atrocidades em massa, conforme recomendado, já na década de 1930, o jurista polonês Raphaël Lemkin . 7
Estados modernos e massacres Outra abordagem estrutural da relação entre massacres e relações internacionais, mais sociopolítica do que jurídica, é proposta por Michael Mann por meio de seu estudo geral sobre “limpeza étnica”. No centro de sua tese está a questão de uma estrutura de conflito, potencialmente violenta, baseada em questões ligadas ao território e à soberania. A partir desse problema clássico nas teorias de guerra, Mann avança o seguinte postulado: quando dois movimentos étniconacionalistas rivais reivindicam um estado no mesmo território, então o conflito atinge uma "zona de perigo" (zona de perigo) . Seu confronto tende a aumentar, ou porque o ator mais fraco decide lutar em vez de se submeter, porque tem apoio externo, ou porque a parte dominante sente que pode empregar uma força esmagadora repentina. Além disso, pressões externas, como a guerra, vão provocar a radicalização e a “faccionalização do Estado”. O autor não diz que este tipo de conflito se transforme necessariamente em violência e massacre: pode haver compromissos e até “limpezas étnicas” sem violência aberta (de tipo de troca de populações). Existe, no entanto, um alto risco de “limpeza étnica” mortal. O autor toma como prova disso numerosos exemplos de guerras étnicas, seja nos Bálcãs ou em qualquer parte do mundo. No entanto, ele observa que sua teoria não se aplica realmente ao extermínio dos judeus pela Alemanha nazista, uma vez que os judeus não reivindicaram nenhum território na Europa. Portanto, ele foi forçado a se libertar desse modelo para insistir, neste caso, na importância da figura nazista paranóica do inimigo judaicobolchevique. Um problema adicional colocado pela teoria de Mann é a sua insistência em sempre relacionar esse tipo de conflito com a construção de um estado democrático, uma vez que a “limpeza étnica” resulta, segundo ele, do entrelaçamento inicial entre ethnos e demos (cf. nosso capítulo I ). Mas alguns comentaristas notaram que em muitos casos de "limpeza étnica" há etnias, mas não demos .Você não pode qualificar-se, por exemplo, de "democrático" todos os Estados "étnica", como a Sérvia, Roménia, Bulgária, Grécia, etc., que estão no final do XIX século, libertando-se da tutela otomana. Isso equivaleria, portanto, a dizer que os fenômenos que Mann estuda não são realmente consubstanciais com o nascimento das democracias, mas muito mais e mais geralmente com a formação dos Estados-nação, que estes últimos podem ser qualificados de “democráticos”, “ autoritário ”,“ fascista ”, etc. Em suma, o título de seu livro é enganoso: é menos uma análise comparativa do “lado negro da democracia” do que do “lado negro do Estado-nação” na era democrática. Nessa perspectiva, o historiador inglês Marc Levene explorou precisamente a relação entre o estado-nação e o genocídio (termo equivalente em seus escritos ao de “limpeza étnica assassina” em Mann). Ambos os autores concordam em compreender a violência em massa no XX século em uma história a longo prazo: que remonta pelo menos ao período de revoluções ocidentais do XVIII século. Mas onde Mann vê antes uma estrutura de conflitos entre atores etnonacionalistas, Levene vai primeiro insistir, por meio da constituição dos primeiros Estados-nação, no nascimento de um sistema internacional, nos níveis político e econômico. Nessa corrida pelo progresso, dos primórdios do que hoje se chama de “globalização”, o genocídio ocorreria necessariamente quando 8
°
º
th
certos Estados, em busca de uma rápida “modernização”, almejassem populações que percebem como um ameaça ou obstáculo à sua vontade de poder . O “genocídio” estaria assim vinculado aos esforços dos Estados voltados para a reestruturação muito rápida das sociedades indígenas ou tradicionais, muitas vezes por meio de grandes “saltos” de caráter revolucionário. Para Mark Levene, isso não é nenhuma coincidência que o primeiro "genocídio" autenticamente moderno na verdade datam do XVII e XVIII séculos, em países que estavam na vanguarda do movimento de formação Unidos nações. Assim, a França revolucionária (massacres em Vendée), os Estados Unidos (massacres de índios) e a Inglaterra (massacres na Irlanda, então nas “colônias”) inauguraramos processos prototípicos modernos de "genocídio". Em suma, o que é chamado de “progresso em direção à modernidade” combinaria a construção de estados com a perpetração de massacres para “dividir” e explorar a sociedade conforme sua conveniência. À medida que esse modelo de modernidade se espalhou pelos continentes, outros construtores de Estados-nação buscaram imitar os pioneiros desse movimento global. Os grandes massacres em todo o mundo teriam, portanto, de estar ligados uns aos outros, quer tenham ocorrido na Alemanha, Indonésia, Burundi, Iraque ou Guatemala. Tal raciocínio se baseia em uma generalização abusiva, porque muitos Estados modernos não foram construídos por meio de massacre. Por isso, fica a pergunta: por que o massacre em grande escala é realizado aqui e não ali? De acordo com que contexto histórico e geopolítico particular? Embora a abordagem global seja útil, ela só se torna verdadeiramente relevante na medida em que a análise se regionaliza, ou seja, se inscreve em um espaço específico, com seus territórios e tradições. Para concentrar nossa atenção nas regiões da Europa e da África que mais nos interessam, vamos primeiro fazer esta pergunta: as práticas de violência étnica que se desenvolveram na Alemanha, Iugoslávia e Ruanda não eles já não têm uma história em um ou mais países vizinhos? Não existe o hábito de extrema violência? Se as práticas de massacre foram implementadas no passado próximo, então existe um sério risco de "transferência" desta tecnologia de destruição. Para entender um caso particular de massacre, temos que nos perguntar se ele é verdadeiramente "novo" no país em questão, se faz parte de um repertório já antigo de ação coletiva específica para esta região (para retomar o vocabulário do sociólogo americano Charles Tilly), se inova de alguma forma em relação às formas anteriores, etc. Claro, só porque já houve um massacre não significa necessariamente que acontecerá novamente. Tudo depende dos fatores políticos que podem favorecê-lo ou restringi-lo, em um contexto já favorável. 9
th
th
O legado da violência étnica Na Europa, a história é particularmente pesada com “limpeza étnica” de todos os tipos, mesmo que essa expressão não tenha se tornado comum até a década de 1990. Cientista político americano Norman Naimark a Além de um estudo comparativo interessante dedicado aos vários casos de limpeza étnica na Europa durante o XX século: as trocas de população entre gregos e turcos da Anatólia, deportações stalinistas de chechenos, Inguchétia e tártaros da Criméia, os alemães expulsos da Polônia e Tchecoslováquia . Na verdade, a partir do XIX século, a propagação de idéias nacionalistas da Europa Ocidental contribui para o declínio dos impérios AustroHúngaro, otomano e formação de jovens estados nacionais no Sudeste da Europa. No entanto, desde a independência da Sérvia em 1878 até que as guerras balcânicas do início do XX século, esses jovens estados são construídas pela violência, massacrando algumas das pessoas th
10
°
°
indesejáveis, para forçá-los a sair ou para assimilar . “O incêndio de aldeias e o êxodo de populações derrotadas são fatos normais e usuais de guerras e insurreições nos Bálcãs ”, já observava a comissão Carnegie em seu relatório de 1914. O clímax foi alcançado durante a Primeira Guerra mundo, com o massacre em massa dos armênios do Império Otomano, perpetrado pelo jovem governo turco então no poder em Istambul, muito rapidamente atestado pelo relato do inglês Arnold Toynbee . A conseqüência geral dessa Primeira Guerra Mundial foi destruir os antigos impérios multinacionais e, conseqüentemente, acelerar ainda mais a fuga das minorias. A doutrina da autodeterminação nacional, formulada pelo presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson e apresentada pelos vencedores, inspirou em grande parte o Tratado de Versalhes de 1918. Apenas um ano depois de Lenin assumir o poder em Moscou, os Aliados estão jogando contra "Carta nacional" wilsoniana contra a "carta internacionalista" da revolução bolchevique. Mas o historiador inglês Eric Hobsbawm judiciosamente observa que as realidades dos grupos de populações que vivem na Europa revelam o lado totalmente impraticável do princípio wilsoniano, segundo o qual as fronteiras do Estado devem coincidir com as fronteiras donacionalidades e línguas. “A consequência lógica de uma tentativa de criar um continente devidamente dividido em estados territoriais coerentes, cada um deles habitado por uma população distinta e étnica e linguisticamente homogênea, foi a expulsão ou o extermínio em massa. minorias. Essa foi e continua sendo a assassina reductio ad absurdum do nacionalismo em sua versão territorial [...]. Deportações em massa e até genocídio começaram a aparecer . " Consequências desse desenvolvimento geral: enquanto 60 milhões de europeus eram governados por uma potência estrangeira antes da Primeira Guerra Mundial, eles são apenas 20 a 25 milhões depois dela, enquanto em 1926 havia cerca de 20 milhões refugiados na Europa. A dispersão e cisão das populações que viviam, antes da Primeira Guerra Mundial, em impérios multiétnicos, constituem assim um importante fator de desestabilização do continente europeu. Em 1920, a Hungria foi amputada por dois terços de seu território e três quintos de sua população: 3 milhões de magiares repentinamente tornaram-se minorias nos estados vizinhos. Da mesma forma, 4 a 5 milhões de alemães na parte austríaca do Império Habsburgo e nas Marcas Orientais do Império Alemão perdem sua posição de nacionalidade dominante (Staatsvolk) para se tornarem minorias em países atormentados pelo nacionalismo. , como Polônia, Tchecoslováquia ou Itália. Ao todo, 6 milhões de alemães tornaram-se, a partir de 1918, minorias nacionais, a começar pelos 3 milhões que vivem nos Sudetos, na Tchecoslováquia . Existem vários focos de tensão na Europa, que as potências nacionalistas podem incitar como quiserem, começando com os movimentos de direita e extrema direita na própria Alemanha. No entanto, os novos estados europeus atendem aos critérios wilsonianos? Certamente que não, considerando estados "multiétnicos" como Polônia, Romênia e a nova Iugoslávia. A diplomacia dos vencedores de 1918, no entanto, pretendedespertar, apoiar, endossar essas tentativas de homogeneização nacional, chegando até a endossar as expulsões de populações, como depois da guerra greco-turca de 1921-1922. Assim, o Tratado de Lausanne de 24 de julho de 1923 reconheceu a expulsão pela Turquia de 1.200.000 gregos da Anatólia (onde viviam desde a época de Homero), enquanto 700.000 turcos foram forçados a partir Grécia. Pela primeira vez, o direito internacional está ajudando a organizar uma forma de limpeza étnica acordada mutuamente pelos Estados. Tudo isso ocorre muito antes da ascensão de Hitler ao poder, da qual Eric Hobsbawm nota com uma pitada de humor azedo que ele era um "nacionalista wilsoniano lógico", já que ele "organizou a transferência dos alemães para a Alemanha. que não viviam no 11
12
13
14
território da pátria, como os do Tirol Meridional italiano. Assim como ele organizou a eliminação final dos judeus ” . E não é surpreendente que a partir de 1937 o sérvio Vasa Cubrilovic não hesite em publicar um livro de memórias já recomendando a expulsão dos albaneses de Kosovo para a Turquia para fortalecer a identidade nacional da Sérvia ? 15
16
Massacres e fluxos populacionais No caso de Ruanda, devemos também responder positivamente à pergunta anterior: certamente não é o único país desta região dos Grandes Lagos da África a ter conhecido “massacres étnicos”. Muito pouco se sabe sobre a história do vizinho Burundi, um pequeno país de aproximadamente três milhões e meio de habitantes, localizado no sul de Ruanda, também formado por hutu, tutsi e twa. Quando conquistou a independência em 1962, esse outro antigo reino dos Grandes Lagos da África experimentou pela primeira vez um desenvolvimento diferente de seu vizinho. Por iniciativa de Louis Rwagasore, um dos filhos do rei Mwanbutsa, o partido União para o Progresso Nacional (UPRONA) em 1961 formou um governo que reúne os diferentes grupos étnicos do país. No entanto, Rwagasore foi assassinado em outubro de 1961, o que não era um bom presságio para o futuro do país. Mas, gradualmente, em particular em reação aos acontecimentos que ocorrem em Ruanda, a vida política do Burundi será "etnicizada". Em meados da década de 1960,UPRONA racha entre hutus e tutsis. Em 1965, após um golpe organizado pelo hutu Antoine Serukwavu, camponeses tutsis foram massacrados em Muramvya, no centro do país. Em retaliação, oitenta personalidades hutus foram executadas, milhares de hutus foram presos ou levados às armas. Portanto, Burundi cairá na "espiral da inflação étnica ". O episódio mais dramático ocorre em 1972, atingindo um nível de violência que Ruanda ainda não experimentou. O governo do presidente Michel Micombero deve enfrentar uma insurgência hutu no sul do país, lançada em 29 de abril de 1972 por grupos rebeldes, alguns dos quais vindos da vizinha Tanzânia. Os agressores executaram dezenas, senão centenas, de civis tutsis com facões. Essa agressão, imediatamente interpretada pelos apoiadores de Micombero como uma ameaça para desestabilizar seu regime, suscitou deles uma resposta totalmente desproporcional. Entre abril e junho de 1972, nenhuma província do Burundi escapou da repressão em massa. O exército, a polícia e a gendarmaria, apoiados pela Juventude Revolucionária Rwagasore (JRR), estão engajados em uma caça aos hutus em todo o país. Em Bujumbura (a capital), entre 5.000 e 10.000 hutus são sumariamente executados, incluindo todos os membros do governo e funcionários públicos de origem hutu. Com exceção daqueles que fugiram para Ruanda, Tanzânia e Congo, virtualmente todas as elites hutu do país foram aniquiladas, incluindo a maioria dos alunos da Universidade de Bujumbura. No total, cerca de 100.000 Hutus foram assassinados. O africanista René Lemarchand relata que esses assassinatos foram acompanhados por atrocidades incríveis. Mas cuidado ! Como destacado, é preciso ter cuidado com a leitura etnocêntrica desses eventos: não é o "grupo étnico" tutsi o responsável pelos assassinatos, mas alguns de seus elementos mais radicais .No entanto, é essencial que nem Burundi nem Ruanda tenham experimentado tais episódios de massacres em grande escala antes de sua independência. Não que esses países fossem antes paraísos de paz; eles também experimentaram episódios de guerra. Mas nunca tais massacres sistemáticos entre hutus e tutsis não ocorreram, como a partir dos anos 1960-1970, na fase de formação dos Estados de Ruanda e Burundi. 17
18
Essas transformações políticas geralmente têm efeitos consideráveis sobre os fluxos populacionais e, conseqüentemente, sobre os equilíbrios demográficos de uma região. Daí outra questão, sempre de tipo “estrutural”: esses movimentos de mistura e redistribuição de populações não criam por si próprios focos de instabilidade que podem se transformar a curto ou médio prazo em novos focos de violência? ? A história de Ruanda oferece uma ilustração precisa disso: a fuga para o exterior de muitos tutsis após os primeiros massacres de 1959-1961 (eles foram os primeiros refugiados da África negra independente) teve consequências de longo prazo, que a maioria dos observadores não tinha conhecimento na época. O mesmo cenário aconteceu novamente após os massacres de 1963, 1966, etc. No total, várias centenas de milhares de tutsis ruandeses fugiram de seu país (ninguém sabia exatamente seu número na época) para ir para o exílio principalmente em Uganda, Burundi, Tanzânia e Zaire. É especialmente o norte de Ruanda (Ruhengeri, Gisenyi, Byumba) que se esvaziou de sua população tutsi, alguns também se refugiando em Bugesera (na época ainda repleta de mato e pântanos). Em Kigali, ninguém realmente se preocupa com seu destino: eles pertencem a esses ex-"feudais" que foram derrotados. Mas, com o tempo, essa dispersão dos exilados, combinada com suas dificuldades de integração nos países de asilo, torna-se um problema grave na região, cuja importância as autoridades ruandesas não percebem. Na década de 1960, os refugiados eram tratados adequadamente em seus países de acolhimento. O contexto da descolonização se adapta bem: a África está aberta ao futuro e precisa das habilidades de que carece. No entanto, a elite ruandesa exilada é relativamente bem treinada. Mas dez anos depois, a situação tende a se agravar. Em 1981, o Zaire questionou a nacionalidade anteriormente concedida aos refugiados do Ruanda, enquanto intelectuais e políticos alimentavam a tese de um alegado "plano de colonização tutsi em Kivu". Também em Uganda, o Banyarwandanão parecem mais desejados. Em outubro de 1982, empurrados para fora pelo presidente de Uganda Milton Obote, dezenas de milhares deles tiveram que fugir para Ruanda, que não queria mais. A situação torna-se horrível para todos aqueles que se encontram presos entre as duas fronteiras, enquanto outros partem para a Tanzânia. O sentimento de insegurança gerado por esta experiência de Uganda contribui para a politização de alguns desses refugiados, que se sentem deixados para trás. Em todos os lugares, tendemos a responder: “Você não está em casa. Estas dificuldades de integração nos países da região (Uganda, Zaire, etc.) obrigam-nos, portanto, a questionar e colocar-se a questão do direito à sua nacionalidade. No final da década de 1980, entre 600.000 e 700.000 ruandeses viviam no exílio. Dentro desta segunda geração (os filhos dos exilados de 1959) cresceu a demanda pelo direito de retorno, se necessário pela força armada. É neste contexto que cria, em 1987, a Frente Patriótica Ruandesa (RPF), que lança um ataque sobre o Ruanda em 1 outubro 1990 ao tentar tirar proveito da fraca posição do governo Kigali. Liderado primeiro por Fred Rwigema, falecido em 1990, o RPF era então comandado por Paul Kagamé. Assim, um problema que há trinta anos não se resolve, o da situação de uma população dispersa em vários países, está na origem da guerra civil que se abate sobre o Ruanda . st
19
Colapso do Estado e violência extrema Na Europa, poderíamos também relacionar o risco de violência, ou mesmo massacres, à estrutura demográfica das populações? O trabalho recente do historiador americano Omer Bartov e sua equipe chama a atenção justamente para as áreas geográficas que se situam na encruzilhada
de impérios. De fato, ele destaca, os maiores e mais frequentes massacres no velho continente foram perpetrados no que ele chama de região fronteiriça , que vai da Europa Central e Báltica à do Sudeste, para a Ásia Menor. Todos esses territórios, tão diversos em muitos aspectos, têm, no entanto, duas características comuns. Eles foram o ponto de encontro entre os quatro impérios germânico, russo, austroHúngaros e Otomanos - e eram povoados por uma multiplicidade de grupos étnicos, religiosos ou nacionais . Essas zonas-tampão entre dois mundos, entre dois ou mais impérios, parecem de fato frágeis, senão incontroláveis. A mistura de populações constitui fator de incerteza e risco de violência, seja por parte de determinados grupos comunitários ou de estados vizinhos. Assim, "os Balcãs Otomano e Áustria estão na borda do XIX século de uma mistura indissolúvel de pessoas, línguas e religiões diferentes nos mesmos territórios voisinant ". O romance histórico de Ivo Andric, cujo “personagem” principal é a centenária ponte que atravessa o Drina, que parece ligar simbolicamente o Oriente e o Ocidente neste local, oferece uma notável ilustração disso . O autor relata as convulsões vividas, ao longo de quase quatro séculos, pelas várias gerações de habitantes da cidade de Visegrad, assentada junto à ponte, na fronteira entre a Sérvia e a Bósnia. No XIX século, o período de formação do Estado-nação, guerras e massacres que, por vezes, resultar causa a saída de algumas populações. Assim, os habitantes de Visegrado veem os muçulmanos atravessando a ponte que estão deixando a Sérvia para se refugiar em Sarajevo, enquanto outros, na direção oposta, tentam chegar à Turquia. Posteriormente, após o assassinato do Imperador Franz Joseph, em 28 de junho de 1914, foi a vez dos sérvios ficarem perigosamente preocupados, pois o exército austro-húngaro os considerava inimigos e os perseguia, para Visegrad e em toda a região. Este fresco histórico mostra como este território, onde várias comunidades conseguiram viver juntas, é um dos primeiros a sofrer os violentos choques nascidos nos Estados circundantes. No entanto, seja na Europa ou na África, nem os dados Identificáveis históricos (práticas de massacres anteriores) ou demográficos específicos (mistura de populações) não podem por si só explicar a queda na violência em um momento t . Os dados geopolíticos ainda devem ser levados em consideração para avaliar o equilíbrio ou desequilíbrio de forças na região. Na Europa, nas zonas de fronteira, a situação de dominação ou declínio de uma potência imperial desempenha um papel essencial no destino geral dos povos. Nesse sentido, o massacre de parte das populações que residem nessas áreas pode resultar de dois cenários opostos. De acordo com o primeiro, um Estado cada vez mais poderoso afirma uma vontade verdadeiramente imperial nessas áreas de fronteira. Por exemplo, a formação do estado soviético em 1917, depois do estado nazista em 1933, coloca de fato os países intermediários da Europa Central e Báltica em uma posição muito desfavorável. O desejo de internacionalização da revolução bolchevique pode legitimamente fazê-los temer o domínio totalitário de Moscou. Entre outros povos, os ucranianos estão pagando o preço, na época da fome em massa orquestrada por Stalin em 1933-1934, para quebrar qualquer indício de resistência. A vizinha Polônia está em uma posição igualmente frágil. Seu destino logo foi selado dentro da estrutura do pacto germanosoviético de 23 de agosto de 1939, do qual uma cláusula secreta previa sua divisão entre a Alemanha e a URSS. Em Berlim, alguns especialistas já pensam na reformulação completa desse Leste Europeu percebido como arcaico, uma imensa zona de territórios a serem colonizados, em prol do "espaço vital" necessário para o grande Reich. O segundo cenário - o inverso do anterior - decorre do colapso de um império até então dominante (ou estado multinacional). Enquanto essa entidade política fosse amplamente respeitada 20
°
21
22
th
ali, a região poderia experimentar uma certa estabilidade. Tal foi o caso do Império Otomano no Sudeste da Europa até o início do XIX século, ou Iugoslávia de Tito no final de 1940 e início de 1980. Mas se este império ou este estado multinacional passa a ser desafiado de dentro, por causa do aumento das aspirações nacionalistas, então o sistema é cada vez mais enfraquecido; as comunidades que o compõem tendem a perder suas antigas fidelidades e a mudança para a violência torna-se provável. Isso é exatamente o que estava acontecendo na ex-Iugoslávia no final dos anos 1980. °
Ruanda-Burundi: gêmeos fraternos étnicos Para Ruanda, este cenário de colapso do poder imperial também pode ser invocado, no contexto geral da descolonização da África, durante a década de 1960, que se caracteriza em Kigali pela retirada da Bélgica. Mas o contexto não é o mesmo no final da década de 1980, quando a RPF se prepara para invadir o país. Durante este período, a França passa a ser, por assim dizer, a potência tutelar de Ruanda, sem dúvida porque o presidente François Mitterrand vê um interesse estratégico em fortalecer a presença francesa nesta região, para conter a influência anglófona. O apoio de um importante player no cenário internacional representa um grande trunfo para o Presidente Habyarimana. É certo que a liminar emitida aos chefes de estado africanos na cúpula de La Baule (20 de junho de 1990) pelo presidente francês para democratizar seu país não é do seu agrado. A partir de agora, Paris pretende submeter sua ajuda econômica aos países em desenvolvimento ao avanço de sua democratização política interna. Estamos então na euforia provocada pela queda do Muro de Berlim, que dá esperança a um movimento de democratização mundial, alguns já prevendo o "fim da história" ... Em Ruanda, é antes uma nova história em andamento. começando ... ou repreendendo. O estabelecimento forçado de um sistema multipartidário tem o efeito de permitir o desenvolvimento de uma oposição Hutu, que se expressa principalmente no Movimento Democrático Republicano (MDR) ou no Partido Social Democrata (PSD). Esses oponentes pretendem ignorar a divisão étnica e construir um Ruanda verdadeiramente democrático; Isso mostra que a vida política neste país não se reduziu, durante os anos 1990-1994, a um encontro cara a cara com um “bloco hutu” majoritário que se constituiria contra a minoria tutsi . Mas os extremistas hutus também sabem tirar vantagem da situação e se organizar. Em seu novo Kangura mensal , eles logo apresentam François Mitterrand como seu “verdadeiro amigo”. Na verdade, o ataque RPF de outubro de 1990 foi interrompido graças à intervenção de um contingente de soldados. Francesa, que protege a capital . De 1990 a 1993, a França desempenhou assim um papel decisivo na manutenção de Habyarimana no poder, sem que a opinião pública francesa fosse realmente informada . No entanto, Paris apoia os esforços de mediação com o objetivo de conduzir às negociações entre o RPF, o governo de Ruanda e sua oposição. Algumas redes de igrejas estão desempenhando um papel ativo aqui, como os Estados Unidos e a Organização da Unidade Africana, com a Tanzânia liderando as negociações. Esses esforços levarão aos Acordos de Arusha (4 de agosto de 1993), que Habyarimana é forçada a assinar, com a França ameaçando retirar sua ajuda de outra forma. Esses acordos parecem estabelecer um compromisso político entre todos os protagonistas, para desgosto dos extremistas hutus que não os querem. Para garantir a sua aplicação, as Nações Unidas decidem enviar uma força de paz, a Minuar (Missão das Nações Unidas de Assistência ao 23
24
25
Ruanda), composta em parte por soldados de manutenção da paz belgas, incluindo o general canadiano Romeo. Dallaire assume o comando. No entanto, apesar dos esforços de pacificação, a situação interna está se deteriorando rapidamente. O que, portanto, ainda pode explicar o desenvolvimento da violência em Ruanda no início da década de 1990? Como podemos entender que todos esses esforços de mediação acabaram sendo em vão?De fato, falta a todas as explicações anteriores mais um "algo", elemento essencial que, de certa forma, põe todo o sistema em ação na direção da recusa do Outro. Esse elemento, que se espalha por toda parte e conquista a mente da maioria dos atores, que escorrega pelas mãos e acaba envolvendo tudo, é o medo. É um pouco como o óleo necessário para fazer funcionar uma máquina, neste caso uma máquina infernal. Já havíamos visto esse papel do medo na construção de um ou mais inimigos por dentro. Agora, isso também vem de fora, como uma possível ameaça de destruição. É esse duplo movimento de medo - interno / externo - que corre o risco de transformar o conflito em tragédia. Em Ruanda, Alison Des Forges insiste na disseminação do medo e na mobilização pelo medo. No início da década de 1990, ela se mudou para os dois campos: “Os ruandeses e os tutsis, assim como os hutus, ficaram apavorados com a invasão da RPF. Os tutsis relembraram os massacres cometidos em retaliação às invasões lançadas por refugiados na década de 1960 e temiam ser novamente alvos. Tendo em mente esses precedentes, os líderes do RPF sabiam, além disso, que sua ofensiva provavelmente provocaria novos massacres de tutsis. Quanto aos hutus, eles se lembraram dos massacres de dezenas de milhares de seus próprios cometidos pelos tutsis no vizinho Burundi em 1972, 1988 e 1991; eles temiam que o RPF se envolvesse em assassinatos de magnitude semelhante . Devemos, portanto, enfocar esse papel do medo que se espalha entre os dois países: sem ele, é impossível apreender a dinâmica do conflito que aciona os outros elementos, identificados anteriormente. Não deveríamos também questionar-nos, neste ponto do estudo, como que para melhor avaliar o alcance das palavras que acabam de ser tiradas de um dos melhores analistas de Ruanda? O que eu sei sobre o medo de que ela fala? Posso realmente entender o que está acontecendo neste país, eu que nunca fui colocado em posição de experimentar seu poder terrível? Eu dificilmente reivindico. O reflexo de um sociólogo me faz pensar que o medo não conquista a todos, que provavelmente existem centros de resistência ao medo, dependendo da região e do indivíduo. Um reflexoO historiador chama minha atenção para o fato de que esse medo prospera na memória dos massacres, como já foi apontado. O reflexo de um cientista político me faz notar que esse medo se constrói no espelho em relação a outro país: aqui, o Burundi. É o que mais chama a atenção neste momento do drama: descobrir o filme dos acontecimentos sob uma luz diferente, a da história particular desta estranha dupla Ruanda-Burundi. Desde sua "independência", ambos não têm sido como gêmeos fraternos cujas histórias interagem entre si? Eles compartilham o mesmo “mapa étnico” com algumas diferenças, embora sejam apegados à sua própria identidade “nacional”. Quando uma "crise étnica" surge em um, inevitavelmente tem consequências para o outro. Na década de 1960, o medo alastrou-se ao Burundi, proveniente de Ruanda após os massacres de Tutsi em dezembro de 1963 e janeiro de 1964. Por outro lado, no início da década de 1970, era o medo que voltava do Burundi para o Ruanda, para após o massacre de cerca de 100.000 hutus do Burundi em 1972. Este evento encorajou a eclosão de motins antitutsi em 1973 em Ruanda, que foram usados pelo presidente Kayibanda para permanecer no poder, o que, entretanto, não impediu a ascensão de Habyarimana em julho do mesmo ano. É, portanto, 26
como se as relações de espelho entre Ruanda e Burundi tivessem favorecido esse aumento da violência, por meio de mobilizações de identidade cada vez mais radicais. Esta observação me parece essencial do ponto de vista do método de análise: relatar as histórias entrelaçadas de Ruanda e Burundi, é dar-se os meios para compreender a espiral de violência que, através de um medo compartilhado , tende a cruzar novos níveis. Claro, as variáveis internas de cada país permanecem decisivas. Mas é sua interação, com fatores externos próximos, que pode radicalizar ainda mais o conflito. Sérvia-Croácia: um tandem fratricida Além disso, na Iugoslávia, o tandem fratricida Sérvia-Croácia também apresenta esse tipo de configuração. Mas toma um rumo diferente, porque a respectiva propaganda nacionalista das duas nações indica claramente a possibilidade de um confronto armado.direto. No final da década de 1980, era de se esperar que a tensão aumentasse muito mais entre a Sérvia de Milosevic e os albaneses de Kosovo. Mas eles não reagem com uma resistência armada contra a qual os sérvios poderiam ter retaliado imediatamente. Pelo contrário, o líder dos albaneses do Kosovo, Ibrahim Rugova, eleito Presidente da República clandestinamente a 24 de Maio de 1992, é decididamente a favor da resistência pacífica porque está convencido de que recorrer à luta armada seria uma armadilha. que Milosevic poderia usar imediatamente para esmagar ainda mais os Kosovares. O conflito entre os sérvios e os albaneses do Kosovo, portanto, permanecerá muito baixo durante os primeiros anos da década de 1990. Por outro lado, é entre as duas nações que "fizeram" o Estado iugoslavo que aumentam os riscos de violência. É a partir do seu entendimento que a primeira Iugoslávia nasceu em 1918 e a segunda em 1945. É por meio de seu confronto que o estado federal tem todas as chances de colapso. No entanto, como vimos anteriormente, o aumento do nacionalismo na região está associado ao aumento do medo e vice-versa. A propaganda nacionalista sérvia e croata atesta precisamente essas acusações espelhadas que só podem aumentar as tensões, a partir do renascimento da memória dos massacres da Segunda Guerra Mundial. Dada a sobreposição de minorias, esse desejo de construir Estados territoriais nacionais só pode levar a uma crise aberta. A Croácia, por exemplo, tem cerca de 600.000 sérvios, quase metade dos quais reside em Krajina e na Eslavônia. A partir do final da década de 1980, Belgrado e Zagreb começaram a se confrontar por meio dessa minoria sérvia na Croácia. Assustado com a ascensão do nacionalismo croata de Tudjman, este é apoiado por Belgrado que o empurra então para a revolta armada para se juntar ao seio do estado nacional sérvio. A menos que haja um acordo de última hora, a guerra não está longe. Na verdade, em 25 de março de 1991, Tudjman e Milosevic foram secretamente se encontrar em Karadjordjevo, não para fazer a paz, mas para concordar com a divisão da Bósnia-Herzegovina, onde grandes minorias croatas e sérvias também vivem. "Mas a interpretação deles do acordo foi diferente", disse o então primeiro-ministro iugoslavo, Ante Markovic. Milosevic disse que a Bósnia-Herzegovina era uma entidade artificial criada por Tito [e que] a maioria dos muçulmanos que viviam lá eram de fato ortodoxos convertidos à força [...].Ele me disse que eles haviam planejado um enclave para abrigar os muçulmanos [...]. Quanto a Tudjman, ele me disse que a Europa não permitiria que um Estado muçulmano fosse criado em seu coração [e que], de qualquer maneira, os muçulmanos eram ex-católicos que foram forçados a se converter ao a confissão
islâmica . Seja como for, as duas nações mais poderosas da Iugoslávia estão se preparando para "engolir" a maior parte desses territórios. Lá também, a guerra está muito próxima. 27
Alemanha nazista-União Soviética: o choque dos totalitarismos Se a identificação desses pares conflitantes - Ruanda-Burundi, Sérvia-Croácia - faz sentido, então parece interessante explorar a importância estratégica para o potencial explosivo da dupla Alemanha nazista-União Soviética. Conhecemos as fortes críticas feitas ao filósofo alemão Ernst Nolte quando ele defendeu a ideia de que o nazismo foi construído principalmente em reação à formação da União Soviética. Estavam então reunidas as condições, segundo ele, para o desenvolvimento de uma vasta guerra civil europeia, nascida do confronto entre o bolchevismo e o nazismo . Nolte tira uma conclusão moral: os crimes do comunismo são mais repreensíveis do que os do nazismo, pois estes constituem uma reação aos primeiros. Esse raciocínio também o leva a ocultar as causas do nazismo propriamente internas à Alemanha, a saber, o anti-semitismo germânico no qual floresceu o fanatismo de Hitler. Deste duplo ponto de vista, seu argumento não é aceitável. Teria sido necessário colocar em perspectiva as causas internas e externas da ascensão do nazismo, sem procurar classificá-las uma em relação à outra. No entanto, deve-se reconhecer que ele está certo em relacionar a Alemanha nazista e a União Soviética como constituindo o binômio estratégico do qual poderia resultar um grande confronto europeu. Ele também está certo em atribuir grande importânciamedo, que ele considera a principal fonte do nazismo: medo de ver o desaparecimento de uma Alemanha tradicional ameaçada pelo comunismo - medo tanto mais compreensível quanto vários líderes bolcheviques anunciaram que pretendiam exterminar seus inimigos e que os Os comunistas podem um dia conquistar o poder na própria Alemanha. Há, portanto, aqui também, uma importante relação antagônica entre dois rivais. Nolte também dedica um capítulo de seu livro ao estudo de seu espelho de propaganda . O pacto germano-soviético de 1940 poderia parecer incompreensível se não permitisse que as duas potências chegassem a um acordo para compartilhar a Polônia . Um acordo que para Hitler é apenas um “arranjo estratégico necessário e puramente provisório”, que de forma alguma constitui uma solução alternativa para sua visão racial e imperialista . 28
29
30
31
A passividade da "comunidade internacional" Assim, qualquer que seja o nosso olhar, cada região examinada é caracterizada por um alto potencial de violência, contida ou já expressa. Portanto, surge uma questão importante: o que pode fazer o que agora é chamado de “comunidade internacional”? Em que condições e com que meios poderia intervir na crise? Embora acordada, a expressão “comunidade internacional” é estranha. Este é um bom exemplo de um oxímoro . O internacional é de fato uma questão de “comunidade”, tanto que os interesses dos Estados podem ser contraditórios. Quando falamos de "comunidade internacional", evocamos especialmente o papel das grandes potências que, precisamente por serem poderosas, podem impor sua lei aos menores, ou unir forças contra um Estado ameaçador para fazê-lo ouvir a razão por pressão ou coerção, se necessário pela força armada. Além deste ponto de vocabulário, a questão é absolutamente crucial para o futuro da crise:Pode a referida comunidade internacional de alguma forma conter, refrear ou conter o processo de violência que está em processo de crescimento? Para que isso aconteça, ele ainda precisaria ter uma percepção
clara de seus problemas e ter vontade de agir com base nessa análise. No entanto, nas crises examinadas aqui, é singularmente passivo. Como qualificar essa inércia quase geral: indiferença, ignorância, hipocrisia, covardia? Todas essas palavras são relevantes - apesar da conotação moral atribuída a algumas - porque em cada crise observamos uma combinação mais ou menos complexa dessas várias atitudes. Note-se que, na maioria das vezes, a suposta comunidade internacional não parece ver a crise chegando, ou age como se não a visse. O caso da Iugoslávia é exemplar nesse aspecto. No final da década de 1980, o mundo vivia na época da Glasnost que Mikhail Gorbachev lançou em Moscou. A abertura do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989 foi um evento mundial, tanto mais sensacional quanto nenhum especialista acreditava que pudesse ser feito sem um tiro. Mas o que vai acontecer agora? Como vão evoluir as relações entre as duas Alemanhas? E a própria URSS não entrará em colapso? Obcecados por esses grandes pagamentos, europeus e americanos não estão preocupados com a Iugoslávia. Em qualquer caso, é a priori parte dos estados bastante "bons", uma vez que, aberta ao Ocidente durante anos, pertence ao campo dos não alinhados. Quem então identifica a carga explosiva do discurso de Milosevic no enorme comício em 28 de junho de 1989 em Kosovo? Quem se importa com sua decisão, um ano depois, de suprimir a autonomia da província? O mundo está voltado para outro lugar, o que é adequado para os nacionalistas sérvios ou croatas . O exército iugoslavo, sobre o qual Milosevic conseguiu assumir o controle, preparou-se para a ação em 1991. O golpe de Moscou, mesmo que tenha falhado, ainda ajudou a chamar a atenção internacional para a URSS. Não na Iugoslávia. Em seguida, foi a agressão do Iraque contra o Kuwait em 2 de agosto de 1990, que voltou os olhos da Europa Oriental para o Oriente Médio. Enquanto isso, a minoria sérvia da Croácia se prepara para se separar, recebendo armas da Sérvia. Em Belgrado, o exército disse que estava pronto para agir, mas temia que os países ocidentais que acabaram de sair da Guerra do Golfo tentassem intervir na Iugoslávia, um temor que rapidamente se revelou infundado. O estudo comparativo dos arquivos diplomáticos das grandes potências, sem dúvida, permitirá um dia ter uma ideia mais precisa da forma como se preocupavam ou não, em 1990 e 1991, com o futuro da Jugoslávia. Mas, quer seus diplomatas estacionados em Belgrado os alertassem seriamente para o desenvolvimento da situação ou não, eles obviamente os ignoravam . No caso de Ruanda, não podemos nem mesmo invocar a cegueira sobre a crise que se aproxima. De fato, após os Acordos de Arusha, a comunidade internacional já está lá, devido à presença de forças da UNAMIR, comandadas pelo general canadense Roméo Dallaire. No entanto, ele rapidamente percebe o risco crescente de massacres em grande escala. Em um telegrama dirigido à ONU em 11 de janeiro de 1994, ele escreveu: “Não temos motivos para acreditar que tais fatos não possam se repetir e não se repetirão em nenhuma das regiões de este país onde as armas proliferam e onde as tensões étnicas são generalizadas . Este telegrama é apenas um dos sinais de alerta emitidos em 1993-1994: devemos acrescentar um relatório do serviço de inteligência belga, de várias organizações de direitos humanos, para não mencionar a descoberta de esconderijos de armas e comentários racistas feitos nas ondas da rádio-televisão des Mille Collines. “Portanto, é impossível acreditar que os parceiros ocidentais não tivessem conhecimento do que estava acontecendo em ”, escreve Jean-Pierre Chrétien. O que domina, nos meios diplomáticos, não é, portanto, a ignorância, mas a recusa de qualquer compromisso. Ruanda, pequenoO Estado africano, sem grande interesse estratégico, sem recursos naturais, não interessa às grandes potências, exceto a França ou os Estados Unidos que 32
33
34
35
vêem uma mais-valia reforçar a sua presença nesta região. Mas, desde a assinatura dos acordos de Arusha, Paris tendeu a se desvincular, dada a deterioração da situação interna do país. A chegada da ONU dá-lhe o pretexto. Mas a ONU não está fazendo nada, apesar dos repetidos pedidos do general Dallaire, que pede mais recursos. Essa indiferença não é nova. Quer se pense nos massacres que marcaram a história do Ruanda desde a sua independência, quer nos que também foram perpetrados no Burundi: as grandes potências dificilmente se empenharam em pôr fim a eles. Os conflitos que eclodem no continente africano são vistos como secundários em comparação com os que dizem respeito à zona do Médio Oriente e, mais geralmente, ao confronto Oriente / Ocidente na Europa. A intervenção francesa no Burundi em outubro de 1993, após o assassinato de Melchior Ndadaye, o primeiro presidente hutu do país, seria, sem dúvida, uma espécie de exceção à regra, um ponto de vista que é altamente contestado. No entanto, para o jornalista Stephen Smith, isso teria permitido limitar os massacres perpetrados pelos hutus que desceram das colinas para vingar "seu" presidente e para conter os excessos da repressão. Os resultados desses massacres (80.000 mortos, primeiro tutsis, depois hutus) poderiam ter sido mais pesados . No entanto, nesta região, aqueles que massacram não precisam temer represálias da comunidade internacional. Daí para pensar que essa passividade internacional é uma forma de deixar o caminho aberto a potenciais massacradores, em Ruanda ou em qualquer outro lugar, há apenas uma etapa que os eventos em breve cuidarão tragicamente. Quanto à Alemanha nazista, dificilmente se pode argumentar que o mundo não foi informado do que estava acontecendo lá. Ainda menos pode o argumento da ignorância ser apresentado para uma das maiores nações europeias do que para qualquer outro país. Mas a informação é apenas um dos elementos que levam à ação. Tudo depende do contexto em que esta informação foi recebida e das categorias de análise utilizadas parainterpretar. No entanto, as grandes potências da época, ainda marcadas pelo trauma da Primeira Guerra Mundial, não quiseram tomar, durante a década de 1930, a medida da realidade da ameaça hitleriana. A este respeito, a lista de oportunidades perdidas, que poderiam ter permitido mostrar firmeza, é eloqüente. Transmitamos a retirada da Alemanha da Liga das Nações em dezembro de 1933, ou mesmo o anúncio em 1935 do restabelecimento do serviço militar obrigatório e da constituição de um novo exército alemão, em flagrante violação do Tratado de Versalhes. Mas e quanto à reocupação da Renânia em 7 de março de 1936, que de fato revogou uma cláusula do Tratado de Versalhes? No último momento, Hitler hesitou em fazer esse "movimento", que seus diplomatas desaconselharam. Mas, muito rapidamente, parecia que a audácia tinha valido a pena. Hitler estava radiante e Goebbels pôde anotar em seu diário: “O Führer está radiante. A Inglaterra permanece passiva, a França não se move, a Itália está decepcionada e os Estados Unidos não estão interessados nisso . Também não há necessidade de voltar atrás na assinatura dos acordos de Munique em 29 e 30 de setembro de 1938, que permitiram a Hitler anexar a Sudetenland com o consentimento da França e da GrãBretanha. Aprovados pela opinião pública destes dois países, estes acordos continuam a ser o símbolo da capitulação das democracias ocidentais perante a diplomacia devastadora de um Estado totalitário, que não queremos ver preparando-se para a guerra. Ainda mais interessante para nossos propósitos é a atenção que os nazistas prestam a possíveis protestos internacionais resultantes da crescente perseguição à minoria judaica. As considerações táticas de Martin Bormann ao organizar as Olimpíadas de 1936 mostram claramente que eles raciocinaram levando essa variável em consideração: "Devido aos imperativos da política externa", escreve ele, "devemos lutar contra o judaísmo agir um pouco mais reservado, sabendo fundamentalmente que o objetivo do NSDAP está irrevogavelmente fixado: excluir o judaísmo de 36
37
todas as áreas da vida da nação alemã . Da mesma forma, o assassinato do principal oficial nazista suíço, Wilhelm Gustloff, em fevereiro de 1936, não gerou represálias nesse período.mesmo período de preparação para os Jogos. Por outro lado, o assassinato em Paris, em 7 de novembro de 1938, de Ernst von Rath, primeiro secretário da embaixada alemã, oferece um pretexto para desencadear a Noite de Cristal. O contexto é então muito diferente, uma vez que os famosos acordos de Munique acabam de ser assinados; os nazistas estão, portanto, apostando mais uma vez na passividade das grandes potências. Eles não estão enganados. Os protestos às vezes são altos em alguns países, especialmente entre a opinião pública na Holanda e na Grã-Bretanha. Mas os estados não reagem: eles permanecem “estados do espectador ” . É claro que os Estados Unidos chamaram de volta seu embaixador em Washington, mas o subsecretário de Estado George Messersmith limitou o significado desse gesto: “O fato de chamar nosso embaixador“ para consulta ”em nada pode interferir em nossas relações políticas. ou o comércio com a Alemanha e nossos interesses naquele país não serão afetados . O gesto da Casa Branca visa atingir a opinião pública alemã e ainda mais manter o controle da opinião pública americana, indignada com Crystal Night. Essa passividade dos Estados para com a perseguição anti-semita na Alemanha está ligada à sua recusa em acolher refugiados judeus que fogem da Alemanha e da Áustria. A atitude da Suíça é bem conhecida, mas na realidade toda a Europa, os Estados Unidos e até a Austrália não a querem. A Conferência Internacional de Evian, realizada de 6 a 15 de julho de 1938, por iniciativa do Presidente Roosevelt, mostrou claramente que essa atitude de fechamento era compartilhada por todos os Estados. Embora a maioria deles expresse sua simpatia para com os judeus perseguidos, eles afirmam que a situação econômica e social de seu país não permite um aumento nas cotas de imigração. Esta conferência, que não levou a nada de concreto, forneceu aos líderes nazistas mais uma prova de que os Estados, apesar de seus protestos indignados, nada fariam pelos refugiados judeus alemães e austríacos. O escritor protestante Jochen Klemmer anota em seu diário, 23 de agosto de 1938: “Já que a conferência de Evian provou que o estrangeiro não podenão traz alívio para os judeus alemães, tudo se tornou muito mais trágico . " Seja como for, a violência que já se expressa em um país ou região não esbarra em nenhum dos obstáculos ou proibições que poderiam retardá-la. Os atores locais podem até ser protegidos, ou acreditar que estão protegidos, por um grande poder que, de certa forma, lhes dá uma “cobertura” internacional de primeira linha. Essa proteção ajuda a dar-lhes uma sensação de impunidade e também a dissuadir outros Estados de intervir diretamente na crise. É o caso das relações tutelares que se estabeleceram entre a França e o Ruanda e que também caracterizam, em certa medida, as relações entre soldados soviéticos e iugoslavos . Outros casos ainda vêm à mente, por exemplo, as relações entre o Camboja de Pol Pot em 1975 e a China comunista, o jovem governo turco em 1915 e a Alemanha imperial, Chile ou Argentina no meio do 1970 e os Estados Unidos. Mas observe que esse esquema não funciona para a Alemanha nazista, que não está sob a tutela de nenhuma outra potência. Portanto, é apropriado buscar um quadro de interpretação ainda mais amplo. Na sociologia dos movimentos sociais, Sidney Tarrow avançou na teoria da “estrutura das oportunidades políticas”. Segundo ele, o sucesso ou o fracasso de um movimento social depende de uma combinação de fatores contextuais que favorecem ou não o seu desenvolvimento . Eu diria o mesmo de um processo de violência que pode levar ao massacre. Também existe uma estrutura de oportunidades favoráveis que facilita a ação. Seu acionamento depende de uma série de fatores internos (explorados no Capítulo II ) e externos (examinados aqui). Sem dúvida, os atores 38
39
40
41
42
43
mantêm ummargem de manobra para interromper o processo: não vamos afundar no determinismo fatalista; quem estuda a história humana sabe que ela é rica em voltas e reviravoltas inesperadas e, portanto, permanece aberta para o futuro. No entanto, é claro que quanto mais tempo os jogadores conseguem intervir efetivamente na crise, menor se torna seu espaço de manobra. Se continuarem passivos, é provável que a dinâmica do conflito ganhe impulso e acabe levando à guerra.
A mudança na guerra Mas a guerra também tem uma história. Até que ponto essa história pesa sobre o que está acontecendo em Berlim, Belgrado ou Kigali? Muitas vezes a história da guerra foi contada como uma epopéia, como o Homero grego, ou pensada de um ponto de vista estratégico, como, em tempos igualmente antigos, pelo chinês Sun Tse. Mais provocativamente, pode-se falar do caso de amor que os homens têm com a guerra. Deploremos ou não, os homens, pelo menos alguns deles, são apaixonados pela guerra e amam travá-la. Não há sentido em negar essa inclinação humana de buscar a glória tanto quanto a morte na guerra. "Tenha em mente, escreve o historiador militar israelense Martin Van Creveld, a luta muitas vezes não foi vista como um mero espetáculo, mas como a maior de todas as . Mas esse fascínio pelo espetáculo grandioso da guerra mascara os horrores de seus campos de batalha. É por isso que abordarei o fenômeno do guerreiro aqui pelo seu lado mais sombrio, aquele que tendemos a esconder na narrativa militar, mas que historiadores como Joanna Bourke, Annette Becker e Stéphane Audoin-Rouzeau têm buscado. reabilitar: o da violência do campo de batalha e, em última instância, do massacre . Porque a guerra é obviamente de natureza a "produzir" massacre. Claro, o massacre nem sempre é perpetrado em uma situação de guerra. A Kristallnacht em 1938 é um exemplo de pogrom realizado “a frio” em tempos de paz. Na Ucrânia, a fome dos kulaks foi desencadeada por Stalin enquanto a União Soviética não estava em guerra; e qualquer guerra não conduz inevitavelmente ao massacre, especialmente quando é definida como uma atividade organizada e violenta que implica sobretudo o envolvimento de soldados - mais ou menos motivados ou pagos para lutar - e não de populações civis não lutadores. Mas, desde o início dos tempos, a guerra anda de mãos dadas com o massacre, inclusive entre os gregos. Temos a tendência de idealizar sua civilização porque eles nos legaram a "democracia". No entanto, os gregos tinham seus "bárbaros" a quem tratavam impiedosamente. Tucídides, o cronista das guerras do Peloponeso, dedica várias páginas ao relato do massacre dos habitantes de Melos por Atenas em 416 aC. DC : um episódio que alguns autores consideram como um dos primeiros "genocídios" conhecidos na história . Também podemos ler ou reler a Bíblia, parando nestas prescrições do Antigo Testamento: "Destruirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar, sem ser movido por eles" (Deuteronômio 7,16), e novamente: “As cidades destes povos que o Senhor te dá por herança são as únicas onde não deixas nenhum vivente subsistir. Na verdade, você vai proibir totalmente o heteu, o amorreu, o cananeu, o perizeu, o heveu e o gebuseu, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que eles não te ensinem a agir de acordo com sua maneira abominável de agir para seu Deus. Cometerias um pecado contra o Senhor teu Deus ”(Deuteronômio 20,10-18). Sem dúvida, esses textos estão sujeitos a interpretação dependendo do contexto em que foram escritos. No entanto, eles nos contam algo profundo sobre a história da humanidade e sua relação com a violência. 44
45
46
47
O massacre, portanto, muitas vezes acompanha a guerra, especialmente quando o vencedor se permite vingar os vencidos ou quando mata os soldados do inimigo, uma vez desarmado. Em suas memórias do além do túmulo ,Chateaubriand não deixa de censurar Napoleão por atos que violam o "direito da humanidade", por exemplo, sua ordem para executar, em 10 de março de 1799, soldados derrotados durante a campanha na Síria . O massacre também permite um enriquecimento rápido, ao saquear as propriedades das populações que são mortas ou que são forçadas a sair. Basta dizer que, da guerra antiga à guerra moderna, passando pela guerra colonial, o massacre está quase sempre aí, não como um “excesso” de guerra, mas como uma das suas dimensões. Vamos tentar ser mais precisos, entretanto. As crises na Alemanha, Iugoslávia e Ruanda-nos mergulhar na história do XX século, um século caracterizado por um aumento extraordinário do número de vítimas não-combatentes. Os números são realmente impressionantes: estima-se que em conflitos militares, a proporção de mortes de civis aumentou de 10% no início de 1900 para quase 90% no final do XX século. Este desenvolvimento se deve à invenção de meios e técnicas de destruição cada vez mais poderosos, começando com o da dinamite em 1866 por Alfred Nobel. Os avanços na industrialização também aumentam dramaticamente o poder de fogo dos exércitos modernos, que podem, portanto, causar muito mais baixas entre os civis. Mas esse desenvolvimento tecnológico oferece apenas parte da explicação. Simultaneamente, a guerra pensamento mudou profundamente, a partir do final do XVIII século. Segundo o historiador inglês John Horne, o modelo de “povo armado”, herdado da Revolução Francesa, deu origem ao que ele chama de “politização da guerra”: a doutrina da soberania nacional arregimenta cada cidadão de acordo com sem precedente. Assim, o legado da “levée en masse”, ou seja, o alistamento forçado de “cidadãos do sexo masculino” nos exércitos, perturba as representações de si mesmo e do inimigo. 48
°
°
th
A politização da guerra Essa arrecadação em massa implementou pela primeira vez uma mobilização total da população para a guerra, uma ideia que atingiu seu auge na Primeira Guerra Mundial. Se todos os (jovens) homens forem chamadosno exército, o restante da população também é convidado a participar do esforço de defesa. O Estado expressa assim a vontade de mobilizar todos os recursos do país - não só militares, mas também humanos, econômicos e ideológicos. Em 1793, mulheres e crianças são chamadas a fazer armas e os idosos denunciam os tiranos . Doravante, a guerra envolve a mobilização de todo o povo. Como resultado, a distinção formal entre combatente (armado ou não) e não combatente tende a desaparecer. Essa confusão nas relações entre militares e civis, entre combatentes e não combatentes, está no cerne de quase todos os conflitos contemporâneos. Consequência capital dessas mudanças: as representações do inimigo são perturbadas. Na verdade, a doutrina da mobilização total leva logicamente a fazer de toda a população adversária um alvo militar. Cada segmento do país é percebido como potencialmente hostil, uma vez que constitui parte de seus recursos políticos, econômicos e culturais. Assim, desde o início da Primeira Guerra Mundial, os exércitos alemães invadindo a Bélgica e a França se imaginam às voltas com um levante da população civil, uma guerra de “franco-atiradores” . Além disso, entre todos os beligerantes existem representações desumanizadas do inimigo, acusado de cometer as piores 49
50
atrocidades, sejam elas verdadeiras ou não. Como os autores dessas atrocidades também poderiam ser civis, as represálias (ou medidas para prevenir tais atos) não os poupam. Em uma luta que mobiliza todos os tipos de recursos (inclusive propaganda), a nação vitoriosa será aquela que primeiro quebrará a resistência material e moral do adversário. A distinção entre "frente" e "retaguarda" tende a desaparecer no quadro dessa guerra total, teorizada no início da década de 1930 por Erich Ludendorff. Para esse estrategista alemão, a guerra total, que exige coesão absoluta do povo, visa aniquilar o adversário, batendo em sua retaguarda, destruindo sua infraestrutura econômica.e suas populações civis . Como bater nas costas dele? Mas pela nova aviação, diz o general Giulio Douhet. A guerra do nosso século é integral, escreve ele por sua vez (“guerra integrale”) . Além da mobilização para o esforço de guerra, os civis se tornaram os verdadeiros súditos da guerra. E a arma aérea tornou-se a única decisiva: segundo ele, agora é necessário trazer a devastação para trás das linhas inimigas, para atingir objetivos vulneráveis, industriais, energéticos, militares e até mesmo concentrações humanas . Esta politização da guerra explica o desenvolvimento da violência contra os civis sob outro aspecto: o da mobilização política e cultural contra as minorias nacionais ou elementos estrangeiros, apresentados como inimigos internos. A este respeito, “os massacres de setembro de 1792 em Paris, capital da Revolução, onde o medo de invasão se junta ao medo de uma conspiração“ contra-revolucionária ”, representam o evento de matriz nesta elaboração de o inimigo interno em sua forma moderna ”. A violência mais extrema contra civis durante a Primeira Guerra Mundial também é desse tipo. A partir de agosto de 1914, uma onda de xenofobia irrompeu contra o espião imaginário ou o invasor oculto. Minorias, suspeitas de serem agentes ou simpatizantes do inimigo, sofrem marginalização moral ou, pior, são excluídas doprocesso de mobilização. As deportações forçadas e os pogroms provocados pelo exército russo durante sua retirada em 1915 têm como alvo as populações da fronteira, muitas das quais são russas. Isso é ainda mais claro no caso do massacre em massa de armênios já mencionado. Estes não são apenas definidos pelos Jovens Turcos como um obstáculo à construção de um estado moderno; são vistos, no contexto da guerra, como aliados da oposição russa e, portanto, como traidores da nação turca. Na própria Alemanha, em 1916, o censo dos judeus no exército, acusados pelos círculos nacionalistas de serem "emboscadas", contribui para uma demonologia do inimigo interno, do qual o anti-semitismo se tornará um elemento central. Em suma, a figura do inimigo externo tende a se juntar à do inimigo interno. É precisamente a situação de guerra que causa esse colapso. Em tempos de paz, a propaganda já ajudava a construir o rosto do inimigo interno. Este é o tempo de guerra para de alguma forma validar seu discurso. A guerra possibilita “autorrealizar” a profecia: “Há um inimigo dentro de nós que quer nos prejudicar. E esse inimigo interno tende a ser o mesmo que nosso inimigo externo. A conseqüência óbvia de entrar na guerra é, assim, tornar possível "cerrar fileiras" contra esse duplo inimigo. Essa crise de identidade do Eu, que já havia resultado em tempos de paz na formação de um discurso sacrificial contra um “Outro” a ser excluído, agora encontra uma “solução” na guerra. Esse é o legado moderno que pesa, de uma forma ou de outra, sobre os atores que se engajam na guerra, seja na Alemanha, na Iugoslávia ou em Ruanda. Mas é claro que, no contexto particular que lhes pertence, de acordo com os meios de poder à sua disposição, eles "inventarão" maneiras de fazer guerra contra o inimigo interno-externo que lhes é específico. 51
52
53
Conquistando "espaço vital"
Quando Hitler atacou a Polônia em 1 setembro de 1939, ele pretende se apropriar de parte do território que foi atribuído em segredo com Stalin. Esta agressão alemã desencadeia a ocupação pelos soviéticos da parte oriental do país, a leste do Vístula. É claro que a pequena Polônia nada pode fazer. Conta com sua aliança com França e Inglaterra. Mas estes não fazem nada para roubarsua ajuda. Mais uma vez, Hitler apostou na passividade deles e venceu. Ele vai parar por aí? Assim que a operação contra a Polônia foi concluída, ele pediu à sua equipe que preparasse o ataque ao norte da Europa (Dinamarca, Noruega), assim como na Bélgica e na França - operações que terá lugar entre abril e junho de 1940. A Europa cai completamente na guerra que não queria ver chegando. O início do que viria a ser a Segunda Guerra Mundial teve consequências imediatas e consideráveis para as populações civis. Na própria Alemanha, os primeiros a sofrer são os doentes mentais. Em nome da limpeza da “raça”, estes já passaram por medidas de esterilização, discriminação, exclusão e abandono. A aceleração da marcha para a guerra levou a preparar em segredo, durante o verão de 1939, seu assassinato coletivo em um programa de "eutanásia", operacional a partir do outono. Na Polônia, a agressão alemã foi imediatamente acompanhada pela eliminação das elites polonesas, de acordo com as ordens de Hitler. Ao mesmo tempo, iniciou-se a germanização dos territórios (notadamente a Silésia): a saída forçada das populações para o leste permitiu a instalação de colonos "de raça germânica". Também foi tomada a decisão, em 21 de setembro de 1939, de criar guetos para encerrar dois milhões de judeus que viviam no país. Então, de 12 a 30 de outubro, foram organizadas as primeiras deportações de judeus da Áustria e da Tchecoslováquia para a Polônia. Do lado soviético, o quadro é igualmente sombrio: poucos meses depois de ocupar sua parte deste país, os soviéticos massacram oficiais poloneses na floresta de Katyn (abril de 1940), enquanto organizam a deportação dos judeus. , Poloneses, ucranianos, bielorrussos, etc. No nível militar, entretanto, Hitler não pretende se limitar a essas primeiras vitórias. A estratégia da guerra relâmpago, que lhe permitiu alcançar sucessos incrivelmente rápidos (especialmente contra a França), dá a ele argumentos para ser ainda mais ambiciosos. Após o fracasso da invasão da Inglaterra, ele convenceu sua equipe a se preparar para a conquista da União Soviética. As considerações estratégicas são as mais determinantes nesta decisão (apropriação da imensa riqueza deste país para depois se voltar contra a Inglaterra). Para conquistar seu "espaço de vida", os nazistas se lançaram assim ao Oriente com uma imaginação colonial para reduzir à escravidão as populações eslavas que haviam caído sob seu controle.dominação. A condução da Operação Barbarossa pelo maior exército já formado na Europa terá de imediato enormes consequências para o destino dessas populações civis. Se esta invasão responde bem aos imperativos estratégicos, é também uma guerra político-racial contra o "judaico-bolchevismo". A agressão alemã contra a União Soviética tornou possível completar a junção entre o inimigo externo e o inimigo interno. No lado militar, os soldados do Exército Vermelho pagarão o preço, já que a Wehrmacht os deixará morrer de fome aos milhões. No início de 1942, dois milhões de prisioneiros soviéticos já haviam morrido . Do lado civil, são os judeus as principais vítimas: graças à guerra, são demonizados como uma dupla ameaça, interna e externa. Assim, os Einsatzgruppen , grupos armados especialmente designados para o extermínio dos judeus, operaram, desde o início da invasão da União Soviética, atrás das divisões alemãs, tarefa da qual também participou a Wehrmacht. st
54
Guerra contra civis Na Iugoslávia, as declarações de independência da Eslovênia e da Croácia em 25 de junho de 1991, desencadearam a crise final do colapso da Iugoslávia. O governo federal de Markovic então tentou manter a Eslovênia na União; mas nada ajuda. Em todo caso, quase não há sérvios na Eslovênia e Milosevic permanece indiferente quando parte. Não é o caso da Croácia, onde ele considera adequado apoiar a minoria sérvia que pede a adesão a Belgrado. Em julho de 1991, as primeiras operações de “limpeza étnica” começaram na Croácia. Aqueles com os quais pudemos conviver por anos no mesmo bairro, sem nos preocupar com sua filiação étnica ou religiosa, de repente se tornam "inimigos" a serem expulsos; a menos que eles decidam sair por conta própria, sentindo-se muito inseguros agora. Mais de cem mil sérvios residiam então em Zagreb e arredores, misturados com a população. Mas o contexto da guerra tornaagora sua situação difícil e separa muitos casais mistos. Mais da metade deles deixa a Croácia. Começa então uma guerra total contra uma população ameaçada, para usar a expressão de Mirko Grmek, com "memorial": o objetivo não é apenas livrar-se daqueles que são considerados indesejáveis no território para serem "purificados", mas aniquilar qualquer memória que faça lembrar a sua presença (escolas, edifícios religiosos) . Pouco preparada para a guerra, a Croácia declarou mobilização geral em 26 de agosto de 1991. Em Belgrado, Milosevic manifestou, perante as grandes potências, o desejo de preservar a integridade da Iugoslávia contra as forças separatistas. Mas, na prática, o exército “iugoslavo”, o JNA, do qual assumiu o controle apesar de certa oposição interna, faz o contrário. Em 27 de agosto de 1991, atacou a cidade croata de Vukovar, então, em 17 de outubro, Dubrovnik. O cerco de Vukovar terminou em 17 de novembro com o massacre de várias centenas de pacientes no hospital, atos sujos cometidos pelas milícias, em particular os Tigres Arkan (cf. capítulo IV ). Nas aldeias vizinhas, são realizadas operações paralelas de "limpeza étnica". Por sua vez, os croatas estão tentando assumir o controle dos Krajina. As tentativas de mediação internacional dificilmente conseguiram conter a crise, com sérvios e croatas buscando ganhar o máximo de terreno possível. Os principais Estados europeus não estão se dando os meios para acabar com a guerra. A Croácia é apoiada pela Alemanha e Itália, enquanto França, Inglaterra e Espanha mostram boa vontade, senão cumplicidade, para com a Sérvia. Poucos meses depois, a declaração de independência da Bósnia e Herzegovina em 15 de outubro de 1991, logo reconhecida pela União Europeia, provocou a eclosão da guerra naquele país . A partir de 6 de abril, o JNA iniciou o cerco de Sarajevo, enquanto as operações de "limpeza étnica" foram lançadas ao longo do vale do Drina, no leste da Bósnia. No início de 1993, os croataspor sua vez, entrou na Bósnia central e usou os mesmos métodos dos sérvios, queimando casas, matando seus habitantes, etc. Também forçados a se defender, os muçulmanos bósnios, sob a liderança de Alija Izetbegovic, por sua vez cometem atrocidades contra sérvios ou croatas. Os massacres parecem, assim, ter-se espalhado através da mímica, numa “macabra ronda ” onde todos os protagonistas acabam por se parecer. Repetição da história? Esta terra da Bósnia, que foi palco de incríveis atos de crueldade durante a Segunda Guerra Mundial, está mais uma vez experimentando o horror, com os assassinatos às vezes ocorrendo nas mesmas aldeias de cinquenta anos antes. 55
56
57
Rumo à destruição do Inyenzi
Em Ruanda, os Acordos de Arusha em agosto de 1993 nos deram um vislumbre da esperança real de paz após três anos de guerra. Um equilíbrio consensual finalmente parecia se estabelecer entre os atores principais: o Presidente Habyarimana e seu grupo, seus oponentes internos e a RPF. Nas ruas de Kigali, a multidão acolheu o compromisso com alegria, aliviada pelo fim de um conflito que deixou vários milhares de mortos e centenas de milhares de deslocados. Em meio a esse júbilo popular, quem poderia imaginar então que, nove meses depois, o sangue fluiria livremente por todos os lados? A história nos reserva reversões surpreendentes. Na realidade, dificilmente esses acordos foram assinados quando os radicais dos vários lados já procuravam desqualificá-los. Muitos soldados Habyarimana ficaram frustrados por Habyarimana ter aceitado os referidos acordos, embora o exército não tivesse sido derrotado. Oficiais e vários funcionários administrativos também podem temer pagar o custo de sua aplicação, na medida em que teriam sido obrigados a ceder aos seus compatriotas que voltassem do exílio. E os políticos ainda temiam sua possível acusação por seu envolvimento na execução de vários crimes. Por fim, os acontecimentos políticos no vizinho Burundi terão mais uma vez repercussões dramáticas no Ruanda. Em 21 de outubro de 1993, um golpe de estado de oficiais tutsis pôs fim aodemocratização do poder iniciada pelo presidente Melchior Ndadaye. Foi assassinado, e o Burundi viveu novamente um grave episódio de massacres, na mais perfeita indiferença internacional. Em Ruanda, esses eventos provocam imediatamente, em imagem refletida, uma radicalização política que compromete ainda mais a viabilidade dos acordos de Arusha. Com efeito, os extremistas hutus ruandeses vêem no que acaba de acontecer no Burundi a necessidade urgente de se defenderem contra o inimigo tutsi, que ameaça não só de fora (RPF), mas também de dentro. Disseram bem: “Não se pode confiar nos Inyenzi [baratas]. E os adversários hutus do regime, que recusavam essa linha étnica, não conseguem mais se fazer ouvir, nem mesmo reconhecer, para alguns, a realidade da ameaça tutsi. Em suma, um novo limiar acaba de ser ultrapassado: os ruandeses que ainda pensavam que uma reconciliação nacional era possível são cada vez menos, ou quase não acreditam mais nela. Os extremistas se sentem cada vez mais fortes. Dois dias após o assassinato de Ndadaye, a primeira reunião pública do Poder Hutu , um agrupamento político de radicais Hutu, concebido para superar todas as divisões políticas entre os Hutus, é realizada em Kigali . O slogan do poder hutu é claro: devemos nos livrar fisicamente da ameaça tutsi. Seus líderes já decidiram partir logo para o ataque? Mesmo assim, poucos meses depois, o assassinato do Presidente da República Habyarimana, cujo avião foi abatido ao pousar no aeroporto de Kigali em 6 de abril de 1994, deu-lhes o pretexto. A responsabilidade por esse ataque ainda não está claramente estabelecida e tem sido objeto de acalorados debates. Independentemente dessas acusações, os efeitos imediatos desse evento são bem conhecidos. Como no Burundi, alguns meses antes, a morte do Presidente da República provoca imediatamente massacres. A partir de 7 de abril, centenas de tutsis foram mortos nas ruas de Kigali, bem como hutus, incluindo a primeira-ministra Agathe Uwilingiyimana. No mesmo dia, dez soldados de paz da UNAMIR belgas também foram assassinados. Em 8 de abril, um governo interino foi formado em Kigali, composto por representantes políticos que, dentro dos principais partidos, eram hostis a qualquer reconciliação nacional, e do qual Jean Kambanda se tornou o primeiro-ministro. Sem que seu nome aparecesse ali, o ex-chefe de gabinete do Ministro da Defesa,O coronel Théoneste Bagosora é, por assim dizer, a eminência cinzenta. As novas autoridades continuaram a apelar à população para que se defendesse do perigo tutsi e dos adversários hutus, instando-os a participar ativamente de sua eliminação. Mas ninguém pode ainda imaginar a escala que esses massacres terão. Para Gérard Prunier, aqueles que os organizam
planejaram antes de tudo "uma espécie de Saint-Barthélemy político ", um massacre de alguns milhares de pessoas visando principalmente as elites e os executivos, enfim, o que James Gow chamou de "elitocídio. No caso da Iugoslávia. Mas, em Ruanda, esse processo não para, evoluindo cada vez mais da eliminação ao extermínio: conhece uma aceleração espantosa, passando em três meses de alguns milhares de vítimas para uma cifra entre 500.000 e 800.000 mortes . Os massacres assumem assim uma dimensão sem precedentes, inclusive em relação ao Burundi, que em 1972 havia vivido um episódio de matanças de escala até então desconhecida na região. Entre 10 e 22 de abril, as matanças se espalharam para outras prefeituras de Ruanda, principalmente as de Kivungo, Cyangugu e Kibuyé. No dia 18 de abril, chegaram a Butare, no sul do país. Esta guerra contra o inimigo interno não impede, no entanto, a progressão do RPF em direção à capital. O exército ruandês é regularmente derrotado pelos soldados tutsis de Paul Kagame. Ao longo do caminho, eles também cometem atrocidades contra os hutus. Seu objetivo principal é subjugar e lucrar com a população conquistada, mas não exterminar todos os hutus. Nesse sentido, essa violência contraa maioria da população hutu em Ruanda não pode ser comparada à violência organizada contra a minoria tutsi, ameaçada de extermínio. No final de abril, os soldados da RPF já controlavam toda a parte oriental do país. Em 4 de julho, eles se estabeleceram em Kigali. 58
59
Recuse a engrenagem fatal Esses três relatos sucintos quase nada dizem sobre o que está em jogo na guerra e o que poderia explicar a passagem para o massacre. Da noite para o dia, a guerra transforma o destino dos indivíduos, tornando alguns lutadores, outros vítimas. Literal e figurativamente, a guerra os esmaga: ela os aniquila sob bombas ou balas tanto quanto os esmaga psicologicamente. A guerra reifica as personalidades: todos são reduzidos ao status de patriota, traidor ou inimigo. Quer eles se juntem a ela ou não, a guerra envolve os indivíduos em um papel, uma função. Eles ainda têm margem de manobra para recusar? Vários exemplos mostram que sim. Na Alemanha, milhares de jovens se recusam a se alistar na Wehrmacht e são presos em campos de concentração. Na Sérvia, mais de 100.000 jovens se recusam a ser incorporados ao exército para ir à guerra com Milosevic, enquanto cerca de 40.000 outros desertarão . Em Ruanda, alguns oficiais não querem participar, ao lado do coronel Bagosora, na caça aos tutsis. Esses exemplos de recusa, ou mesmo desobediência, atestam a capacidade de certos indivíduos de ainda poderem dizer não à violência, apesar dos riscos de marginalização e sanções. Mas eles vão contra o mainstream. Se as circunstâncias políticas do momento devem obrigá-los a se conformar ao grupo, sua resistência moral ou política, mesmo limitada, mostra como o ser humano continua capaz de ignorar todo determinismo social. Como observa o psicólogo americano Ervin Staub, “a coragem necessária para limitar a violência muitas vezes não é a coragem física ou a disposição de arriscar a vida, mas a coragem de se opor ao grupo e colocá-lo em perigo. agrupar seu status, ou colocar em risco sua carreira ”. 60
61
Quando a guerra transforma vizinhos em inimigos O filme do antropólogo norueguês Tone Bringa We Are All Neighbours é ambientado em janeiro de 1993, tendo como pano de fundo a guerra na Bósnia entre croatas e muçulmanos. Durante várias estadias, ela observou a evolução das relações entre os habitantes da mesma aldeia. Dois terços
dos habitantes são muçulmanos e o outro terço são católicos. Houve conversões em ambos os sentidos. No início do filme, encontramos uma idosa muçulmana, que visita sua amiga mais antiga da aldeia, uma católica. Elas se conhecem há quarenta anos, vivem lado a lado: são como irmãs. “Aconteça o que acontecer, sempre tomaremos café juntos”, dizem eles. Tiros são ouvidos à distância, a menos que seja o trovão do canhão. Um homem que foi visto cortando lenha acaba de sair para a frente. A guerra se aproxima: nós lutamos na noite anterior em uma aldeia vizinha. Foram os croatas que atacaram os muçulmanos. Na aldeia, o medo começa a se espalhar. Não vemos mais os dois velhos amigos conversando. Casas muçulmanas estão pegando fogo na área. Alguns foram massacrados. Isso aconteceu a quatro quilômetros da casa das duas mulheres. Alguém grita: “Estou com medo, estou com medo de que aconteça a mesma coisa aqui. " As pessoas têm medo de ir ao mercado na aldeia vizinha, como costumavam fazer. A região parece completamente desestruturada: vemos refugiados passando nas duas direções, sem saber para onde ir para se proteger. Todo mundo está apavorado. Uma jovem muçulmana comenta: “As pessoas se retiraram dentro deles. Eles não podem relaxar. Estamos sufocando lá. Qualquer que seja a nossa nacionalidade, todos nós sentimos medo e pânico. " Os vizinhos estão começando a desconfiar uns dos outros. Os habitantes croatas não aparecem mais. Homens muçulmanos estão patrulhando. A velha muçulmana disse no início: “Pensamos que viria dos chetniks [nacionalistas sérvios], mas não dos nossos vizinhos croatas. Antes, compartilhávamos tudo, o bom e o ruim. Não estávamos esperando isso ... Você tem que passar por isso ... Quase não dizemos olá ou boa noite. De repente, as pessoas mudam de rosto, mudam de rosto. Para mim, aconteceu em um dia. Você não pode descrever. E ligar para a velha amiga que ela tem certeza que está em sua casa. Mas este não se mostra. Agora as duas velhas que eram como irmãs não se falam mais. À noite, os muçulmanos se revezam para ficar de guarda. Ninguém dorme mais na aldeia. Os lutadores croatas finalmente chegam. Eles queimam as casas de muçulmanos e matam alguns deles. Os outros são forçados a fugir. É um espetáculo de desolação, mas as casas croatas foram poupadas. E os sobreviventes são forçados a fugir. No entanto, essas oposições raramente conseguem conter a dinâmica da violência coletiva organizada pelo Estado. A característica da guerra é levar ao extremo a mobilização do grupo, ou seja, a coesão do Eu contra o inimigo “Eles”. As figuras do inimigo, desenvolvidas em tempos de paz, tornam-se realidade em tempos de guerra: a profecia pode cumprir-se. Ai de todos os que já foram retratados como inimigos! Guerra destrói rapias velhas solidariedades, destroem a comunidade ou laços sociais que ainda existiam com as vítimas anteriormente designadas. O filme realizado pelo antropólogo norueguês Tone Bringa durante a guerra da Bósnia mostra como as relações amigáveis de vizinhança dentro da mesma aldeia podem ser totalmente destruídas com o início da guerra (ver box). O Novo Mundo da Guerra De maneira mais geral, o estado de guerra perturba não apenas o relacionamento com os outros, mas também o do espaço e do tempo. Espaço é sinônimo de insegurança (lugares não frequentados) ou de refúgio(para abrigar). O tempo torna-se de incerteza: não sabemos realmente o que vai acontecer no dia seguinte. Populações inteiras podem, portanto, ser superadas por vários
estados depressivos ou manifestações de hipervigilância (o sintoma mais sensível dos quais é a insônia). O tempo está suspenso e a vida continua, apesar da morte à espreita e que pode surpreender, estando ou não na "frente". Entrar em uma guerra é, na realidade, entrar em outro universo onde o comportamento humano se transforma. Alguém que sempre conheceu tempos de paz pode realmente entender o que está em jogo na guerra? A característica da guerra é tornar incandescente o imaginário do medo (descrito no capítulo I ): é "eles" ou "nós". Em nome desse dilema de segurança, tudo se torna justificável. A guerra é, portanto, uma alavanca formidável de inibições e proibições. Mesmo que seja uma banalidade relembrá-lo, é espantoso observar como, em poucas horas, em poucos dias, um homem que até então viveu uma existência pacífica e respeitosa com os outros se torna um assassino. Matar o próximo não é mais um crime, mas um dever ou uma missão. Levantar a proibição de assassinato acarreta e autoriza outras transgressões: entrar em casas, se apropriar de alimentos e propriedades de outras pessoas, estuprar mulheres (às vezes homens), etc. Este outro, que se pode facilmente profanar, estuprar, matar, não é mais exatamente um semelhante, mas um "bárbaro" a ser aniquilado. A propaganda já cumpriu seu dever na era préguerra. Ou é o tempo da guerra que produz uma construção hedionda do outro a ser destruído, para melhor aceitar as práticas destinadas a destruí-lo? A propaganda não é apenas um fator que sempre antecede a guerra. Ela é uma construção dinâmica que evolui com as circunstâncias, mas mantém certos traços constantes. Uma vez engajada, a situação de guerra "regenera" a própria propaganda. Quanto mais horrível a guerra se torna, mais ela requer propaganda que racionalize tais práticas. E é assim que o massacre, seja ou não perpetrado no campo de batalha, torna-se por assim dizer "incorporado" na guerra. Na verdade, a guerra mascara a realidade do massacre de pelo menos duas maneiras. Primeiro pela retórica. O massacre é apresentado como um ato de guerra. A partir da campanha polonesa de 1939, os tiroteios contra civis eram justificados em nome da luta contra os "atiradores",uma obsessão pela segurança em ressonância com as práticas do exército alemão desde o início da invasão da Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial . Enquanto a guerra grassava entre a Alemanha e a União Soviética, Himmler anotou em seu diário pessoal (datado de 18 de dezembro de 1941) sobre os judeus: “Questão judaica. Para serem exterminados como partidários . Quão convencido ele está do que está escrevendo então? Ninguém pode saber. Essas poucas palavras rabiscadas em seu diário depois de um encontro com Hitler podem expressar uma convicção pessoal, tanto quanto uma instrução para transmitir a seus subordinados. Em todo caso, o massacre de judeus, que já causou dezenas de milhares de mortes por tiroteios em território soviético, é "pensado" como uma prática de guerra contra supostos "partidários". Em segundo lugar, as condições do exercício da guerra fazem "desaparecer" do campo de visão do observador externo os atos massacres. Em nome da segurança, o território é isolado, o acesso de jornalistas é proibido. Mas quem sabe o que pode acontecer aí? A guerra mascara o massacre porque cria as condições atrás de portas fechadas. Ao colocar todos os terceiros à distância, promove o contato face a face entre os algozes e as vítimas. Em tal sala fechada, o massacre pode ocorrer mais facilmente . No entanto, não vamos culpar a guerra por toda a camuflagem do massacre. A própria posição do observador externo deve ser questionada. O quanto ele realmente quer "ver" o que está acontecendo? É verdade que os nazistas fizeram de tudo para encobrir a realidade do extermínio dos judeus, nem que seja para assustar as vítimas. Mas esta observação não se aplica a Ruanda, onde o mascoroações são realizadas a céu aberto, nas ruas de Kigali e em outros lugares. Nesse caso, não existe porta fechada: o massacre é uma atividade pública, da qual a população é 62
63
64
convidada a participar. Mesmo assim, aqueles que viram a gravidade dos eventos não foram ouvidos. Devemos pensar que nos recusamos a perceber o horror da situação de um país que pensamos não nos diz respeito? Ele não é pior surdo do que alguém que não quer ouvir ... Porém, como vimos, a passividade do terceiro é, em geral, um fator que piora a sorte das vítimas. Quem ainda pode quebrar a parede do silêncio e da indiferença? Quem ainda pode se tornar esse terceiro que poderá, apesar de uma tragédia já programada, alertar o mundo, em última instância?
Testemunho, último recurso? Este terceiro último é, antes de mais nada, a testemunha sobrevivente do massacre. Na maioria das vezes, e qualquer que seja o método de assassinato em massa, há alguém que escapa - por sorte, por cumplicidade, por astúcia. Se ele ainda pode falar, ele vai querer contar ao mundo o que aconteceu com ele, para aqueles que morreram e a quem ele deveria ter se unido, para todos os outros que estão em perigo. Outro terceiro possível: aquele próximo ao massacre, que podemos designar com o termo inglês bystander , difícil de restaurar em francês (cf. capítulo II ). O espectador não é apenas um espectador: ele pode decidir falar, até mesmo agir. Por causa de sua profissão - diplomata ou engenheiro, médico ou enfermeiro - ele está perto do teatro de operações. Ele testemunha a passagem dos condenados, ouve os tiros, vê os cadáveres. E este "espetáculo" é tão insuportável para ele que quer falar, mesmo que isso signifique ir além do dever de reserva que a profissão lhe pode impor. Além de sua função - em certos casos, por causa de sua própria função (quando é membro de uma organização humanitária, por exemplo) - o essencial é testemunhar. Testifique o mais rápido possível para que “façamos algo”, para que paremos a carnificina. A palavra da testemunha é essencial para que o massacre pare, quando ainda há tempo. Mas vamos acreditar? O extermínio dos judeus: descubra o horror ... e não faça nada As informações sobre os massacres de judeus na Europa apresentam esse tipo de problema. Hitler quer manter o assassinato em massa de judeus em segredo. Mas sua empresa de extermínio rapidamente se tornou conhecida em várias capitais europeias, em particular em países neutros (Genebra, Estocolmo e Istambul). A partir dessas cidades, a notícia chega a Londres e Washington. Assim, apesar da guerra, os territórios da Europa central ocupados pelos nazistas não estão hermeticamente fechados. As execuções em massa têm testemunhas: soldados alemães, representantes dos estados satélites do Reich e até sobreviventes. A informação sobre os massacres perpetrados pelos Einsatzgruppen é a primeira a se espalhar. Então, começaram a circular notícias sobre mortes por gás também. A primeira rede de divulgação desta informação é a de organizações judaicas como o Bund da Polónia, um importante documento do qual chegou a Londres em maio de 1942. Especifica em particular que em “novembro-dezembro de 1941, ocorreram os massacres de judeus. começou nos territórios poloneses anexados ao Reich. Este assassinato foi executado a gás na aldeia de Chelmno ”. A segunda rede é a da própria Resistência polonesa, que regularmente transmite informações em primeira mão ao governo polonês exilado na Grã-Bretanha. Assim, um de seus melhores 65
agentes, Jan Karski, trouxe a Londres, em novembro de 1942, um testemunho direto, tendo conseguido invadir o gueto de Varsóvia e o campo de extermínio de Belzec. Mas quem recebe essa informação não acredita. Esses relatórios, que se acumulam a partir de 1942, geralmente despertam descrença, inclusive entre os círculos judeus em Jerusalém, Londres ou Nova York. O fenômeno é sublinhado por Walter Laqueur: informações confiáveis não são necessariamente acreditadas. Quando o juiz Frankfurter recebeu Jan Karski em Londres, que relatou as execuções em massa na Polônia, ele disse a esta última que “ele não acreditou nele. Karski protestou, mas Frankfurter explicou a ele que não queria dizer que Karski não tivesse falado a verdade, apenas que ele não podia acreditar.E que havia uma diferença ”. No entanto, Thomas Mann já havia afirmado ao microfone da BBC, em dezembro de 1941 e janeiro de 1942, que os judeus foram mortos em massa. O mesmo vale para o jornal inglês The Daily Telegraph , que anuncia em 25 de junho que "mais de 700.000 judeus poloneses foram assassinados pelos alemães durante os maiores massacres da história mundial". Então, em 30 de junho, o mesmo jornal divulgou a cifra de 1 milhão de vítimas. Esses artigos constituem um ponto de inflexão, considerando o jornal que as notícias relativas aos massacres dos judeus não evocam pogroms “tradicionais”: o objetivo dos nazistas é eliminar a “raça judia” do continente europeu. Nos dias 30 de junho e 2 de julho, o New York Times fez o mesmo, mas publicou as informações nas páginas internas, o que pode parecer surpreendente. “É óbvio, comenta Laqueur, que os editores não sabiam o que fazer com ele. Se era verdade que um milhão de pessoas morreram, isso tinha que ser anunciado na primeira página: afinal, não acontecia todos os dias. Se isso não fosse verdade, não adiantava publicar os artigos. Na dúvida, optaram por um compromisso: publicar os artigos, mas em um lugar onde dificilmente seriam visíveis. Isso implicava que o jornal tinha reservas quanto ao fato de as notícias conterem provavelmente alguma verdade, mas os fatos certamente eram exagerados . " Essa lacuna, entre credibilidade e crença, coloca o problema particularmente complexo das formas como as informações são recebidas. Qual é esse caminho tortuoso pelo qual os indivíduos acabam “integrando” notícias que escaparam de seu campo de consciência? A este respeito, distinguirei três fases, de duração desigual dependendo da crise. O primeiro é o da resistência à informação . No caso do extermínio dos judeus, isso se expressa por meio de uma atitude de pura descrença: a natureza sem precedentes do massacre o torna simplesmente incrível. Assim, acredita-se que a notícia é exagerada e que os judeus, embora certamente sejam maltratados pelos nazistas, devem antes de tudo ser submetidos a um trabalho árduo. Nessa fase refratária, os modos de recepção herdados do passado desempenham um grande papel. Assim, durante a Primeira Guerra Mundial, a imprensa britânica espalhou em 1916 a "notícia" de que os alemães estavam queimandocadáveres de soldados para a produção de lubrificantes, como glicerina ou sabão. Até um jornal respeitável como o Financial Times divulgou histórias de que o próprio Kaiser ordenou a tortura de crianças de três anos, enquanto o Daily Telegraph informava que austríacos e búlgaros mataram 700.000 sérvios com a ajuda de gases asfixiantes. Mas tudo isso acabou sendo falso, o que reconhecemos depois da guerra. Portanto, juramos não nos deixar cair em tal absurdo. Em outros casos, essa fase de resistência a novas informações é baseada em uma defesa ideológica: assim, durante anos, os intelectuais ocidentais não queriam ver a repressão em massa dos regimes comunistas porque acreditavam que seus os líderes estavam necessariamente do lado do bem e do progresso do homem. A resistência ainda pode se basear na indiferença, que também pode se basear em representações do passado, como 66
67
esse desinteresse comum pelo que está acontecendo em outra parte do mundo, na África ou em outro lugar. Numa segunda fase, o noticiário começa a se alargar através do enorme fluxo de informações e boatos que uma situação de guerra traz. É nessa fase do equilíbrio de forças que a notícia acaba se impondo na consciência de um número cada vez maior de indivíduos. Para se impor no sentido quantitativo do termo, porque os depoimentos se acumulam. No caso do extermínio de judeus, Renée Poznanski mostra como relatos sucessivos, mesmo que às vezes se contradigam, reforçam cada vez mais a mesma ideia: judeus são mortos em massa em território polonês. Portanto, há um processo cumulativo, por toques sucessivos, de construção da notícia. Por exemplo, observa ela, “a carta do Bund certamente não conseguiu impor a realidade àqueles que se recusaram a vê-la, mas criou um clima que permitiu uma recepção menos cega dos relatórios seguintes ” ”. Levando em consideração informações genuinamente "novas", é na realidade um processo psicológico que se iniciou: o da "incubação" dessa informação na consciência dos indivíduos, o que sozinha pode fazer " pule 'modos de recepção do passado. Finalmente vem a terceira fase, a da conscientização profissionaldito anteriormente, durante o qual as defesas anteriores tendem a colapsar para integrar a realidade presente. Nesta fase, muitas vezes ocorre um fenômeno curioso: um relato, um depoimento, um acontecimento, que muitas vezes apenas confirma o que já sabíamos, mas serve como um “revelador”. Como se essa consciência, para dar à luz por conta própria, precisasse de um momento catártico para finalmente se afirmar. Por exemplo, dentro dos círculos judaicos americanos, o passo essencial na conscientização do extermínio de judeus é dado graças ao telegrama do Dr. Gerhart Riegner, representante do Congresso Mundial Judaico em Genebra. Este transmite o relatório que recebeu de um industrial alemão, segundo o qual há um plano de extermínio de todos os judeus da Europa, reunido para esse fim na Europa Oriental em 1942; o relatório menciona o uso de ácido prússico. No entanto, embora a notícia desperte grande emoção no Congresso Judaico Mundial, ela ainda desperta descrença entre os líderes americanos e britânicos. Na verdade, esse momento de conscientização obviamente varia conforme o indivíduo se preocupa ou não diretamente com a notícia e, de maneira mais geral, conforme o meio e o país. Cada vez, uma sociologia cultural internacional da recepção de informações deve ser escrita. Assim, o processo de consciência vai se construindo gradativamente, espalhando-se gradativamente, ainda encontrando resistências aqui e ali, para finalmente aparecer como uma verdade inescapável. A declaração conjunta assinada por onze governos aliados e o Comitê da França Livre em 17 de dezembro de 1942 atesta tal consciência. Diz que a atenção desses governos foi atraída para "numerosos relatórios da Europa de que as autoridades alemãs estão implementando a intenção freqüentemente repetida de Hitler de exterminar o povo judeu na Europa". De todos os países ocupados, os judeus são transportados em condições de terror terrível e extrema brutalidade para a Europa Oriental [...]. Nunca mais ouvimos falar daqueles que são deportados. Aqueles que têm capacidade física são explorados até a morte em campos de trabalho. Os enfermos são deixados para morrer, famintos ou massacrados em execuções em massa. O número de vítimas destas crueldades sangrentas ascende a várias centenas de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes ”. Essa declaração é amplamente divulgada. Mas, na verdade, os Aliados não tomaram nenhuma medida específica com o objetivo de conter a ação dos nazistas, embora outros relatórios tenham chegado a eles em 1943 e 1944, inclusive sobre o funcionamento de Auschwitz. Para as organizações judaicas, o objetivo não é mais tornar as pessoas conhecidas, mas agir. Quando os nazistas assumiram o controle direto da Hungria em 1944, não havia mais dúvidas quanto ao 68
69
destino que aguardava os judeus naquele país. A Agência Judaica de Jerusalém, portanto, pede a Londres que bombardeie as ferrovias que levam a Auschwitz. Mas a Royal Air Force responde que a operação é tecnicamente impossível. No entanto, documentos atestam que a Força Aérea Britânica veio bombardear uma fábrica de armas localizada não muito longe do Campo . Essa passividade dos Aliados, moralmente ofensiva, gerou muitas polêmicas, inclusive nos Estados Unidos, as razões desse “abandono” dos judeus . A única "explicação" válida é de natureza estratégica: os Aliados estão empenhados em 1942 numa guerra total contra as potências do Eixo, que não têm a certeza de vencer. Seu principal objetivo é, portanto, reunir o maior número possível de forças para destruir as máquinas de guerra alemãs e japonesas. Neste contexto de guerra total, Auschwitz não representa aos seus olhos um interesse estratégico. Depois do fato, argumentou-se que, se as câmeras de televisão pudessem ter sido trazidas para Auschwitz, o "mundo" teria entendido antes e agido de acordo. É verdade que a informação sobre o extermínio dos judeus, embora conhecida desde 1942, permanece "abstrata": é uma ideia aceita, não uma realidade tangível. Argumenta-se, então, que seriam necessárias imagens que tornassem visível a tragédia em curso para desencadear a emoção, apenas capaz de empurrar para a ação. No caso dos judeus, essas imagens surgiram quando já era tarde, ou seja, no momento em que a guerra estava terminando: depois que as tropas britânicas descobriram, em 15 de abril de 1945, o acampamento de Bergen-Belsen. Nos dias seguintes, as notícias dos horrores de Belsen se espalharam pelo mundo; centenas de fotógrafos diurnos e fotógrafos vêm visitá-lo. Mas, paradoxo trágico, este lugar não tem nada a ver com a destruição dos judeus! Não era um campo de extermínio, nem mesmo um campo de concentração, masum Krankenlager , um suposto acampamento para doentes que morreram de fome e frio. 70
71
Bósnia: conheça ... e finja Desde então, aprendemos a colocar em perspectiva essa crença na onipotência atribuída às imagens do sofrimento e da morte alheia: está longe de provocar sempre uma consciência ativa em favor das vítimas. A idéia da "aldeia global" em que a explosão da mídia prodigiosa, no final do XX século, iria impedir derramamento de sangue, porque uma câmera de televisão estaria sempre lá para denunciar o horror, é puro ilusão. Vejamos a Bósnia. Há também uma fase de resistência às informações sobre “limpeza étnica ”. Aqui, novamente, as grades de leitura do passado inicialmente obstruíram qualquer compreensão dos eventos. Os sérvios não estiveram sempre ao lado da França desde a Primeira Guerra Mundial? O presidente François Mitterrand fez questão de lembrá-los de lhes mostrar uma certa simpatia e de serem insensíveis às informações que denunciam cada vez mais seus abusos. O cerco de Sarajevo logo colocou a "prova" diante dos olhos de todo o mundo. As câmeras de televisão estavam no local. A televisão bósnia pode continuar a transmitir de um abrigo atômico. É bastante excepcional na história dos cercos de cidades que se possa testemunhar tal evento ao vivo de dentro de uma cidade sitiada. É, portanto, a televisão que então desempenha o papel principal de terceiros, testemunha da tragédia em curso. Os telespectadores de todo o mundo puderam viver por mais de três anos na companhia dos habitantes de Sarajevo ameaçados dia e noite por canhões e metralhadoras sérvios, colocados nas alturas da cidade. Eles souberam de suas péssimas condições de vida, de seu sofrimento diário, do risco constante de serem mortos por atiradores isolados, que tinham o hábito de atirar ao acaso em transeuntes ousados o suficiente para atravessar uma rua exposta ao perigo. °
72
suas balas. Essas imagens de violência ea morte não provocou, no entanto, nenhuma resposta conjunta das grandes potências para forçar os sérvios a suspender o cerco. O discurso dominante de especialistas e jornalistas enfocou então a falta de legibilidade do conflito, que cada um dos atores tinha uma parcela de responsabilidade na crise, que uma intervenção externa corria o risco de ficar presa em um processo fatal incluindo a região dos Balcãs. tem o segredo, etc. Assim, o mundo se acostumou com o cerco de Sarajevo. A longo prazo, essas imagens repetitivas acabaram tendo o efeito paradoxal de fazer uma tela, ou seja, de ocultar o que se passava em outro lugar. Em vez de revelar o que está em jogo no conflito, o foco da mídia no cerco à cidade acabou escondendo sua dinâmica profunda. Por um lado, quase nenhum jornalista estava interessado na situação no Kosovo na altura, embora a crise tivesse começado naquela província e a situação se tornasse cada vez mais tensa. Mas a resistência pacífica dos albaneses, nas garras de uma violência sérvia cada vez mais aberta, não interessou a ninguém, exceto por alguns raros artigos publicados no Le Monde ou Liberation . "Iremos para Kosovo quando houver sangue", disse-me um jornalista da televisão francesa. O líder da resistência albanesa, Ibrahim Rugova, que procurava alertar as capitais ocidentais para a gravidade da situação no Kosovo, dificilmente foi recebido em Paris, Londres ou Washington. Por outro lado, o foco da mídia internacional em Sarajevo obscureceu o que estava acontecendo dentro da própria Bósnia. Já em 1991, ONGs como Helsinki Watch ou MSF já haviam começado a coletar informações que atestavam sérias violações dos direitos humanos. Mas muito raros são os jornalistas que procuraram investigar na "profunda Bósnia". Uma dessas exceções é o repórter do Newsday Roy Gutman. “Os jornalistas não tendo liberdade para ir lá [entre abril e julho de 1992], a única maneira de reconstruir os acontecimentos", explica ele, "era questionar os refugiados que fugiam da Bósnia em massa . Gutman, portanto, não trabalha com imagens, mas com palavras de testemunhas que fogem de um lugar onde ele não pode ir. Conhecendo o servocroata, ele cruza as referências desses testemunhos, descarta o que lhe parece rumores ou exageros. Também conta com o trabalho de certas ONGs, das quais pode coletar informações e encontrar as vítimas.Ele também dá grande importância à decodificação de propaganda e declarações oficiais. Finalmente, em 19 de julho de 1992, publicou seu primeiro artigo revelando a existência de "campos de extermínio" construídos pelos sérvios, principalmente o de Omarska, localizado no local de uma antiga mina de ferro, ao norte. Banja Luka (cidade de 200.000 habitantes controlada pelos sérvios). Duas semanas depois, ele consegue revelar que massacres de muçulmanos foram perpetrados na região. Em seguida, vem a descoberta de práticas sistemáticas de estupro nas regiões de Split e Tuzla. Em suma, sua pesquisa de campo, como a de seu colega David Rieff , revela a essência do que estamos começando a chamar de “limpeza étnica”. Roy Gutman e David Rieff personificam, no caso da guerra na Bósnia, as figuras deste jornalismo-testemunha que, tomando partido com as vítimas, apela à mobilização internacional para pôr fim à violência de que são alvo. Seguindo seus relatos, equipes de televisão transmitirão as primeiras imagens desses campos - Canal 4 e ITN (Rede Internacional de Televisão). Em 26 de julho de 1992, o governo bósnio publicou uma lista de 100 campos de detenção que entregou ao Conselho de Segurança da ONU. Alguns jornalistas e ativistas de direitos humanos então os assimilam a campos de concentração nazistas, embora a conexão seja altamente questionável. Mais uma vez, lemos o presente com as lentes do passado. A ideia é também afirmar, como argumentam Gutman e Rieff, que um genocídio está sendo cometido na Bósnia para forçar a “comunidade internacional” a intervir. 73
74
Mas, apesar de seus esforços e das reportagens na televisão que se seguem às suas revelações, as grandes potências não querem arriscar um engajamento militar em uma guerra que não consideram sua e cuja escalada temem . No entanto, a comunidade internacional não pode ser criticada por ter perdido o interesse pela crise da Bósnia. A ONU tem repetidamente assumido a situação, designa os agressores (os sérvios), impõe-lhes sanções econômicas, decreta embargoarmas, envia forças armadas para a manutenção da paz (UNPROFOR), etc. Mas a implantação da UNPROFOR (da qual a França assumiu o comando em 1992) provavelmente não irá interromper o conflito: seu mandato, que nunca incluiu explicitamente a proteção das populações civis, é baseado em uma lógica consensual de consulta. entre os protagonistas, não em uma lógica de confronto. O estabelecimento pela ONU das chamadas zonas de “segurança” em torno das cidades onde muitos muçulmanos bósnios se refugiaram (Srebrenica, Zepa) não altera fundamentalmente esta lógica . A criação pelas Nações Unidas em 22 de fevereiro de 1993 de um Tribunal Penal Internacional é um indicativo desse mesmo estado de espírito: a comunidade internacional não está se dando os meios para intervir de forma decisiva na crise. Com efeito, a criação deste tribunal certamente um passo importante para o desenvolvimento da justiça internacional - significa sobretudo que as Nações Unidas se dote de um novo instrumento para julgar os crimes que são e serão cometidos na Jugoslávia ... mas não para evitá-los . Resultado: no terreno, os mantenedores da paz são testemunhas impotentes das atrocidades contra as populações civis, não podendo a sua missão os autorizar a pôr fim. O filme Warriors, do inglês Peter Kosminsky, demonstra de forma muito realista a natureza dramática e pungente das situações vividas no local pelos mantenedores da paz. É a própria lógica desta presença inactiva que permite que o massacre de Srebrenica (1315 de Julho de 1995) ocorra, perto de um destacamento de soldados de manutenção da paz holandeses. Perpetrado pelas forças sérvias da Bósnia do general Mladic, esse massacre de cerca de 8.000 muçulmanos (o maior na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial) continua sendo o símbolo da passividade da comunidade internacional nessa guerra . Isso significa que a cobertura da crise na Bósnia pela mídia não teve influência? O julgamento merece ser qualificado. Sem realmente mudar a posição das grandes potências, os meios de comunicação obrigaram-nas a uma certa “gesticulação”, como disse um diplomata depois com rara franqueza: “Teríamos preferido não fazer nada. Mas a opinião pública sensibilizada pela mídia não teria permitido [...]. Fomos, portanto, condenados a fazer algo, mas algo ineficaz . A dramatização de certos acontecimentos provavelmente provocou novos "impulsos", como após a explosão, em 5 de fevereiro de 1994, de um morteiro no movimentado mercado de Sarajevo (matando 68 pessoas e cerca de 200 feridos). As imagens filmadas do evento imediatamente deram a volta ao mundo. As consequências deste bombardeamento, cuja responsabilidade deu origem a viva polémica , são significativas, a começar pelo primeiro envolvimento armado da NATO na Europa (e não mais apenas da ONU), conduzindo aos primeiros ataques americanos às posições. Sérvios da Bósnia . Também segue uma coalizão de forças bósnias muçulmanas e croatas, impulsionada pelos Estados Unidos (Acordo de Washington de 1 março de 1994) e uma nova iniciativa internacional de paz. Mas essas decisões já não estavam sendo preparadas? Talvez um dia descubramos, estudando os arquivos dos ministérios envolvidos. Neste caso, o papel dos meios de comunicação terá sido sobretudo o de "cristalizar" medidas que já estavam em preparação. 75
76
77
78
79
80
81
° de
Ruanda: conheça ... e vá
O tratamento da mídia para os eventos de 1994 em Ruanda parece muito diferente. Se houver resistência à compreensãoa violência que se desencadeou como resultado do ataque ao plano presidencial, isto se deve principalmente ao desconhecimento da realidade deste país. Quem então sabe da existência de Ruanda antes desta data, exceto os belgas e alguns especialistas? Em que região da África está localizado? A análise dos primeiros assuntos dos canais de televisão mostra que os jornalistas parecem não saber nada sobre a história deste país e o apoio da França ao regime do falecido presidente . O tipo de explicação mais frequentemente proposto é o dos ódios tribais que caracterizariam o continente africano, uma ladainha retomada por jornalistas e políticos. Para resistir ao acontecimento, imediatamente se insere nas representações ocidentais da África, sempre evocadas por calamidades naturais e sociais: seca, fome, AIDS, guerras étnicas, etc. O tom dominante é, portanto, o da fatalidade. Mais uma vez, a televisão toca o acorde da emoção e da compaixão. Para o espectador, dificilmente oferece ferramentas analíticas para compreender os riscos da violência neste país, que, no entanto, deixamos que ele entenda que é extremamente grave. A resistência ao evento ainda se manifesta na recusa consciente em explicar "conflitos entre negros". Um jornalista da França 2 atesta isso: seu superior hierárquico, ao enviálo a Ruanda, claramente lhe dá a missão de "cobrir" a partida dos franceses no âmbito da operação "Amaryllis" e de perder o interesse pelo conflito ruandês de maneira adequada. diz ; operação liderada pelo exército francês que, além da evacuação de cidadãos ocidentais, inclui a partida discreta de parentes do falecido presidente . No entanto, a força do acontecimento se impõe muito rapidamente, não tanto pela televisão, mas pela cobertura da imprensa escrita, que muito rapidamente dedica a Ruanda um lugar relativamente importante, em todo caso incomum para guerras e acontecimentos. tomando lugar na África. Vários enviados especiais dos principais jornais ocidentais são testemunhas da tragédia. Uma vez que os massacres não acontecem a portas fechadas, eles podem, por sua própria conta e risco, denunciá-los rapidamente. Através de suas histórias, histórias de massacres tributárias e o acontecimento, portanto, tende a assumir uma importância quantitativa . No início, as reportagens relatam massacres em Kigali, depois, a partir de 19 de abril, nas províncias. Esses primeiros relatos, embora todos reflitam a gravidade da violência, diferem na maneira de ver a relação entre guerra e massacres. Há duas visões opostas da situação a este respeito: ou o jornalista defende a guerra entre RPF e as forças governamentais, e os massacres tendem a “desaparecer” em favor da lógica do confronto político e militar; ou o jornalista insiste nos massacres como tais, como uma prática atroz contra uma população desarmada . Os artigos ainda diferem dependendo se repetem ou não o padrão de “ódio ancestral” ou a explicação oficial das autoridades apresentando os massacres como uma resposta espontânea da população à ameaça militar tutsi. Apesar desses conflitos de interpretação, Marc Le Pape observa: “A história imediata dos massacres poderia ser contada pelos jornalistas da imprensa escrita quando trabalham como testemunhas, como testemunhas oculares desta notícia onde os massacres duraram vários. mês . Esses testemunhos têm características comuns: os massacres são cometidos por grupos que obedecem a líderes; entre os chefes, estão as autoridades locais (prefeitos e políticos locais). Matamos principalmente com facas, mas armas e granadas também sãousava. Em vários casos, os gendarmes e soldados participaram nas matanças. Famílias inteiras estão sendo executadas com atrocidade. Nenhuma testemunha descreve um assassinato que pareceria espontâneo e desordenado. A investigação de Johanna Siméant, que se centra na forma como o noticiário nocturno francês cobre os acontecimentos no Ruanda, complementa a de Marc Le Pape: “A cobertura do 82
83
84
85
86
87
noticiário francês corresponde amplamente ao que foi dito sobre ele. o noticiário americano: a cobertura concentrou-se maciçamente entre 7 e 13 de abril sobre a evacuação de cidadãos ocidentais após o atentado que custou a vida aos presidentes de Ruanda e Burundi, que praticamente abandona Ruanda até a segunda semana do mês de Maio de 94 e depois crescer até o final de maio de . »Muito provavelmente influenciada por reportagens da imprensa escrita, a televisão está gradualmente mudando sua visão dos acontecimentos. Tendo muito poucas imagens dos massacres propriamente ditos e aparentemente sem tentar obtê-las, às vezes dá a palavra a especialistas no local, como Philippe Gaillard do CICV, que afirma que estamos testemunhando um " caça ao homem por razões étnicas e políticas ”. Note que esse depoimento não passa pela imagem, mas pelas palavras coletadas ao telefone: televisão é rádio. Tudo então acontece como se esse acúmulo de relatos dos massacres em andamento mudasse a percepção qualitativa do evento. De fato, durante o mês de maio, toma-se consciência de que esses massacres sistemáticos não são nada menos do que genocídio. A palavra é usada primeiro em uma base ad hoc e, em seguida, com cada vez mais frequência. Aqui, novamente, a imprensa escrita está na vanguarda; o diário belga Le Soir usou a palavra "genocídio" pela primeira vez em sua edição de 13 de abril, depois o diário francês Liberation em 26 de abril. ONGs como Oxfam ou Médecins sans frontièrestambém sustentam que um genocídio está em andamento em Ruanda e apelam a uma intervenção internacional. Os canais de TV também estão começando a apresentar personalidades que usam a palavra "genocídio" em seus noticiários. Assim Bernard Kouchner em TF1: "Está perto de genocídio e métodos fascistas" (26 de abril de 1994). Philippe Douste-Blazy sobre a França 2: "Vamos parar o massacre, é aterrorizante e terrível, o maior genocídio do fim do século" (14 de maio de 2004). Mas as grandes potências não estão indo tão longe. "O mundo está cansado demais para intervir?" »Pergunta o jornalista Ted Koppel, no dia 4 de maio, iniciando sua entrevista com Boutros Boutros-Ghali, secretário-geral da ONU, no grande canal de televisão americano ABC . Ruanda e Bósnia são então relegados para segundo plano por causa da morte do piloto Ayrton Senna e Jackie Kennedy. Embora os massacres tenham durado quase quatro semanas, o Conselho de Segurança da ONU ainda não discutiu em profundidade a situação em Ruanda. De Kigali, o general Dallaire enviou, no entanto, várias mensagens afirmando que o envio de uma tropa de cinco mil homens bem armados seria suficiente para impedir as matanças. Segundo ele, a centralização das operações, o fim dos massacres na capital, acabaria rapidamente com a violência no país . Mas os Estados Unidos em particular se opõem a tal plano. Eles estão, no entanto, bem informados da situação no local, como o notável trabalho investigativo da jornalista e acadêmica Samantha Power . Já em dezembro de 1993, um relatório da CIA mencionava a importação de quarenta toneladas de armas pequenas. A inteligência americana anunciou em janeiro de 1994 que, se a violência recomeçasse,“O pior cenário envolveria meio milhão de mortes ”. Mas, escaldados pelo fiasco na Somália, os Estados Unidos imploram pela não intervenção. E Washington proíbe seus diplomatas de pronunciarem a palavra "genocídio" em conexão com Ruanda: tal qualificação dos eventos obrigaria a intervir, em aplicação da convenção de 1948. Além disso, o Conselho de Segurança dá pouca atenção ao Situação do Ruanda, estando já muito ocupada com a gestão de crises na Bósnia e no Haiti. Para Dallaire, a decisão de 21 de abril de reduzir o efetivo dos Minuar, devido à saída dos belgas, foi o pior cenário: os genocidas não podiam esperar melhor para continuar seu trabalho de "pacificação" sem obstáculos. Diante da inação da ONU, ele entendeu que só lhe restavam jornalistas para alertar a opinião pública. Ele os ajudou tanto quanto pôde, considerando que um 88
89
90
91
mostra
92
93
correspondente ocidental "valia um batalhão no Campo ". Dallaire pediu novamente aos Estados Unidos que neutralizassem a estação de propaganda, Radio-Télévision des Mille Collines, bloqueando suas ondas de rádio ou destruindo suas instalações com fogo de mísseis. “Nada foi feito e um oficial do Pentágono argumentou que não são os rádios que matam, mas os homens . »Finalmente, em 17 de maio, quando os massacres já duraram mais de seis semanas, o Conselho de Segurança vota o princípio da constituição de um Minuar 2 com base no plano de Dallaire, sem saber quem os fornecerá. homens e os fundos necessários para tal operação. Na coletiva de imprensa de 25 de maio, Boutros Boutros-Ghali já fazia um balanço: “É um fracasso, não só das Nações Unidas, mas de toda a comunidade internacional. Eu tentei. Estive em contato com vários chefes de Estado e implorei que enviassem tropas. Eu falhei. É um escândalo ... Foi cometido um genocídio . " Na verdade, é a primeira vez que o mundo experimenta, por assim dizer, “diretamente” o cometimento de um genocídio. Era impossível dizer neste caso: “Não sabíamos. “Os testemunhos vindos de Ruanda não foram, porém, capazes de mobilizar as grandes potênciasfaça qualquer coisa para impedi-lo . Certamente, houve finalmente a intervenção da França no final de junho de 1994, que, por sua vez, teve uma cobertura significativa da mídia, incluindo a televisão. Dez anos depois, o então Primeiro-Ministro, Edouard Balladur, defendeu veementemente esta operação, afirmando que o seu objetivo era "estritamente humanitário", e que a França também era a única a querer fazer algo, por isso que os outros Estados se contentaram em permanecer espectadores do drama . Mas a Operação "Turquesa", autorizada e legitimada pela ONU, chegou muito tarde: várias centenas de milhares de pessoas já haviam sido mortas. Também parecia altamente ambíguo, dado o conhecido apoio que Paris deu ao antigo regime do presidente Habyarimana. No entanto, quando os soldados franceses chegam a Ruanda, o RPF praticamente venceu a guerra. Se sua intervenção salva os tutsis, também facilita a saída precipitada de aproximadamente dois milhões de hutus, que fogem do país por medo de represálias da RPF. A confusão então parece total, já que aqueles que estavam ontem no acampamento dos carrascos agora parecem ser as vítimas, especialmente porque são atingidos por uma grave epidemia de cólera. E as imagens que finalmente chegam de Ruanda mostram não tanto aqueles que foram vítimas da violência genocida, mas aqueles que foram os atores ou os cúmplices! 94
95
96
97
98
O suposto “efeito CNN” e a indiferença dos estados Nos três casos examinados, os testemunhos sobre os massacres em curso nunca conseguiram influenciar os decisores políticos e militares dos Estados mais poderosos para que os pusessem termo. Todos esses estados forneceram a mesma resposta, ou melhor, a mesma não resposta: ou eles continuaram a guerra sem se preocupar em limitar a destruição (no caso dos judeus), ou rejeitaram qualquer ideia de intervenção efetiva e oportuna ( caso do Ruanda), ou envolveram-se na crise, mas tomando apenas meias medidas (caso da Bósnia). Suas atitudes, portanto, permanecem em continuidade com a passividade ou indiferença que demonstraram antes da eclosão da própria crise. Um fato importante, no entanto, marcou a década de 1990, em relação à década de 1940: as ONGs e a mídia adquiriram forte capacidade de repercussão dos depoimentos no “cenário mundial”. As ONGs e os meios de comunicação constituem uma espécie de tandem complexo, mas complementar, que pode gerar pressões públicas transnacionais que podem pesar sobre os
decisores políticos e militares. Mas devemos concluir disso que agora existe o que se chama de “efeito CNN”, como um convite aos políticos para intervir por causa da cobertura da mídia sobre uma crise? Uma pesquisa aprofundada realizada sobre as condições político-midiáticas da intervenção americana na Somália torna possível duvidar, pelo menos relativizar tal afirmação . Na verdade, seria melhor inverter os termos desta questão, observa Johanna Siméant com razão: "Em vez de perguntar se uma melhor cobertura jornalística teria levado a uma melhor resposta política, devemos antes perguntar em que medida uma resposta política capaz de qualificar a situação não teria estruturado melhor cobertura da mídia . No caso da crise iugoslava, a pressão da mídia parece ter tido, laboriosamente, algum impacto em 1995, então, com os ataques aéreos da OTAN na guerra.do Kosovo em 1999. Mas, embora seja verdade que os Estados hoje levam em conta muito mais o fator “comunicação” na defesa e na implementação de suas políticas, isso não significa que o desenvolvimento de a mídia mudou fundamentalmente seu comportamento. É verdade, como nota Pierre Hassner, que “protestos e gestos de solidariedade agora acompanham fomes e genocídios nos casos cada vez mais numerosos em que a indiferença não pode mais se esconder atrás da ignorância. Mas que daí resulte um consenso moral e objetivo e uma legitimidade capaz de atrair ou impor a adesão de Estados e grupos em conflito, de arbitrar suas diferenças, de julgar e punir suas agressões e seus crimes, [...] Aqui está uma ilusão e uma mistificação ”. Na década de 1990, essa passividade dos estados espectadores era frequentemente explicada pelo fato de que a opinião pública nos países ocidentais teria resistido à ideia de que soldados desses países fossem mortos em conflitos que não os preocupavam. Este argumento é apenas parcialmente válido. E não nos permite compreender a passividade demonstrada pelos Aliados em relação ao extermínio dos judeus. A única maneira de explicar a indiferença que os Estados demonstram em geral em tais circunstâncias é simplesmente constatar que seus dirigentes não têm vontade política de intervir - a inércia em perfeita harmonia com a concepção dominante de seu papel. no sistema internacional. Quais são, de fato, as principais missões atribuídas aos Estados modernos, senão para defender seus próprios interesses, seu território, sua riqueza, sua economia, sua cultura e, em geral, sua própria população? Para defender seus interesses e fazê-los prosperar, os Estados podem chegar a um entendimento e se unir em todos os tipos de fórmulas de cooperação multilateral. O direito internacional também reconhece a possibilidade de recorrer ao uso da força armada em legítima defesa. Esses são os princípios básicos de seu modus operandi no sistema mundial atual. Assim, em nenhum momento proteger as pessoas "estrangeiro", isto é, não sob a sua autoridade direta, não pode ser considerado parte de sua missão originador . A este respeito, a invenção do "direito de interferência" equivale aquerendo impor aos Estados um dever de intervenção que parece contrário à sua "natureza política". Por exemplo, em uma situação de crise como em Ruanda, o primeiro instinto dos estados ocidentais não é separar os beligerantes ou pôr fim aos massacres, mas salvar seus próprios cidadãos das matanças. Se os Estados intervêm neste tipo de crise, como no Kosovo em 1999, é porque geralmente percebem um interesse direto ou indireto nela. Os motivos para o que se denomina então de intervenção "militar-humanitária" podem ser muito diversos: ganhar uma posição na região em causa para aí garantir uma presença estratégica (controlo de parte da área e / ou acesso às suas riquezas). ), para interromper o ciclo da crise que poderia envolvê-los apesar de si mesmos, para estabilizar as populações no local para evitar um possível fluxo de refugiados para 99
100
101
os países do Norte. É por isso que uma das questões fundamentais colocadas por esse tipo de operação é a de sua legitimidade , como mostra o interessante estudo comparativo de Nicholas Wheeler . Observe também que a opinião pública americana não se mobilizou realmente para que os Estados Unidos acabassem com a guerra na Bósnia até que os canais de televisão deste país cobriram amplamente a morte acidental de três altos funcionários americanos perto de Sarajevo. , 19 de agosto de 1995. Como observou Richard Holbrooke, “A Guerra da Bósnia tinha acabado de chegar aos Estados Unidos, o que determinou que o presidente Clinton declarasse guerra aos sérvios, sentindo que ele tinha 'apoio do povo americano '. Também é verdade que a França, sob a presidência de Jacques Chirac, estava decidida a mostrar maior firmeza, após a “humilhação midiática” criada pelas imagens de soldados franceses prisioneiros dos sérvios. A resultante intervenção da OTAN em setembro de 1995 seria decisiva para levantar o cerco de Sarajevo. O que foi dito ser impossível ou muito arriscado durante mais de três anos de procrastinação, acabou de se tornar realidade em três semanas. Portanto, é raro que uma intervenção "militar-humanitária" possa ser considerado desinteressado por parte dos Estados, isto é, com o único objetivo de salvar vidas. Isto é o que leva Samantha Power concluir evidências indiferente que os Estados Unidos sempre foi contra genocídios e assassinatos em massa do XX século, qualquer que seja o governo no poder. Nesse sentido, do ponto de vista de Washington, “a não intervenção americana não é um fracasso, mas um sucesso ” . Tal conclusão não se aplica apenas aos Estados Unidos, mas a todos os outros membros do Conselho de Segurança da ONU e à maioria dos Estados. Devemos, portanto, admitir que os testemunhos sobre os massacres em andamento não desempenharam o papel esperado de sinais de socorro para evitar o pior. Estes testemunhos não podem pretender agir no presente: serão para a História, para a memória, atestando a tragédia que se passou na azáfama do mundo. 102
103
°
104
1. Pierre Hassner e Roland Marchal (ed.), Guerres et Sociétés. Estado e violência após a Guerra Fria , Paris, Karthala, col. "CERI", 2003. 2. Leo Kuper, Genocídio. Seu uso político no século XX , New Haven, Yale University Press, 1981, p. 161 3. Rudolph J. Rummel, Death by Government , New Brunswick-London, Transaction Publishers, 1994. Se os métodos de cálculo usados por Rummel levam a números às vezes questionáveis, sua ordem de magnitude não o é. 4. A criação de Rummel da palavra “democídio” pretende descrever isso: é composta por demos (“povo” em grego) e cide (“matar”). O termo se refere ao assassinato em massa de uma população de pelo menos um milhão de indivíduos por um governo. 5. Mario Bettati, The Right to Interference. Mutation of the international order , Paris, Odile Jacob, 1996. 6. Ver a este respeito as propostas feitas pelo “Grupo de Personalidades de Alto Nível” (incluindo o próprio Robert Badinter) no relatório A Safer World. Nosso Negócio Comum , Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudanças, Nova York, Nações Unidas, 2004; disponível na Internet: http: //www.un.org. 7.
Este último de facto defendeu, na quinta conferência para a unificação do direito penal realizada em Madrid em 1934, o princípio do novo "crime de barbárie", definido como um "acto de opressão e destruição aos contra indivíduos que pertençam a um grupo nacional, religioso ou racial ”, bem como o“ crime de vandalismo ”como“ a destruição intencional de obras artísticas, que são criações específicas do génio de um grupo e constituem o seu património " 8. Por exemplo, Robert Hayden, durante a mesa redonda organizada em torno do livro de Michael Mann na décima convenção mundial da Associação para o Estudo das Nacionalidades, Universidade de Columbia, Nova York, 16 de abril de 2005. 9. Marc Levene, “Por que o século 20 é o século do genocídio? ”, Journal of World History , vol. 11, n ° 2, 2000, p. 305-336. 10 . Norman M. Naimark, Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in the Twentieth-Century Europe , Cambridge, Harvard University Press, 2001. 11 . Carnegie Endowment for International Peace, Reports of the International Commission to Inquire on the Causes and Conduct of the Balkan Wars , Washington DC, 1914, p. 73 12 . Arnold J. Toynbee, O Massacre de armênios (1915-1916) (1 edição 1916), Paris, Payot, 1981. r
13 . Eric J. Hobsbawm, Nações e nacionalismo desde 1780 , Paris, Gallimard, 1997, p. 172 14 . Cf. Roger Brubaker, “Da desagregação dos povos à queda dos impérios. Abordagem histórica e comparativa ”, Proceedings of research in social sciences , n ° 98, junho de 1993, p. 3-19. 15 . Eric J. Hobsbawm, Nações e nacionalismo desde 1780 , op. cit. , p. 172 16 . Analisado por Mirko Grmek, Marc Gjidara e Neven Simac, em Mirko Grmek (ed.), Le Nettoyage Ethnic , op. cit. , p. 150 17 . Jean-Pierre Chrétien, “Etnia e política: as crises de Ruanda e Burundi desde a independência”, Guerras mundiais e conflitos contemporâneos , n ° 181, primavera de 1996, p. 116. Ver também Claudine Vidal, “Situations ethniques au Rwanda”, em JeanLoup Amselle e Elikia M'Bokolo (ed.), Au coeur de l'ethnie , Paris, La Découverte, 1985, p. 167-184. 18 . René Lemarchand, Burundi. Ethnic Conflict and Genocide , Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 19 . Sobre essa complexa história dos refugiados ruandeses, ver em particular José Kagabo e Théo Karabayinga, “Refugiados, do exílio ao retorno armado”, Les Temps Modernes , n ° 583, julho-agosto de 1995, p. 63-90. 20 . Moderado por Omer Bartov, o programa de pesquisa interdisciplinar e internacional Borderlands. Etnia, identidade e violência na zona de quebra de impérios desde 1848 explora a origem e as manifestações da violência étnica, religiosa e social nas regiões fronteiriças da Europa Central, Oriental e Sudeste, o surgimento do nacionalismo no século XIX º século para o presente, através do Holocausto. O programa é coordenado pelo Instituto Watson de Estudos Internacionais, Brown University, EUA.
21 . Paul Garde, Les Balcãs , 2 nd ed., Paris, Flammarion, coll. “Dominos”, 1996, p. 57 22 . Ivo Andric, Le Pont sur la Drina , Paris, Belfond, 1994. 23 . Sobre o desenvolvimento dessa oposição política hutu e seu fracasso, ver Jordane Bertrand, Ruanda , op. cit. 24 . Criado em maio de 1990, Kangura apresenta em sua edição de dezembro um retrato de Mitterrand intitulado “Um verdadeiro amigo de Ruanda. E é uma desgraça que se descobrem verdadeiros amigos ”. É nesta mesma edição que “Os Dez Mandamentos do Bahutu” são expostos. Citado em Jean-Pierre Chrétien (ed.), Ruanda , op. cit. , p. 141 25 . Para uma análise do relatório da comissão parlamentar de inquérito sobre o papel da França em Ruanda, uma comissão criada em 1998 e presidida por Paul Quilès, ver Marc Le Pape, “Ruanda no Parlamento: inquérito sobre a tragédia de Ruanda”, Esprit , Maio de 1999, p. 81-92. Leremos ainda o ponto de vista mais incisivo do jornalista Patrick de Saint-Exupéry, convencido de que a França chegou a prestar assistência aos responsáveis pelo genocídio de abril a junho de 1994: Os indisponíveis. França em Ruanda , Paris, Éd. des Arènes, 2004. Mais recentemente, a associação Survie publicou o trabalho da comissão de inquérito de cidadãos sobre o envolvimento da França no genocídio em Ruanda: Laure Coret e François-Xavier Vershave, L' Horreur qui nous pris na cara: o Estado francês e o genocídio em Ruanda. Relatório da comissão de inquérito dos cidadãos , Paris, Khartala, 2005. 26 . Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 81 27 . Tribunal Criminal Internacional para a Ex-Jugoslávia, julgamento de Milosevic, audiência de 23 de outubro de 2003. 28 . Ernst Nolte, A Guerra Civil Europeia, 1917-1945 , Paris, Éd. des Syrtes, 2000. 29 . Assim, cap. IV, “As Estruturas dos Dois Estados de Parte Única”, contém uma seção que trata da “Autoimagem e a imagem dos outros na literatura e na propaganda”, p. 417-438. 30 . Um pouco como Milosevic e Tudjman tentam concordar em compartilhar a Bósnia-Herzegovina. 31 . Ian Kershaw, Hitler , op. cit. , p. 237. 32 . Entre os poucos pesquisadores que têm visão clara sobre a violência em curso, eu destacaria Joseph Krulic, “A crise do sistema político na Iugoslávia na década de 1980”, Revue française de science politique , vol. 39, n ° 3, junho de 1989, p. 245-258. 33 . Veja sobre este assunto as memórias do último embaixador americano na Iugoslávia, Warren Zimmermann, Origins of a Catastrophe: Yugoslavia and its Destroyers. America's Last Ambassador Tells What Happened and Why , New York, Times Books, 1996. 34 . Citado em Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 176-177.
35 . Jean-Pierre Chrétien, “O nó do genocídio de Ruanda”, Esprit , n ° 7, junho de 1999. 36 . Stephen Smith, “França-Ruanda: evirato colonial e abandono na região dos Grandes Lagos”, em André Guichaoua (ed.), Les Crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993-1994) , op. cit. , p. 452. 37 . Citado em Ian Kershaw, Hitler , op. cit. , p. 206. 38 . Citado em Dominique Vidal (ed.), Historiadores alemães releram o Shoah , Brussels, Complex, 2002, p. 43-45. 39 . Rita Thalmann e Emmanuel Feinermann, La Nuit de Cristal , Paris, Robert Laffont, 1972, p. 197. 40 . Ibid. , p. 227. 41 . Ibid. , p. 31-32. 42 . Veja sobre este assunto o que Paul Garde diz sobre ele, Vida e Morte da Iugoslávia , op. cit. 43 . Sidney Tarrow desenvolveu sua teoria principalmente a partir do estudo dos "anos de chumbo" na Itália no final da década de 1960. O objetivo é medir o grau de abertura e vulnerabilidade de um sistema político para mobilizações sociais. Para uma apresentação dessa abordagem, ver Erik Neveu, Sociologia dos movimentos sociais , Paris, La Découverte, 1996, p. 102-105. 44 . Martin Van Creveld, A Transformação da Guerra , Mônaco, Ed. du Rocher, 1998, p. 212. 45 . Joanna Bourke, An Intimate History of Killing. Face-to-Face Killing in Twentieth-Century Warfare , Londres, Granta Books, 1999; Annette Becker e Stéphane Audoin-Rouzeau, 14-18. Redescover the war , Paris, Gallimard, 2000. 46 . Tucídides, Les Guerres du Péloponnèse , Paris, Les Belles Lettres, 1964-1972, t. II, livro V, cap. 84-116. 47 . Por exemplo, Frank Chalk e Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide , op. cit. 48 . François René de Chateaubriand, Memórias do além-túmulo , Paris, biblioteca geral francesa. 1973, t. II, p. 102 49 . John Horne, "Populações Civis e Violência na Guerra", International Social Science Review , No. 174, dezembro de 2002. 50 . Id. E Alan Kramer, German Atrocities, 1914. A History of Denial , New Haven, Yale University Press, 2001. 51 . Erich Ludendorff, The Total War , Paris, Payot, 1936. 52 .
Ver Dominique David, “Douhet ou o último imaginário”, Stratégiques , 49, n ° 1, 1991, e seu artigo em Thierry de Monbrial e Jean Klein (ed.), Dicionário de estratégia , Paris, PUF, 2000, p. 194-195. 53 . John Horne, “Populações Civis e Violência na Guerra”, art. cit. Quando o duque de Brunswick, à frente de 80.000 homens, invadiu a França revolucionária (captura de Longwy, 22 de agosto de 1792), em uma Paris superaquecida, os padres refratários foram designados como traidores da "pátria em perigo" . Já declarados suspeitos pela lei de 27 de abril de 1792, alguns deles foram presos no final de agosto em Paris e nas províncias. Quando a notícia da captura de Verdun pelos prussianos (
1º de
setembro) chegou à
capital, a psicose coletiva da traição interna os designa como representantes do clero que se acredita vinculado por múltiplos interesses na nobreza que se prepara para esmagar a Revolução. Neste clima de psicose, alguns serão massacrados entre 2 e 5 de setembro na capital e nas províncias (Meaux, Provins). O balanço oficial contará 1.100 mortos, incluindo 260 eclesiásticos residentes em Paris (115 em Carmes, 67 em Saint-Firmin, 22 na Abadia). 54 . Omer Bartov, Exército de Hitler , op. cit. , p. 127. Durante a campanha russa, estima-se que os alemães capturaram mais de 5.700.000 soldados do Exército Vermelho, dos quais 3.300.000 foram mortos. 55 . Mirko Grmek, “Um memorial”, Le Figaro , 19 de dezembro de 1991. 56 . Após esta declaração de independência do Parlamento bósnio, os europeus argumentam que não é legitimamente aceitável sem a organização de um referendo. Ele é organizado em 28 de Fevereiro e 1 de st Março de 1992 e afirmou que a decisão. Em 6 de abril, a Bósnia então ingressou nas Nações Unidas, sendo reconhecida por vários estados, inclusive os Estados Unidos. 57 . Xavier Bougarel, Bósnia , op. cit. , p. 13 58 . Audiência de Gérard Prunier sobre os acontecimentos em Ruanda perante a comissão parlamentar do Senado da Bélgica, 11 de junho de 1997. 59 . Aceito a avaliação mínima proposta pela equipe da Human Rights Watch em 1999 em No Witness Should Survive , op. cit. , p. 22. Esta cifra é, entretanto, debatida e muitas vezes revisada em alta, alguns autores falando de 800.000 mortes, ou mesmo 1 milhão ou mais. Veja, por exemplo, as obras dos jornalistas Colette Braeckman, de Ruanda. História de um genocídio , Paris, Fayard, 1994, e Laure de Vulpian, Ruanda, um genocídio esquecido? Um julgamento para a memória , Bruxelas, Complexo, 2004. De fato, a avaliação do número de vítimas de assassinato em massa é freqüentemente objeto de controvérsia. Nesse caso, um dos problemas está na confiabilidade do censo de 1991 da população tutsi em Ruanda. 60 . Veja B. Useljeni, “Os“ traidores ”. Desertores e pacifistas na Sérvia de Milosevic”, Modern Times , nos 545-546, dezembro 1991.
janeiro de 1992, p. 311-320; Branka Magas e Ivo Zanic (eds.), The War in Croatia and Bosnia-Herzegovina, 1991-1995 , London, Frank Cass, 2001, p. 334. 61 . Ervin Staub, The Roots of Evil. The Origins of Genocide and Other Group Violence , Cambridge, Cambridge University Press, 1989. 62 .
Christian Ingrao, “Violência de guerra, violência genocida: os Einsatzgruppen ”, em Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker e Henry Rousso (ed.), La Violence de guerre , Bruxelles, Complexe, 2002. 63 . Citado por Christian Gerlach, On the Wannsee conference. Sobre a decisão de exterminar os judeus da Europa , Paris, Liana Levi, 1999, p. 53-54. 64 . Em março de 1999, os bombardeios da OTAN na Sérvia produziram tal situação. As investigações levadas a cabo pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia permitiram prová-lo a posteriori : assim, fica estabelecido que os sérvios executaram, assim que começaram, prisioneiros albaneses da prisão de Dubrava no Kosovo, em seguida, alegando que eles haviam morrido como resultado dos bombardeios americanos. 65 . Relatório citado por Yehuda Bauer, “Quando eles sabiam? » Midstream , n ° 4, 1968, p. 54-55 e 57-58. 66 . Walter Laqueur, O Segredo Terrificante. The "Final Solution" e informações sufocadas , Paris, Gallimard, 1981, p. 9 67 . Ibid. , p. 94-95. 68 . Renée Poznanski, “O que diabos nós sabíamos? », In Stéphane Courtois e Adam Rayski (ed.), Quem sabia o quê? O extermínio dos judeus (1941-1945) , Paris, La Découverte, 1987, p. 35 69 . Ibid. , p. 37 70 . Ver Léon Poliakov, Le Procès de Jerusalem , Paris, Calmann-Lévy, 1963, p. 252. 71 . David S. Wyman, O Abandono dos Judeus , Paris, Flammarion, 1987. 72 . Sobre a formação dessa expressão e seus usos por jornalistas e ativistas em países ocidentais, vamos ler a obra muito original da lingüista Alice Krieg-Planque, “Purificação Étnica”. Uma fórmula e sua história , Paris, CNRS, 2003. 73 . Roy Gutman, Bósnia. Testemunha do genocídio , Paris, Desclée de Brouwer, 1994. 74 . David Rieff, Matadouro. Bosnia and the Failure of the West , Nova York, Simon & Schuster, 1996. 75 . Pierre Hassner, “ The impuissances of the international community”, in Véronique Nahoum-Grappe (ed.), Vukovar-Sarajevo. A guerra na ex-Iugoslávia , Paris, Esprit, 1993, p. 86-118. 76 . Uma das melhores análises desta “lógica consensual da força” parece-me ter sido proposta por Thierry Tardy, La France et la gestion des conflitos ygoslaves (1991-1995) , Bruxelles, Bruylant, 1999. 77 .
Sobre as circunstâncias da criação deste tribunal, leremos o livro bem documentado de Pierre Hazan, La Justice face à la guerre , Paris, Stock, 2000. 78 . Nesse sentido, o título do livro de James Gow resume perfeitamente essa análise do triunfo da relutância da comunidade internacional: Triunfo da falta de vontade. Diplomacia Internacional e a Guerra Iugoslava , Londres, Hurst, 1997. 79 . Citado por Pierre Hassner, “Instituições, Estados, Sociedades, uma culpa compartilhada”, in Marie-Françoise Allain (ed.), L'ExYugoslavie en Europe. Da falência das democracias ao processo de paz , Paris-Montreal, L'Harmattan, 1997, p. 57-58. 80 . Os sérvios então acusaram os muçulmanos bósnios de terem se auto-bombardeado para criar um "evento de mídia" para provocar um movimento de simpatia internacional a seu favor. 81 . David Binder, “Anatomy of a Massacre”, Foreign Policy , No. 97, Winter 1994-1995, p. 70-78. 82 . Danielle Birck, "Television and Rwanda, or the desprogrammed genocide", Modern Times , n ° 583, julho-agosto de 1995, p. 181197. 83 . “Um dos membros da diretoria de informação me disse com sua franqueza de costume: 'Você evacua os franceses e depois volta, não estamos aí para tratar de negros. que matam uns aos outros; de qualquer maneira, ninguém se importa. Você vai lá, você só faz isso e não corre nenhum risco ”, ver Philippe Boisserie,“ Retour sur images ”, ibid. , p. 201 84 . Entre eles, sua esposa, Agathe, que se refugiou na França. 85 . Na França, nos dias 11 e 12 de abril, por exemplo, três artigos foram publicados por enviados especiais: Jean-Philippe Ceppi, “Kigali entregue à fúria dos assassinos hutus”, Liberation , 11 de abril; Renaud Girard, “Ruanda: viagem na estrada para o horror”, Le Figaro , 12 de abril; Jean Hélène, "Ruanda em chamas e sangue", Le Monde , 12 de abril. 86 . Este título do Le Monde é um exemplo do primeiro tipo de tratamento: "Forças governamentais e rebeldes competem pelo controle da capital" (14 de abril), enquanto os títulos de Libertação e Le Figaro (ver nota anterior) são representativos do segunda abordagem. 87 . Marc Le Pape, “Journalists in Rwanda. A história imediata de um genocídio ”, Modern Times , n ° 583, julho-agosto de 1995, p. 175 88 . Johanna Siméant, “O que vimos quando não conseguíamos ver nada? Sobre alguns aspectos da cobertura televisiva do genocídio em Ruanda por TF1 e França 2 (abril-junho de 1994) ”, comunicação na conferência internacional Enfrentando crises extremas , Universidade Lille-II, 21-22 de outubro de 2004. 89 . A mesma sequência é sempre representada. São imagens tiradas à distância com uma teleobjetiva: vemos cadáveres boiando no rio Kagera ou espalhados ao redor de casas saqueadas, feridos sobre os quais os assassinos se curvam com facões e / ou cassetetes.
90 . Citado por Linda Melvern, A People Betrayed. The Role of the West in Rwanda's Genocide , Cidade do Cabo-Londres, Zed BooksNaep, 2000, p. 190 91 . É necessário ler o livro do General Dallaire para medir o sentimento de desastre que então habitaria este homem, nesta situação em que estava condenado à impotência, experiência que mudou profundamente a vida pessoal deste homem. Oficial canadense. Veja General Romeo Dallaire, apertei a mão do diabo. The Bankruptcy of Mankind in Rwanda , Montreal, Libre Expression, 2003. 92 . Samantha Power, A Problem from Hell. America and the Age of Genocide , New Republic Book-Basic Books, 2002. 93 . Ibid. , p. 338 94 . Mas, especifica Samantha Power, não os jornalistas que transmitem o tema do ódio ancestral. 95 . Citado por Samantha Power, ibid. , p. 371-372. 96 . Ibid ., P. 196. 97 . Uso essa expressão de Rony Brauman em seu livro Ruanda. Um genocídio ao vivo , Paris, Arléa, 1995, embora seja discutível. Com efeito, o "direto" suporia equipes de rádio e televisão cobrindo o evento in loco, como em um evento esportivo internacional. Obviamente, este não é o caso de Ruanda. A ideia de "direto" pode, no entanto, ser apoiada, pois foi possível aos jornalistas da imprensa internacional que lá passaram noticiar rapidamente os massacres perpetrados em plena luz do dia, que se espalharam pelo mundo. país; e que esses relatórios eram veiculados com bastante regularidade pela mídia audiovisual. 98 . Edouard Balladur, “Operação“ Turquesa ”: coragem e dignidade”, Le Figaro , 18 de agosto de 2004. Neste artigo, o Sr. Balladur também afirma que se opõe firmemente a outro cenário: o de uma operação militar cuja o objetivo teria sido assumir o controle de Kigali e, portanto, impedir a vitória do RPF. 99 . Steven Livingston e Todd Eachus, “Crises Humanitárias e Política Externa dos EUA: Somália e o Efeito CNN Reconsiderado”, Comunicação Política , 12 (4), 1995, p. 413-429. 100 . Johanna Siméant, “O que vimos quando não vimos nada?…”, Art. cit. 101 . Pierre Hassner, Violência e Paz , t. II: La Terreur et l'Empire , Paris, Le Seuil, 2003, p. 69 102 . Nicholas J. Wheeler, Salvando Estranhos. Humanitarian Intervention and International Society , Oxford-New York, Oxford University Press, 2000. 103 . Richard Holbrooke, To End a War , Nova York, Modern Library, 1999, p. 11. Neste acidente, quatro soldados da paz franceses também foram mortos.
104 . Samantha Power, A Problem from Hell , op. cit. , p. 508.
CAPÍTULO IV A dinâmica do assassinato em massa Assim, o massacre resulta tanto da evolução interna de um país como de um contexto regional e internacional que o favorece. Mas quão concretamente ele pode ganhar impulso? Como isso se torna um verdadeiro assassinato em massa, composto de dezenas, centenas, até milhares de massacres mais ou menos importantes? A dúvida não é mais possível: uma política real de destruição organizada de um determinado grupo foi posta em prática. Esse processo de destruição, deve-se notar, costuma estar associado ao concomitante movimento de apropriação da riqueza desse grupo: assassinato em massa e furto em massa costumam andar de mãos dadas. Entramos então no olho do ciclone que assola um país, senão uma região inteira. Estamos neste período, mais ou menos breve, que com a passagem para o ato coletivo, evolui para o massacre em massa. As dinâmicas coletivas desse processo de violência extrema são certamente múltiplas: cada uma tem uma história particular, dependendo do país . A priori , tudo separa a grande Alemanha, já altamente industrializada, da pequena Ruanda, em grande parte rural. A diversidade de contextos históricos não impede, entretanto, a identificação de questões comuns muito esclarecedoras, que permitem a construção de uma sociologia política do assassinato em massa. Este capítulo examina a dinâmica, sob o ângulo dessas lógicas coletivas, a partir dos seguintes quatro eixos: O impulso central: nos casos estudados, notamos que o aumento dos massacres obviamente não resulta do acaso, de quem sabe o ódio ancestral tribal ou étnico, masde um desejo deliberado de implementar uma política de destruição. Surge, portanto, a questão da identificação dessa vontade central, que produz uma mudança de escala no massacre: de episódica passa a ser sistemática. Nos casos estudados, esse ímpeto decisivo vem das próprias pessoas que estão no auge do poder. Atores estatais e paraestatais: é daí que vem a mobilização dos principais agentes da violência do Estado (exército e polícia), e mesmo a constituição de atores específicos, criados para instigar e perpetrar massacres (milícias e outros grupos do assassinos especializados). Os primeiros encontram-se desviados de suas funções primárias, os segundos são especialmente treinados para este tipo de missão. Ambos serão responsáveis pela organização e execução da maioria dos massacres. Opinião pública e participação popular: os massacres são conhecidos do público? Eles conseguem sua adesão? A questão da opinião já foi abordada anteriormente. No período de execução dos massacres, é imprescindível voltar a ele para saber em que medida essa opinião adere ou não, fecha os olhos ou dá sinais de desaprovação. Porque uma coisa é iniciar o assassinato em massa, outra é conseguir despertar a adesão da sociedade a esse processo de violência. As morfologias da violência extrema: a convergência destes três fatores conduz a formas de violência extrema, das quais o massacre é a expressão mais espetacular. Essas “morfologias” do 1
massacre assumem várias formas (assassinatos no local ou após a deportação) e variam de acordo com os métodos de assassinato utilizados (fogo, fuzilamento, gás, etc.). Outras variáveis ainda devem ser levadas em consideração, como a geografia dos territórios onde os massacres são cometidos, as iniciativas que os atores locais podem tomar, a escala da guerra, etc. Esses cenários não são escritos com antecedência. Ao nível do ímpeto dado por quem decide e organiza o massacre, pode haver "jogo" - intervalos ou aceleração súbita - dependendo da evolução da guerra e do contexto internacional. Pode haver ainda "brincadeira" entre os atores designados, alguns podendo recusar-se a participar dos assassinatos ou, ao contrário, antecipar ordens, "brincadeira" também do lado da opinião pública que pode acabar mostrando sua desaprovação ", jogo »ainda no chão porque nada acontececomo esperado e que as reações das vítimas não foram as esperadas, etc. Em suma, se o processo de destruição está ganhando impulso, não está totalmente determinado. Não está realmente concluído até a morte das vítimas designadas. Porém, quanto mais esse processo progride sem encontrar freios, mais difícil se torna pará-lo.
Do processo de tomada de decisão e dos responsáveis O massacre só pode se espalhar em grande escala se uma autoridade central o encorajar mais ou menos abertamente. Pode-se argumentar que um pogrom, um motim, um linchamento é uma forma de violência espontânea por um grupo ou multidão. Embora os estudos empíricos sobre tais fenômenos, muitas vezes, atestem que foram elaborados por líderes . A ideia de "violência espontânea das massas" é na maioria das vezes apenas um argumento de propaganda, usado por autoridades que procuram esconder sua responsabilidade primária na eclosão de tal violência. Não há dúvida, nos casos que aqui nos interessam, que vai se formando gradativamente uma vontade central para destruir parcial ou totalmente uma ou mais populações definidas como hostis, inúteis, nocivas, etc. Quem será o portador desta empresa de assassinato em massa? Um pequeno grupo de homens (raramente há mulheres entre eles) que se pode dizer que estão no centro do projeto de morte coletiva, tarefa que muitas vezes definem como "histórica", que julgam deste ponto de vista. ao mesmo tempo necessária e inspiradora, em nome do seu povo, da sua “raça”, da sua visão política sobre o futuro do seu país. Para a Alemanha nazista, além de Adolf Hitler, citemos os nomes de Hermann Göring, Heinrich Himmler, Reinhardt Heydrich. Para a ex-Iugoslávia, os de Slobodan Milosevic, Vojslav Seselj, Radovan Karadzic e Biljana Plavsic (líderes dos sérvios da Bósnia), MatteBoban. Em Ruanda, conhecemos menos os de Théodore Sindikubwabo, presidente do governo provisório , Jean Kambanda, primeiro-ministro do mesmo governo, os coronéis Théoneste Bagosora e Augustin Bizimungu. Como, então, esses homens passam a cooperar para organizar o que pode ser chamado de política de massacre? Como eles estão envolvidos em sua implementação prática? Trabalhos especializados (especialmente biografias) tentam entender isso, embora as respectivas histórias desses atores muitas vezes ainda retenham muita sombra. Independentemente de seus respectivos papéis, o que importa é que o poder desses líderes é geralmente visto como legítimo aos olhos de seu próprio povo. De fato, a legitimidade do poder de um Hitler ou de um Milosevic não foi contestada, em seus respectivos países, à época dos fatos; nem o do governo provisório ruandês, formado após a morte do presidente Habyarimana, que nenhuma grande potência questionou na 2
3
época. Porém, é por possuírem os atributos de legitimidade que seus subordinados, mesmo dentro do aparato estatal, concordam em se colocar a seu serviço, inclusive para implementar esse empreendimento da morte. (mesmo que possam aparecer elementos refratários a esta política) . Isso significa que a adesão do maior número à sua autoridade é suficiente para ordenar o massacre, sempre e em toda parte, da maneira como um general comanda um exército? Certamente não. A dinâmica do desenvolvimento do assassinato em massa é flutuante: eles surgem de um grande número de fatores contextuais, como este capítulo gostaria de sugerir. 4
Alemanha nazista: a preeminência de Hitler No entanto, sem esta autoridade central e legítima que impulsiona e organiza o massacre, é difícil ver como poderia assumir em grande escala. O trabalho mais recente sobre a Alemanha nazista não diz mais nada, destacando a função proeminente do Führer no desenvolvimento de medidas cada vez mais radicais contra os judeus. No entanto, não imaginemos o estado nazista como uma máquina muito hierárquica que vai do ditador ao menor nível do indivíduo. O estado nazista, longe de ser um sistema perfeitamente coerente, parece um conglomerado emaranhado e instável de administrações em proliferação. Recusando-se a envolver-se na gestão administrativa, o Führer constantemente delega seus poderes, na maioria das vezes por meio de ordens verbais, em termos bastante vagos, que deixam espaço para interpretação e para a iniciativa de seus subordinados. Ao mesmo tempo, Hitler afirma seu desejo feroz de se libertar de todas as leis, sejam do estado ou mesmo de seu partido. Como resultado, muitas administrações se veem colocadas em competição umas com as outras para melhor atender às “expectativas” do Führer, que continua sendo a pedra angular do sistema. Assim, até 1939, a política anti-semita do regime "ziguezagueia" por causa das interações entre vários centros de poder. No entanto, mantém uma direção clara: faça os judeus saírem e se apropriem de suas propriedades. Como assinalado o historiador inglês Marc Roseman é de fato Hitler que, por meio de suas intervenções esporádicas, acelera ou freia a perseguição . Com a ocupação da Polônia, essa política anti-semita piorou drasticamente. Além disso, é apenas uma das expressões da violência do poder de Hitler, que atinge simultaneamente muitas vítimas além dos judeus. Na verdade, o contexto de guerra ofereceu aos nazistas mais determinados novas possibilidades de concretizar suas aspirações profundas, seja para melhorar a "raça", seja para conquistar um "espaço vital" no Oriente. Em ambos os casos, Hitler ainda é aquele que empurra ou autoriza as medidas mais radicais. Em matéria de aperfeiçoamento da "raça", ele secretamente ordena a assassinato de doentes mentais e enfermos (medida já anunciada no Mein Kampf ), sendo seu médico particular, Karl Brandt, um dos gerentes de projeto deste programa com Philip Bouhler, diretor de sua chancelaria e Reichsleiter . Extremamente raro, Hitler deu uma declaração escrita a esse respeito, datada de setembro de 1939, ou seja, no mesmo dia do ataque à Polônia, como se a guerra abrisse agora com grande possibilidade de massacre. Pela primeira vez, o regime nazista se permitiu matar “racionalmente” um grupo definido de sua própria população. Após vários testes, é o método de matar por gás (monóxido de carbono) que é mantido, sendo a primeira experiência conclusiva realizada em janeiro de 1940 em cerca de quinze pacientes, na antiga prisão de Brandenburg. Quando se trata de conquistar "espaço vital", é a população polonesa, judia ou não judia, que paga imediatamente o preço. Em 22 de agosto de 1939, Hitler declarou inequivocamente a seus 5
1º de
generais que "o objetivo [da campanha polonesa] é liquidar as forças vivas, e não alcançar uma determinada linha ". A ocupação da Polônia, muito severa desde o início, levou oficiais alemães a denunciar os abusos cometidos por alguns de seus homens. Sem dúvida, ainda é possível limitar o desenvolvimento desta violência contra os civis, apelando para que os soldados sejam mais contidos. Mas Hitler, alertado, reagiu anistiando todos os que cometeram esses abusos e retirando do exército a administração do país. Oficiais superiores, como o comandante von Küchler, que se opôs veementemente a esses abusos, devem se curvar. Ou seja, é o próprio Chefe de Estado quem garante a impunidade aos militares, o que leva irresistivelmente a Wehrmacht a se engajar cada vez mais na perpetração de massacres. Esta atitude do Führer é indicativa da sua predisposição pessoal: quando se depara com um conflito a ser resolvido, opta pela solução mais radical, ou seja, a mais brutal. É como se os impulsos do Führer consistissem em ultrapassar os limites, por etapas, e quebrar as proibições mais fundamentais. Assim, ele incentiva o que se poderia chamar de clima de impunidade de pensamento , que os historiadores alemães Götz Aly e Suzanne Heim mostraram também caracterizar vários especialistas.e tecnocratas do regime . Na verdade, economistas, demógrafos e outros estatísticos não hesitam em construir planos grandiosos para construir uma Europa germânica e “moderna”, defendendo deslocamentos maciços de populações, até mesmo seu declínio. Estes especialistas sentem-se tanto mais encorajados a propor projetos como Hitler está convencido de que, para estabelecer a supremacia da "raça ariana", é necessário perturbar as "relações etnográficas" da Europa. Assim, a partir de 7 de outubro de 1939, nomeou Heinrich Himmler Reich comissário para a consolidação da Germanidade. Seu papel é repatriar os alemães que vivem fora do Reich para os territórios poloneses recentemente conquistados, o que envolve o reagrupamento ou expulsão das populações indesejáveis que residem nesses territórios, começando pelos judeus. A ideia de colocá-los em uma "reserva", perto de Lublin, foi rapidamente abandonada. Guetos foram criados, temporariamente, para isolá-los do resto da população, sendo o primeiro formado perto de Lodz em 28 de setembro de 1939. Também começamos a deportar os judeus do Grande Reich de trem para esses territórios poloneses, concebidos como um despejar. Simultaneamente, Himmler trouxe os novos colonos alemães para a Polônia. Mais cedo ou mais tarde, surgirá um problema de superpopulação. Em 12 de março de 1940, Hitler declarou que a questão judaica era uma questão de espaço e que não havia o suficiente. Na verdade, em 15 de novembro de 1940, "apenas" 5.000 judeus de Praga e Viena, bem como 2.800 ciganos, haviam sido deportados. Se a Polônia nem mesmo é capaz de "absorver" os judeus da Alemanha e, menos ainda, os seus próprios, o que pode ser feito com eles? Qual o destino desses 2 milhões de judeus repentinamente caídos sob o domínio nazista? O plano extravagante de mandá-los para Madagascar foi seriamente considerado pelos serviços de Himmler em 1940, após a derrota da França. Mas a impossibilidade de derrotar a Grã-Bretanha militarmente (e, portanto, de assegurar o controle dos mares) torna esse projeto ainda mais irreal. De repente, a solução temporária dos guetos se prolonga e as condições de vida tornam-se tãoespantoso que a taxa de mortalidade continue a aumentar. Esta situação provavelmente não pode durar, especialmente porque os guetos estão se tornando grandes centros de propagação do tifo, do qual os alemães têm muito medo. Medidas ainda mais radicais estão começando a ser consideradas, embora a guerra contra a União Soviética ainda não tenha começado. 6
7
Ruanda: uma chamada pública para o genocídio Em Ruanda, vários fatos ou documentos atestam que os massacres de abril de 1994 foram preparados durante os meses anteriores por um pequeno grupo próximo ao presidente Habyarimana. Ele mesmo é parte disso? Ou apenas sua esposa e vários membros do Akazu ? De qualquer forma, um grupo formado por militares, líderes políticos, intelectuais e alguns empresários passou a acreditar, de 1991 a 1992, que a única forma de impedir uma vitória total do RPF era mobilizando a população. por assassinatos em grande escala de tutsis. Em 1992, alguns identificaram uma “Rede Zero”, operando secretamente à sombra do poder, que decide sobre o assassinato de opositores políticos, ou mesmo ordena massacres . E o coronel Déogratias Nsabimana, chefe do Estado-Maior, já não havia enviado aos seus subordinados, em 21 de setembro de 1992, um memorando secreto em que os tutsis eram definidos como inimigos do interior? O texto fazia parte do relatório elaborado por uma dezena de oficiais que, em dezembro de 1991, tinham a tarefa de estudar as formas de derrotar o inimigo nos planos militar, midiático e político . Nesse documento, os soldados, portanto, fizeram sua propaganda destilada pelo extréHutu mistes. Assim, no final de 1992, foram elaboradas listas de “suspeitos” tutsis e oponentes hutus: estavam entre os primeiros inimigos a serem detidos com prioridade (a serem mortos?), Em caso de crise. Além da necessidade de combater militarmente o inimigo interno, alguns também veem a vantagem de envolver a população civil mais diretamente nessa luta. Poucos dias após o ataque da RPF, o próprio Presidente Habyarimana defendeu, durante um discurso de rádio, a criação de uma força de autodefesa, equipada com armas brancas em vez de rifles . Outras vozes se manifestaram a favor dessa força de autodefesa civil, incluindo a do intelectual Ferdinand Nahimana, professor da Universidade de Butare, que em breve se tornará um propagandista eminente nas ondas de rádio da Rádio des Mille Collines. Outro intelectual, Léon Mugesera, também fez um discurso famoso neste período. Em 21 de novembro de 1992, durante um comício do partido do presidente, o MNRD, ele anunciou que, para reagir à ameaça de invasão do RPF, a única solução era jogar os tutsis no rio Nyabarongo. Ele conclama a população a se levantar e propõe outra versão do Evangelho: “Se te derem uma bofetada, tu retribuirás duas”, e acaba comparando os tutsis a vermes ou cobras. . Agora todos sabem o que fazer neste país com as cobras: “Saiba que aquele cujo pescoço você não vai cortar, é ele mesmo que vai cortá-lo”, conclui . Quando exatamente os apoiadores desta força de autodefesa civil começam a preparála? A partir de 1 fevereiro 1993 a agenda do coronel Théoneste Bagosora, Chefe do ministro da Defesa, no esboçosignificando um verdadeiro programa de treinamento para civis - de preferência "homens casados", ele especifica (eles estarão motivados para lutar) - supervisionado por soldados. São fornecidos detalhes sobre a natureza do armamento a ser fornecido a esses homens . Mas a questão é: quando esse plano será implementado? Ao mesmo tempo, as negociações de Arusha começaram, supostamente levando a um acordo de paz entre o RPF e o governo de Ruanda. Entre esta solução política para a crise através da negociação e esta outra solução que visa armar o povo contra a ameaça tutsi, qual vai prevalecer? Durante 1993, Bagosora e seus amigos prepararam seu próprio cenário “popular militar”. Eles estão mais inclinados do que o RPF reiniciou as hostilidades em fevereiro de 1993, matando várias centenas de civis em Ruhengeri e cerca de . Grupos de direitos humanos então apresentaram acusações credíveis contra o RPF, alegando que matou, durante este período, pelo menos oito 8
9
10
11
12
st
13
14
funcionários do governo de Ruanda e suas famílias, matou membros do partido político do presidente e pelo menos duzentos outros civis . Os extremistas hutus têm um belo jogo para dizer que o RPF não tem intenção de negociar um acordo de paz, mas na verdade busca conquistar o poder para si. Portanto, a seu ver, torna-se ainda mais urgente preparar uma resistência popular. Acreditando que as armas de fogo são caras demais para serem distribuídas em grande escala, eles defendem a compra a granel de facões, ferramenta agrícola usada principalmente para cortar árvores e arbustos. Os números o comprovam: em 1993, o volume de importação desses facões era anormalmente alto. De janeiro de 1993 a março de 1994, 581.000 facões chegaram a Ruanda, o dobro do que costumava ser pedido a cada ano. No final de 1993, estima-se que esses estoques de facões novos já estivessem espalhados pelo país: havia um disponível para um em cada três homens. Além disso, 85 toneladas de munições (como granadas) também são distribuídas no país . Durante o mesmo período, nóstambém observa um aumento excepcional na importação de rádios e baterias. A assinatura dos Acordos de Arusha em agosto de 1993 poderia ter trazido a paz, no entanto, na medida em que foram baseados na partilha de poder entre todas as partes em conflito. Mas esses acordos permaneceram muito frágeis (cf. capítulo III ). Poucos meses depois, o assassinato do presidente hutu de Ruanda em 6 de abril de 1994 é o fato que prova que devemos agir agora. Mas a população seguirá as instruções? Será que os hutus realmente começarão a eliminar não apenas os tutsis, mas também aqueles que, embora hutu, mostram moderação? Este é o cerne da tragédia histórica que Ruanda vive após o assassinato do presidente em 7 de abril de 1994. É certo que as coroações foram preparadas centralmente por um grupo próximo ao poder. Ainda é certo que esse grupo se beneficia de inúmeras cumplicidades no aparato estatal. Mas esse grupo ainda carece de legitimidade política que lhe permitiria conquistar o apoio da população. Ele estava pronto para agir - em caso afirmativo, quando? - se não tivesse havido o assassinato do presidente ruandês? Em todo caso, é graças ao seu desaparecimento que este grupo se outorga a legitimidade política que lhe faltava. Aproveitando o vácuo criado pela morte do presidente, ele imediatamente formou um governo interino, cujo presidente passou a ser Théodore Sindikubwabo e o primeiro-ministro Jean Kambanda, dois notórios extremistas hutus. Explorando o choque emocional causado pelo ataque, eles conclamam a população a se defender do Inyenzi . Um símbolo: o próprio filho do primeiro presidente de Ruanda, Mbonyumutwa Kayibanda, falava no rádio com palavras de rara violência, acusando os tutsis de quererem cometer genocídio contra os hutus : “Eles vão exterminar, exterminar, exterminar , exterminar. Eles vão exterminar até ficarem sozinhos neste país para que este poder que seus pais mantiveram por quatrocentos anos, eles, eles o manterão por mil anos ! " A maioria dos ruandeses não tem razão para duvidar de que representa a nova voz oficial do poder; tanto mais que a principal mídia, e acima de tudo, a Rádio-Televisão des Mille Collines, clama diretamente por uma caça à morte contra os tutsis. De certa forma, as novas autoridades políticas decretaram a mobilização geral do povo armado para defender o regime contra o Inyenzi . Na verdade, este chamado para a mobilização dos Hutus não é nada mais do que um extraordinário chamado público para cometer assassinatos em massa contra uma minoria e seus aliados, designados como o inimigo mortal. 15
16
17
Iugoslávia: o deslocamento do sistema federal
Na Iugoslávia, a situação é completamente diferente. No entanto, o papel preeminente de um Slobodan Milosevic na mudança para a guerra, para assustar as populações indesejáveis, não está em dúvida. Devemos, entretanto, considerar que este é o único responsável pelo empreendimento de “limpeza étnica” dos anos 1990? Seria uma visão esquemática demais. Um ator político internacional, mesmo um Chefe de Estado, necessariamente evolui em um ambiente complexo que ele nunca poderá dominar totalmente. Até que ponto sua política é produto de restrições sobre as quais tem pouco controle? Ou é poderoso o suficiente para usar contingências históricas a seu favor? Sem dúvida, um Adolf Hitler conseguiu em poucos anos "forçar a História" em sua direção, para fazer da Alemanha a primeira potência dominante da Europa, mesmo que isso significasse colocar o mundo inteiro na guerra. Mas para um Slobodan Milosevic, o julgamento certamente deve ser qualificado. No final da década de 1980, os nacionalistas sérvios não foram os únicos a puxar na direção do “desmantelamento” da Iugoslávia. Eslovenos e croatas também desejam sua independência. Poderíamos dizer que existe então um “efeito sistema”, de natureza centrífuga, que o direciona para a sua desintegração, como diversos autores têm teorizado . No contexto do colapso do comunismo na Europa, éo próprio sistema federal iugoslavo construído por Tito que não resiste às pressões nacionalistas. Afinal, os primeiros a manifestar as suas aspirações nacionais, uma vez desaparecidas, são os albaneses do Kosovo em 1981, o que, em resposta, conduziu a paralelamente à crescente mobilização dos sérvios na província . Considerar Milosevic como aquele que guia remotamente a vontade de mudança nos bastidores, falando em Lubljana, Zagreb ou Pristina, equivaleria, portanto, a dar ao personagem uma representação megalomaníaca. Não imaginemos este como um ditador comandando com o bastão todas as forças políticas da Sérvia e das outras nacionalidades. Claro, ele herda as estruturas da ditadura titoísta e sabe tocá-las com habilidade, como um bom apparatchik comunista. Mas muitos testemunhos, inclusive durante seu julgamento em Haia, atestam que ele exerce seu poder de maneira bastante solitária, na companhia e sob a influência de sua esposa. Para atingir os seus fins, “Milosevic surge sobretudo como um grande manipulador, deixando-se levar pelas correntes e sabendo usar uma ou outra no momento oportuno, com o único propósito de fortalecer o seu poder ”. Além disso, quando assumiu o controle da Liga dos Comunistas da Sérvia em 1987, Milosevic ainda pretendia agir dentro da estrutura da unidade iugoslava. Mas, muito rapidamente, o contexto internacional radicalmente novo o encorajou a implementar uma nova linha política, que não foi premeditada. Para Joseph Krulic, tudo então acontece como se o sistema político iugoslavo fosse incapaz de gerenciar essas turbulências em cascata. Baseia-se na teoria de David Easton, que considera que um sistema político muito solicitado por solicitações (input) não pode mais fornecer respostas adequadas (output) . Essa "estagnação" foi tanto mais possível no caso da Sérvia quanto "a cultura política herdada não forneceu as categorias que tornam a mudança legível e suportável e uma parte da população se sentiu ameaçada por essa mudança " . Em consequênciaConseqüentemente, as oposições entre sérvios, eslovenos e croatas provavelmente se tornaram irreconciliáveis em 1990, e o desmembramento da Iugoslávia, inevitável. Mas a guerra deveria existir para tudo isso? Afinal, a retirada da Eslovênia e da Croácia da federação poderia ter ocorrido sem problemas, desde que não colocassem em questão suas respectivas fronteiras. A gestão política pacífica dessas separações não era impossível. Mas o mesmo não poderia mais ser o caso com a Sérvia, já que Milosevic, apoiando-se nas reivindicações dos nacionalistas sérvios, pretendia refazer suas fronteiras para permitir que todos os sérvios vivessem em um estado. É por isso que a transição 18
19
20
21
política se transformou em uma transição de guerra, para usar expressão de Marina Glamocak . Milosevic, portanto, contribuiu para transformar a crise política em guerra, uma guerra de “redistribuição étnica” de territórios. Mas, em 1990, ele tem um plano já definido e preciso? O cientista político inglês James Gow prefere falar de um projeto adaptável e flexível , mas não de um plano único e detalhado sobre como atingir os objetivos traçados, ou seja, tomar vários territórios e anexá-los à Sérvia, vai unir todos os sérvios e territórios vazios, como os elementos não-sérvios do Kosovo: "Os planos iam e vinham de acordo com as necessidades e oportunidades, mas o projeto ainda tinha . Assim, Milosevic considera importante apoiar em 1990 a rebelião dos nacionalistas sérvios da Croácia contra Tudjman. O historiador americano Tim Judah relata as ações de Belgrado nessa direção, que se traduzem concretamente na entrega de armas aos líderes separatistas . Mas Judah observa um ponto interessante: Milosevic pode não ter realmente desejado executar seu plano. Talvez ele acreditasse que os croatas ficariam com medo e decidiriam ficar na federação. O que é certo é que Milosevic considerou que armar os sérvios que vivem fora da Sérvia era uma boa ideia, com vista a construir um Estado sérvio alargado. Por sua vez, Franjo Tudjman procura, ao mesmo tempo, dotar-se das suas próprias forças policiais e militares, com a própria perspectiva de formar um Estado croata. Segundo Marina Glamocak, as importações de armas da Espanha via Áustria, para depois serem transportadas para a Eslovênia e a Croácia (por meio das redes do Opus Dei ), começaram em julho de 1990 . Ele também enfatiza que os destacamentos (paramilitares) do partido Comunidade Democrática Croata (HDZ) em Tudjman entraram em ação durante o mesmo período. Ele também está se preparando para a guerra? De qualquer forma, foi a declaração de independência de Zagreb em 25 de junho de 1991 que radicalizou a crescente agitação dos nacionalistas sérvios durante o verão, especialmente em Krajina. Na cidade de Knin, por exemplo, a polícia se recusa a usar o novo uniforme croata. E os sérvios percebem como uma verdadeira provocação o facto de a Croácia retomar como símbolo nacional a bandeira quadriculada vermelha e branca de triste memória . Os confrontos entre sérvios e croatas continuaram a aumentar. A guerra não está longe. a
22
23
24
25
26
Procurando a decisão? Em suma, em um contexto em que o nacionalismo de uns alimenta o nacionalismo de outros, será mesmo possível isolar o momento preciso da decisão, por meio do qual a crise se transforma em guerra e massacre? Sua recusa comum de qualquer compromisso precipita a passagem ao ato. O entrelaçamento da peça dos atores é tal que eles acabam se parecendo. E é, em última análise, desse par conflitante que surge a violência, mesmo que um dos dois seja mais rápido em atacar o outro. Tudo isso atesta a dificuldade de definir, entre os seus principais responsáveis, o momento decisivo da passagem ao ato do massacre. Se Hitler incessantemente estimula e "recarrega" a violência de seus homens, então qual é o impulso mais definidor entre a cascata de medidas que ele toma contra os judeus ao longo de seus anos no poder? Era 31 de julho de 1941, quando Göringordenou que Heydrich "tomasse todas as medidas preparatórias [...] necessárias para obter uma solução total para a questão judaica na zona de influência alemã na Europa"? Ou em 18 de outubro de 1941, quando qualquer emigração de judeus do Reich foi proibida? Foi em meados de dezembro de 1941, logo depois que os Estados Unidos entraram na guerra? Ou em 20 de janeiro de 1942, quando Heydrich reuniu em Berlim, no distrito de Wannsee, quinze altos funcionários
nazistas para decidir o destino de judeus europeus e casais mistos? É ainda mais tarde? Os historiadores apresentam interpretações nitidamente diferentes (voltaremos a isso). Observe que o caso de Ruanda levanta a mesma discussão. Deveríamos, por exemplo, considerar que a virada para os massacres de 1994 já se deu no final de 1992, devido ao reagrupamento político de todos aqueles que constituirão o Poder Hutu ? Ou deveríamos antes considerar que é a preparação do plano de defesa civil, na primavera de 1993, que constitui mais concretamente esse ponto de inflexão? A menos que tenha sido antes de outubro de 1993, após o assassinato do Presidente do Burundi ? Para remover tais ambigüidades, pode-se certamente referir-se aos discursos públicos das principais lideranças. Seu ponto é de fato de considerável importância, uma vez que eles não hesitam em apelar à violência aberta contra um grupo, especialmente por serem líderes legítimos. Mas seria errado tomar tais discursos públicos como um indicador de que a decisão de matar foi tomada. Quando o líder dos sérvios da Bósnia, Radovan Karadzic, declarou em outubro de 1991 na tribuna do Parlamento da Bósnia que os muçulmanos, ao optar pela independência, correriam o risco de desaparecer, ele se referiu claramente a um projeto de "limpeza étnica". Se não for de genocídio. Mas isso não significa de forma alguma que este projeto esteja pronto para ser implementado neste preciso momento. O mesmo pode ser dito do famoso discurso de Adolf Hitler no Reichstag em 30 de janeiro.1939, durante o qual ele profetiza a “aniquilação da raça judia na Europa”. Deduzir daí que a "Solução Final" já está programada, e ainda mais implementada, seria um erro grosseiro de interpretação histórica. No preciso momento em que se expressam, tais declarações não podem ser tomadas "literalmente": a intenção que formulam publicamente não tem tradução tangível nos fatos. O recurso à noção de "intenção", tão familiar ao jurista, coloca, aliás, um problema para o historiador ou o sociólogo. Para qualificar o crime, o juiz sempre busca apurar qual foi a intenção do criminoso: ele realmente teve a ideia de seu assassinato? Este foi um premeditado ? Certamente podemos falar da intenção de uma pessoa de descrever seu estado de espírito vis-à-vis uma ação particular em um determinado momento. Mas aplicar essa noção ao funcionamento de uma estrutura de poder é problemático : isso equivale a “psicologizar” seu funcionamento, ao passo que é sempre melhor analisar uma política e descrever os meios organizacionais implementados para alcançá-la. Mais ainda, a noção de intenção implica uma visão simplista da passagem para o ato: haveria uma sequência pensamento-ação, indo desde o projeto de destruição de uma comunidade até sua concretização; como se se tratasse de formular a ideia, de armar um projeto para esse fim e de colocá-lo em prática. Tal abordagem obscurece imediatamente o enigma fundamental apresentado pelo assassinato em massa: o de sua realização concreta. Abordar a implementação dos processos de destruição intencional de uma população civil é, portanto, arriscar-se a perder toda a complexidade do desenvolvimento de tais fenômenos. Portanto, dir-se-á, é melhor limitarmo-nos aos arquivos, às notas e aos documentos que provam inequivocamente que as decisões foram tomadas. tomadas, instruções dadas, etc. Mas essa investigação está longe de ser possível. Na verdade, em muitos casos de massacres, os documentos escritos que datam e autenticam inequivocamente a decisão de agir são raros, se não inexistentes. E por um bom motivo: quem se responsabiliza por isso não quer deixar provas. Depois dos massacres, eles até procuram apagar completamente os vestígios de seus crimes, como o de Srebrenica. Isso resultou em muitos debates sobre a intenção “real” dos tomadores de decisão, na data presumida da decisão e, naturalmente, sobre a negação a posteriori da realidade dos fatos. O caso dos massacres dos armênios em 1915-1916 é exemplar a esse respeito . No entanto, este 27
28
29
30
estudo dos arquivos revelou-se particularmente fecundo na análise do extermínio dos judeus europeus, tendo a administração alemã produzido um certo número de notas e documentos relativos à “Solução Final”. Raul Hilberg foi um dos primeiros a fazer uma operação notável . No entanto, essa profusão de documentos não permitiu identificar o momento em que o genocídio foi decidido, especialmente porque ninguém até hoje encontrou uma ordem escrita de Hitler nesse sentido. Certamente, em sua obra mais recente, Christopher Browning argumentou que o momento chave na decisão da "Solução Final" seria no início da guerra contra a União Soviética, exatamente entre julho e outubro de 1941. Nesse período. , Hitler parece ter alcançado uma “euforia da vitória”, por causa dos sucessos da Wehrmacht, que progride rapidamente no território soviético . É porque ele então seria levado por esse ímpeto da "guerra de destruição militar-racial" que o Führer ordena a Himmler e Heydrich o que se poderia chamar de um "estudo de viabilidade" da extermina.dos judeus (31 de julho). No início de outubro, após a captura de Kiev (19 de setembro), suas propostas foram aprovadas e uma cascata de medidas se seguiu, incluindo a cessação de toda emigração de judeus (18 de outubro), as primeiras deportações de judeus do Reich, o escolha dos locais de Chelmno e Belzec (para extermínio de gás), etc. Então Browning afirma que os meses de novembro de 1941 a março de 1942 são aqueles da implementação progressiva (implementação) da "Solução Final". Porém, a partir das mesmas datas, o historiador suíço Philippe Burrin propôs outra interpretação que enraíza o processo de "decisão final" não na vitória, mas sim na perspectiva de uma possível derrota dos exércitos alemães, que a partir de meados de outubro de 1941 pisoteava cada vez mais a frente russa. Como Hitler sempre considerou os judeus responsáveis pela guerra, eles agora tinham que pagar um alto preço pelo derramamento de sangue alemão. Ao decidir seu extermínio, o Führer os teria feito expiar antecipadamente o desastre de uma possível derrota militar. Por meio da “de alguma forma a morte sacrificial dos judeus”, diz Burrin, Hitler enrijeceu fanaticamente para alcançar a vitória ou lutar até a aniquilação ” . O historiador alemão Christian Gerlach ofereceu mais uma leitura desse período, à luz de novos documentos descobertos nos arquivos soviéticos. Se ele concorda com Browning e Burrin em considerar que o destino dos judeus soviéticos foi selado no outono de 1941, ele considera que ainda é necessário explicar quando foi tomada a decisão de matar todos os judeus em 'Europa. Para Gerlach, foi logo depois que os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor (6 de dezembro). No contexto de uma guerra que havia se tornado verdadeiramente global, Hitler estaria doravante determinado a cumprir plenamente sua "profecia" de 1939. Gerlach se baseia neste sentido em uma nota do diário de Himmler datado de 18 de dezembro de 1941 e oferece uma análise penetrante do protocolo da famosa conferência de Wannsee, cujo valor historiográfico é de fato excepcional (um dos raros documentos escritos da administração nazista que atesta a existência de um plano pan-europeude "resolução" da "questão judaica", incluindo judeus residentes na Inglaterra) . Mas, para o historiador francês Florent Brayard, a conferência de Wannsee ainda não marca o fim do processo de tomada de decisão. Baseado na obra de Peter Longerish, ele acredita que, na realidade, só em maio e até junho de 1942 o destino de todos os judeus europeus foi decidido. Brayard se refere a um discurso de Himmler, proferido em 9 de junho (por ocasião do funeral de Heydrich, assassinado poucos dias antes em Praga), para afirmar que Hitler acaba de decidir erradicar todos os judeus em em todo o continente. Além disso, Himmler estabelece um prazo: o "programa" deve ser concluído em um ano . Na verdade, no final do verão de 1943, a meta da 31
32
33
34
35
liderança nazista estava praticamente alcançada, pelo menos em grande parte da Europa que caiu sob a administração direta de Berlim. Assim, esses diferentes autores fazem uma leitura erudita dos discursos, notas e relatórios produzidos pela administração alemã (dos quais apenas uma apresentação resumida foi feita aqui). Mas, no final, eles chegam a conclusões significativamente diferentes, senão divergentes, que não destacam o mesmo "momento" no processo de tomada de decisão. Em busca daquele momento preciso em que A decisão teria sido tomada , suas análises parecem muito influenciadas pelo valor que atribuem a um documento (por exemplo, para Gerlach, o diário de Himmler de 18 de dezembro de 1941; para Brayard, discurso de Himmler de 9 de junho de 1942 etc.). O significado deste texto pesa sobre a construção de seu raciocínio. Mas esse tipo de exercício não é em vão? Parece de fato bastanteartificial querer absolutamente isolar um momento, um evento, como o ponto de inflexão determinante. Mais do que uma decisão única, é melhor falar de um processo de decisão , de uma cadeia de medidas que, em circunstâncias sempre mutáveis, evolui para uma "solução" cada vez mais brutal. Em suma, uma decisão acaba demandando outra, e esta, tomada em um novo contexto, parece "natural" em relação à anterior: um efeito cascata "empurra" para uma medida nova e ainda mais radical. Assim, a dinâmica que leva ao assassinato em massa é construída por efeitos cumulativos, sem que essas diferentes etapas tenham sido necessariamente programadas. O sociólogo Michael Mann propôs uma abordagem substancialmente paralela, pois, também para ele, o processo genocida é construído em etapas, por meio de complexas interações entre os atores, tanto de cima como de baixo, e de acordo com 'um contexto de guerra. Não que ele negue que o que chamou de "limpeza étnica" seja verdadeiramente acidental: "Isso é finalmente executado deliberadamente, escreveu ele, mas o caminho para tal determinação é geralmente muito tortuoso . E se o líder político legítimo continua sendo o pivô dessa dinâmica, certamente não é o único elemento. Muitos outros atores devem ser levados em consideração, a começar por aqueles que organizam e realizam os massacres. 36
Sobre a organização do assassinato em massa e seus atores Aqui está precisamente outra maneira de estudar as práticas de massacre. Na verdade, se é difícil identificar a montante o momento da decisão, ainda é possível voltar-se para o estudo de sua organização prática a jusante. O que melhor atesta a vontade daquelesQuem decide o massacre, não é antes de mais nada o emprego dos meios implementados no terreno para o perpetrar? Vemos aqui a importância de uma metodologia de levantamento histórico: descrever como entender o porquê. Mesmo que não possamos encontrar um pedido por escrito, podemos deduzir que houve um pedido. Se, por exemplo, em uma região da Bósnia, no mesmo dia, ao mesmo tempo, em aldeias a poucos quilômetros umas das outras, todas as casas dos muçulmanos foram queimadas por várias unidades de combatentes sérvios ou croatas, Escusado será dizer que esta agressão não é uma coincidência: a observação dos factos revela a ligação entre estas operações concertadas. Portanto, é importante considerar a identidade das forças desdobradas para esse fim e a natureza de seus comandos. Este estudo comparativo permite identificar em cada caso dois tipos de atores violentos, distintos e complementares, envolvidos na execução dos massacres. Os primeiros vêm do próprio
aparelho de estado: exército e polícia. Essas chamadas forças estatais soberanas, dedicadas em princípio à defesa do território e à proteção dos cidadãos, são, assim, desviadas de suas missões. Mais precisamente, sua gestão hierárquica acaba assumindo a ideia de que destruir tal ou qual grupo de civis está de fato dentro de suas funções de defesa da ordem e da segurança. As instruções são então distribuídas para esse efeito aos seus homens. Ao mesmo tempo, um segundo tipo de ator é formado: corpos especializados de assassinos, criados mais ou menos na órbita do estado. A tarefa destes últimos não é apenas instigar o massacre no terreno, mas ainda mais cometê-lo sistematicamente: esta é a razão de ser que lhes é dada, como grupo. Se os militares e policiais vierem a participar diretamente na organização e perpetração dos massacres, podem em um momento ou outro manifestar relutância, considerando que tal atividade não se enquadra em suas missões. Nesse sentido, são possíveis casos de recusa de participação, ou mesmo desobediência. Por outro lado, os corpos especializados de assassinos e milícias de todos os tipos parecem ser grupos ad hoc , verdadeiramente formados para o massacre. Às vezes, eles recebem uma aparência oficial, por meio da criação de um novo corpo de Estado. Mesmo quando o status dessas milícias é paraestatal, ou mesmo privado, os vínculos informais ou secretos com funcionários que estão eles próprios muito presentes no aparelho do Estado são, no entanto, certos. Pois a constituição, então, a efetivação no terreno do que se deve chamar de unidades organizadas de assassinos se baseia na existência de uma rede de lideranças determinadas, presentes nas direções dos ministérios e serviços operacionais. Essas redes pessoais, ligadas diretamente ao Chefe do Estado, assentam em modos transversais de comunicação geralmente estabelecidos entre três tipos de funcionários: políticos, militares e policiais. A figura de alguns deles, particularmente ativos, torna-se como um símbolo do processo de assassinato em massa, do ponto de vista de sua organização prática. É o caso de um Heydrich na Alemanha nazista, de um Stanisic na Sérvia de Milosevic, de um Bagosora em Ruanda. Convencidos da importância da sua missão, estes homens determinados sabem contar com as estruturas do Estado, mas também contornam o seu funcionamento, não hesitando em ultrapassar o quadro da legalidade para atingir os seus fins. É instrumentalizando o aparato estatal que eles podem implementar uma política de massacre. Mas a existência dessas redes não significa que controlem todo o processo de destruição. Uma vez “energizado”, um aparato burocrático funciona por si mesmo, podendo os indivíduos dentro dele tomar iniciativas na direção desejada. O caso da Alemanha nazista é sintomático desse fenômeno. Em suma, essa instrumentalização das estruturas de poder resulta no que se pode chamar de “vampirização” do Estado que se torna assassino de sua própria população ou de outras populações sob seu controle em decorrência da guerra. Essa vampirização do poder dá origem no próprio aparato estatal ou, em sua órbita, novas "criaturas" destinadas a trazer a morte, esses infames Einsatzgruppen , milícia Interahamwe ou Tigres Arkan. Raul Hilberg mostrou como os líderes nazistas foram capazes de usar todos os serviços da burocracia alemã para impor a teoria racial no III Reich e além: "A destruição dos judeus europeus, escreveu ele, é revelada ter sido um processo executado em etapas escalonadas, cada uma delas resultante de decisões tomadas por inúmeros burocratas dentro de uma vasta máquina administrativa [...]. O processo de destruição ocorreu de acordo com um padrão definível [...]. Começamos primeiro elaborando a definição de judeu; depois foram iniciados os procedimentos de desapropriação, depois a concentração nos guetos; finalmente foi tomada a decisão de aniquilar todosJudeus da Europa . Hilberg mostra em detalhes como o funcionamento de um estado moderno, como Max Weber certa vez o descreveu, pode ser completamente sequestrado em favor E
37
do assassinato em massa. É o que leva autores como Zygmunt Bauman a falar do genocídio dos judeus como um fenômeno sociológico autenticamente vinculado à nossa modernidade . Porém, a importância dessa máquina burocrática corre o risco de ofuscar o peso desses nazistas radicais a quem o historiador alemão Dieter Pohl chama de "guerreiros ideológicos". Colocados em posições-chave na administração, não apenas aguardam ordens de cima, mas atuam por conta própria. Esses funcionários fanáticos procuram energizar o aparato burocrático para que ele atinja da melhor forma os objetivos do Partido Nazista. Para atender às expectativas do Führer, eles podem ir, se necessário, contra a morosidade dessa administração e incentivar a formação de estruturas mais flexíveis fora do Estado. Foi assim que Himmler conseguiu, em 1934-1936, desvincular todo o aparato policial do controle do Ministério do Interior: a Gestapo e a SS terão a aparência de órgãos do Estado, mas na verdade escaparão do controle. controle do estado ... sendo colocado sob a influência direta de Hitler. Segundo Édouard Husson, o modus operandi de Heydrich - que se tornou adjunto de Himmler depois de ter sido recrutado por ele, no início, para cuidar de seu serviço de inteligência - é um exemplo típico do desejo de contornar rotinas administrativas de cima e de baixo, a fim de implementar uma política racial eficaz e coerente . Assumindo em 1939 a gestão do novo Reich Central Security Office (RSHA), Heydrich fala dele como uma “administração de combate”. São esses homens, recrutados no RSHA, que se tornarão os organizadores e executores das primeiras operações genocidas, durante a invasão da União Soviética. 38
39
Alemanha nazista: guerreiros ideológicos O artifício de terror projetado por Heydrich culmina com a formação dos Einsatzgruppen (grupos de ação especial), precisamente reconstituídos antes do ataque à URSS . Compostos por voluntários, os Einsatzgruppen - 3.000 homens ao todo, organizados em grupos de 500 a 1.000 revelam a capacidade de Heydrich de traduzir em ação a especificidade da concepção de Hitler sobre política e guerra. A sua principal missão é, de facto, proceder à eliminação dos inimigos “judaico-bolcheviques”, ou seja, massacrar os judeus que residem nos territórios que mal foram conquistados. Para Hitler, os inimigos do Reich não devem especialmente mais uma vez "apunhalar a Alemanha pelas costas", como em 1918. Também as unidades de Heydrich devem "se agarrar" ao avanço da Wehrmacht em direção a Moscou. Os massacres, portanto, começaram em junho e assumiram um caráter massivo em agosto. Nenhum segredo ainda envolve essas mortes, ao contrário da cautela que prevalecerá depois. A população judia capturada em cidades e vilarejos é geralmente morta a tiros na área circundante (incluindo mulheres e crianças). O massacre mais famoso desse período é o de Babi-Yar, na Ucrânia, em 29 e 30 de setembro de 1941: dez dias após a captura de Kiev, os comandos do EinsatzgruppeC mataram 33.771 judeus em dois dias. As unidades do exército regular alemão também são apanhadas nesta dinâmica de massacre repetido. As instruções dadas por Hitler ao alto comando são para travar uma batalha até a morte contra o inimigo “judeu-bolchevique”. Como o marechal von Reichenau, comandante-em-chefe do Exército no front russo, sublinhou em 10 de outubro de 1941, "o objetivo mais importante da guerra contra o sistema judaico-bolchevique é a destruição completa de seus meios de ação e eliminação da influência asiática na cultura europeia. Nesse sentido, as tropas se encontram diante de tarefas que vão além da simples rotina militar. Quem luta nos territórios orientais não é apenas 40
Sexto
um soldado segundo as regras da arte militar, é também o portadorde uma ideologia nacional implacável e vingadora das brutalidades de que foram vítimas a Alemanha e os países racialmente ligados a ela. É por isso que o soldado deve compreender plenamente as necessidades de uma vingança severa, mas justa, contra esta humanidade inferior que é a Judiaria ”. Portanto, entendemos melhor porque a Wehrmacht está envolvida na perpetração de inúmeros massacres de populações judaicas, como apoio logístico ou ator direto, seja na Ucrânia, Bielo-Rússia, Rússia ou Sérvia. Mas os judeus certamente não são seu único alvo. Também para eliminar essa suposta influência asiática, os soldados alemães permitirão que os soldados soviéticos capturados morram de fome aos milhões. O que poderia ser mais lógico? Em ambos os casos, o exército contribui para a destruição de um inimigo total, cujo rosto é judeu e bolchevique. O estudo de Omer Bartov é um dos mais notáveis para compreender como a Wehrmacht foi arrastada para essa luta até a morte contra o inimigo total e como as tropas integraram essa ideologia por meio de seu aprendizado coletivo. de violência . 41
42
Ruanda: "faça o trabalho" Em Ruanda, a situação é oposta. De fato, os nazistas se instalaram no poder e controlavam todos os serviços do Estado quando empreendiam a eliminação dos doentes mentais e dos judeus, enquanto em Ruanda os massacres, preparados pelos extremistas hutus antes da tomada do poder. , são perpetrados na própria fase de constituição e consolidação do seu novo poder, no exato momento em que recomeça a guerra com o RPF. O sucesso de seus negócios, portanto, supõe que eles consigam numerosas cumplicidades e colaborações em todos os níveis do Estado, enquanto encontram certa resistência. Para atingir seus objetivos, contam igualmente com as Forças Armadas, prontas para enfrentar os inimigos do interior.rindo, do que nas "forças civis", tão essenciais para "empurrar" a população hutu ao massacre, em nome da segurança coletiva. Durante seu julgamento em Arusha, liderado pelo Tribunal Internacional para Ruanda, Jean Kambanda, o ex-primeiro-ministro do governo interino, deu uma ideia bastante precisa das diferentes estruturas hierárquicas que levaram aos massacres após 7 de abril. Ele descreve cinco níveis de comando: o comitê de crise do exército (dotado, segundo ele, de uma "estrutura fantasma" à qual Bagosora pertence), a hierarquia militar oficial, os líderes políticos sob influência dos militares, os governo interino, a rede de “autodefesa civil” . Imediatamente após o assassinato do Presidente da República, o Coronel Bagosora esforçouse por obter o apoio - ou pelo menos o consentimento - de todos os comandantes do exército, no exato momento em que seus homens começaram a massacrar em as ruas de Kigali. Enquanto o general Dallaire deseja que o primeiro-ministro intervenha na rádio para pedir calma, Bagosora busca aproveitar a situação para formar um governo militar sob sua própria autoridade. Mas ele encontrou a recusa de vários oficiais de alta patente. Após o assassinato do primeiro-ministro, Bagosora propôs a formação de um governo civil, composto por extremistas hutus. Sendo a proposta finalmente aceita, os oficiais que permanecem hostis a ela apelaram à comunidade internacional. Mas os diplomatas estacionados em Kigali estão ocupados evacuando seus cidadãos o mais rápido possível, não evitando os massacres. Bagosora pode contar com cerca de 2.000 soldados de elite (principalmente os da guarda presidencial), bem como unidades da gendarmaria. Soldados, gendarmes e policiais desempenharão um papel importante no incitamento aos 43
massacres, em particular para que cheguem à província. Antes de 6 de abril, soldados e gendarmes já haviam distribuído armas discretamente para a população hutu. Após essa data, eles fazem isso abertamente. Os soldados estão ao mesmo tempo pressionando as autoridades civis, ainda relutantes em iniciar a matança. A outra força armada, à disposição dos que preparam os massacres, é formada pelas milícias, criadas por partidos políticos próximos do falecido presidente. Em 1992, o MNRD havia criado a milíciaInterahamwe (literalmente: "Aqueles que estão juntos") e o CDR, o Impuzamugambi ("Aqueles que têm o mesmo objetivo"). A formação dessas milícias sempre parte da mesma ideia: armar civis para lutar contra a RPF e caçar tutsis, supostamente seus aliados. São formados principalmente por jovens, refugiados e desempregados. Envolver essas milícias tem a vantagem de não envolver diretamente as autoridades administrativas ou as forças oficiais do exército ou da gendarmaria na comissão de massacres. Assim, em março de 1992, os Interahamwe foram usados pela primeira vez para massacrar tutsis na região de Bugesera. Sua força não ultrapassava 2.000 homens antes de abril de 1994. Mas então aumentou para 20.000 ou 30.000, porque os milicianos obtêm benefícios significativos de sua violência. Desde o início dos massacres, os líderes políticos colocaram suas milícias à disposição dos militares. Por exemplo, em assassinatos em grande escala - como o ataque à igreja em Gikondo em 9 de abril - os milicianos obviamente obedecem aos soldados ali presentes. E para atender às necessidades das autoridades, os líderes das milícias deslocam seus homens de uma região para outra, o que atesta a centralização e coordenação das operações de matança. Mas os soldados e milicianos são muito poucos para matar os tutsis nas proporções desejadas, ou seja, em grande escala e em muito pouco tempo. De acordo com o discurso oficial do novo governo, a defesa do país é da responsabilidade de todos, o que equivale a incitar toda a população ao massacre. Para tal, os organizadores estão a reviver a velha prática colonial, assumida pela administração ruandesa, de tarefas comunitárias obrigatórias (umuganda). São obras de interesse público: limpeza do mato, reparação de estradas, abertura de fossos anti-erosão, etc. A umuganda foi implementada pelo nyumbakumi (chefe do distrito responsável por um grupo de dez famílias), que tinha registro de comparecimento e tinha o poder de multar quem não participasse das sessões de trabalho em grupo . No caso presente, essa obra de interesse coletivo, essa causa nacional urgente, passa a ser a eliminação do inimigo tutsi, inclusive do vizinho. No passado, as autoridades políticas e administrativas já haviam organizado esses passeios nas montanhas para provocar o primeiros massacres de tutsis. Para retomar essa prática, Calixte Kalimanzira, chefe de gabinete do Ministro do Interior, conta com uma burocracia cujos funcionários estão acostumados a cumprir ordens prontamente e na íntegra. Da prefeitura à comuna, a organização dos massacres baseou-se, assim, na burocracia e na hierarquia do jovem Estado ruandês, o que confere a este homicídio em massa um carácter muito "moderno". Concretamente, são os bourgmestres (prefeitos) que têm a responsabilidade de fiscalizar a população e provocar a denúncia dos “suspeitos”. Eles mandam seus subordinados de casa em casa para alistar todos os homens e dizer-lhes quando "trabalhar", o que agora significa matar e roubar. As declarações de Jean Kambanda durante seu julgamento em Arusha são indicativas desse uso ambíguo da palavra. Quando seu interrogador lhe pergunta o que a palavra “trabalho” significava então, ele responde: “Esta palavra tinha dois significados [...]. Nesse período, as pessoas nem trabalhavam. Eles se levantavam e iam ouvir o rádio para saber o que estava acontecendo, então “trabalhar” poderia significar fazer o seu dia a dia [...]. Mas, no passado, “trabalhar” significava
matar tutsis. Em 1959, quando as pessoas diziam que iam trabalhar, isso significava: "Vamos eliminar os tutsis". Portanto, houve confusão . " Essa mobilização geral para o “trabalho” significa que a dinâmica coletiva das matanças, veiculada pelos meios administrativos e políticos, não é por isso prisioneira de uma rotina burocrática. É até o contrário, comenta Alison Des Forges: “A organização que liderou a campanha era flexível: o lugar dos indivíduos dependia mais da vontade de participar nos massacres do que da sua posição na hierarquia. Para que dentro do aparato administrativo os subprefeitos superassem os prefeitos, como era o caso em Gikongoro e Gitamara, e no domínio militar os tenentes pudessem ignorar os coronéis, como isso aconteceu em Butare . Nessa situação excepcional, os atores podem ultrapassar os limites legais de suas funções: os soldados intervêm na esfera civil, enquanto os civis, que não têm poder, obtêm o apoio dos militares quando querem atacar os tutsis. Outro ator dá à perpetração desses massacres um personagem muito moderno: a RadioTelevision des Mille Collines (RTLM). Esta estação, que durante meses destilou um ódio virulento contra os tutsis, agora clama abertamente pelo seu assassinato. Seus animadores se apresentam como “palestrantes”, o que muito diz sobre o papel que se atribuiu. Ela encoraja aqueles que seguram as barreiras, denuncia os soldados que abandonam a frente de guerra e repreende os milicianos que são mais rápidos em saquear do que em matar, insta o exército a distribuir armas e drogas para os jovens que responde aos seus apelos de mobilização geral, promete a medalha de resistência a todos aqueles que se arriscam a permanecer na capital para a purificar dos tutsis e evitar que caia nas mãos do inimigo . A RTLM pretende ser a voz da “resistência do povo Hutu”. Ao fazer isso, ela encontra algumas das funções do rádio que identifiquei em outras crises políticas . O RTLM atua como um mensageiro, por exemplo, dando instruções precisas ou mesmo ordens às milícias, pedindo-lhes que se dirijam a tal ou tal lugar. Ela ainda é uma prescritora, quando dá instruções aos ouvintes hutus chamadas de "vigilância e defesa" que, neste caso, são verdadeiras chamadas públicas de homicídio, incluindo vizinhos. “As pessoas devem observar os vizinhos, ver se não estão tramando contra eles”, lança uma das apresentadoras da RTLM, Valérie Bemeriki. Porque esses plotters são os piores. As pessoas devem se levantar para desmascarar os conspiradores, este não é difícil ver se alguém está tramando contra você . “ Ela convida os ouvintes que desejam buscar pessoas suspeitas, cujos nomes aparecem no ar, a entrar em contato com ela para mais informações. É a primeira vez na história que uma estação de rádio incita abertamente seus ouvintes a participarem ativamente de massacres, no que em breve será reconhecido como genocídio. 44
45
46
47
48
Sérvia: forças armadas alternativas Na Iugoslávia, a situação política daqueles que se preparam para a guerra está aproximadamente a meio caminho entre a dos nazistas em 1940 e a dos extremistas hutus no início de 1994. Milosevic certamente já está no poder em Belgrado desde 1987, mas seu poder permanece limitado: ele é apenas o presidente da Sérvia e da Liga Comunista da Sérvia. Assim, seu desejo de impor sua autoridade ao exército iugoslavo, o JNA, esbarra na resistência dentro da própria instituição militar, por definição federal. Até 1991, o exército iugoslavo, embora dominado por uma liderança sérvia, era "multiétnico", embora permanecesse genuinamente comunista, portanto, oposto a qualquer movimento separatista. Milosevic irá, portanto, se esforçar, em primeiro lugar, para aumentar gradualmente seu controle sobre os militares e, em segundo lugar, para desenvolver
forças armadas alternativas para suas necessidades práticas, políticas e pessoais . Mas o controle do JNA não parece ter ocorrido tão facilmente quanto Milosevic esperava, relata James Gow em seu estudo sobre a "serbianização" dos militares. O general Eljko Kadijevic, então Ministro Federal da Defesa, não gostou muito da linha seguida por Milosevic, embora mais tarde tenha resolvido aderir a ela. De sua parte, Milosevic considera Kadijevic muito “iugoslavo”. Para destruir esse estado de espírito dentro do exército, ele gradualmente nomeou oficiais sérvios que eram favoráveis a ele, como o general Bozidar Stevanovic. Como resultado, o JNA ficará cada vez mais envolvido em operações de “limpeza étnica”. As circunstâncias políticas também servem aos desígnios de Milosevic. De fato, as partidas da Eslovênia, da Croácia e de outras repúblicas reforçaram consideravelmente a presença dos sérvios no que restava do exército iugoslavo: em março de 1992, não havia mais de 5 % não sérvios . No início da guerra na Bósnia, o JNA, formalmente dissolvido em 19 de maio de 1992 , deu origem a duas entidades distintas: o exército sérvio da Bósnia (VRS) e o chamado exército “iugoslavo” (VJ). Esta decisão segue a resolução da ONU que impõe sanções à Iugoslávia, apontada como a principal responsável pela agressão contra Sarajevo. Para que Belgrado não seja mais acusado formalmente de ter invadido a Bósnia, Milosevic retalia causando a dissolução do JNA: ele pode, portanto, argumentar que não são mais os sérvios que lutam em território bósnio ... mas os sérvios bósnios General Ratko Mladic, a quem ele afirma não controlar mais. Ficção pura, é claro, mesmo que as forças do general Mladic gozem de uma grande margem de manobra no terreno e se os sérvios bósnios, é verdade, busquem autonomia política. Na verdade, a guerra da Bósnia permitiu que Milosevic aumentasse ainda mais seu domínio sobre os militares. Segundo James Gow, podemos considerar que ele realmente controla o exército após o Conselho Supremo de Defesa de 25 a 26 de agosto de 1993, marcado pela saída forçada de quarenta generais. No entanto, ele acredita, o "fantasma" do exército federal nunca parece ter sido eliminado, o que significa que Milosevic nunca terá plena confiança nos militares . É no Ministério do Interior que Milosevic tem os homens mais leais à sua causa, começando por Radmilo Bogdanovic, o arquiteto da “revolução antiburocrática” que o levou ao poder. Ele o nomeou Ministro do Interior, Bogdanovic então conseguiu fazer da polícia sérvia a “guarda pretoriana” do regime . Bem equipadas e bem pagas, as unidades dopoliciais, cinco mil homens (sem contar os reservistas), constituem um verdadeiro instrumento de coerção nas mãos de Milosevic. Ainda a partir desse ministério, uma rede de fiéis se desenvolveu em direção a outros círculos próximos ao exército, à política e também ao crime. Esta rede é dirigida principalmente por Jovica Stanisic, que ingressou no serviço secreto sérvio no final de seus estudos de ciência política. Em 1990, Stanisic tornou-se responsável pela “linha militar” do Ministério do Interior (Vojna Linija) . Esta rede, composta por oficiais sérvios favoráveis a Milosevic (como Ratko Mladic), em 1990 desenvolveu o plano “RAM” (uma sigla inspirada na palavra “cadre” em servocroata). O húngaro Mihajl Kertes, às vezes referido como "Ministro da Limpeza Étnica", também é um deles. O objetivo desta rede é organizar a “resistência” dos sérvios croatas e bósnios, inclusive entregando-lhes armas . Ainda existem ligações com os vários grupos paramilitares que se formaram no início da década de 1990. Tal como no Ruanda, os extremistas sérvios constituíram de facto milícias armadas, beneficiando da benevolência das autoridades. Uma das mais conhecidas é a das Águias Brancas de Vojslav Seselj, líder do partido de extrema direita sérvio. Alegando abertamente ser os chetniks, eles estão envolvidos em todas as lutas para redefinir as fronteiras da “Grande Sérvia”. Além disso, foram os homens de Seselj que cometeram um dos primeiros massacres desta guerra, 49
50
51
52
53
54
55
em Borovo Selo, contra a polícia croata . Outra milícia notória é a da Guarda Voluntária da Sérvia, conhecida como “Tigres de Arkan”, de Zeljko Raznjatovic, um homem com um passado criminoso. Para engrossar as milícias, o governo não hesita em libertar prisioneiros comuns, pedindo-lhes em troca que vão lutar na Croácia ou na Bósnia. Essas milícias, que saqueiam, estupram e matam, obviamente constituem a ponta de lança da "limpeza étnica": o anúncio de sua chegada muitas vezes é suficiente para fazerfugir de uma aldeia. Sua força total é estimada em 12.000 homens em 1991-1992. Na vizinha Croácia, milícias bastante semelhantes foram formadas durante o mesmo período. A utilização desses grupos paramilitares, além de possibilitar a compensação de deserções massivas nas fileiras do exército (inclusive de sérvios da Sérvia durante a mobilização do outono de 1991), traz grande vantagem política para Belgrado. , o de ocultar aos olhos estrangeiros o papel da Sérvia em tais operações. Mas, na verdade, esses grupos são comandados por homens do Ministério do Interior e não podem operar sem o apoio do exército, porque precisam de fogo de artilharia antes de entrar em ação, e vários apoio logístico (principalmente combustível). Essa presença nas linhas de frente de bandos armados que escapam de todas as disciplinas militares desperta indignação e repugnância entre muitos oficiais. Mas o crescente controle exercido sobre o exército por Milosevic levou ao fortalecimento da complementaridade entre esses dois tipos de força terrestre. Concretamente, o mesmo cenário tende a se repetir: o exército começa bombardeando uma cidade ou vila, aí os paramilitares chegam para matar ou expulsar os habitantes não sérvios. Em novembro de 1991, o ataque a Vukovar prosseguiu desta forma, os paramilitares chegando a matar os enfermos no hospital. As operações se seguirão, de massacre em massacre, para espantar os croatas, enquanto as forças de Tudjman também estão organizadas para resistir ao avanço dos sérvios, usando os mesmos métodos expeditos. 56
Práticas organizadas e autônomas Portanto, se o massacre obviamente procede de uma organização, não vamos dar-lhe uma representação rígida. Alguns autores tendem a fingir, para demonstrar a premeditação de atos, que tudo foi calculado antecipadamente pelos criminosos. Esta é novamente uma visão inspirada na abordagem legal: provar que o massacre foi realmente o resultado de um plano combinado e coordenado. Jornalistas e historiadores tendem a se transformar em promotores. Se a dinâmica do processo de destruição é bem iniciada por um impulso central (vindo de quem o decide e organiza), também depende de uma certa improvisação da ação. Sabemos, por exemplo, que o primeiro programa alemão de extermínio de doentes mentais foi acompanhado de erros incríveis.e falta de jeito vis-à-vis as famílias. Por exemplo, o atestado de óbito enviado à família mencionava um ataque de apendicite, quando o paciente já havia sido operado de apêndice; ou mesmo famílias receberam duas urnas em vez de uma, etc. Da mesma forma, “em setembro e outubro de 1941, comboios [de judeus deportados] foram enviados para o Oriente, sem que tivéssemos uma ideia clara do que aconteceria com eles e para áreas onde não havia política. claramente definido sobre o que estava para acontecer. Os líderes regionais procuraram o seu caminho e tomaram certas decisões, embora sempre em estreita ligação com Berlim ”. Mais do que considerar que tudo provém de um sistema de poder central, trata-se de interessar-se pela sua periferia , ou seja, pelos atores locais que também podem tomar iniciativas decisivas. Diversos estudos regionais - como o do historiador alemão Dieter Pohl sobre a Galiza 57
oriental (sudeste da Polônia) - mostram assim como os atores da periferia antecipam o que é desejado por aqueles que estão no centro do sistema, este último depois, apenas endossando o que já foi realizado ... para pedir-lhes que vão ainda mais longe . Nesta região, onde está localizada a maior concentração judaica da Europa (com exceção da região de Varsóvia), podemos ver como a partir dessas interações permanentes entre o centro e a periferia - os atores desenvolvem diferentes métodos de matar. de acordo com os contextos específicos do momento: pogroms, tiroteios, fome organizada, assassinatos por gás e a rejeição se sucedem em menos de três anos. No total, dos 545.000 judeus que viviam nesta região em 1939, apenas 10.000 a 15.000 permaneceram em 1945. Da mesma forma, quando o novo comandante-em-chefe das forças alemãs, Hans-Joachim Böhme, chegou na Sérvia, em setembro de 1941, oficiais sugeriram que ele rapidamente tomasse medidas radicais contra os judeus (provavelmente medidas de deportação). Ele já havia recebido a ordem de instituir uma política radicalmente nova de retaliação contra os ataques.Partidários: para cada soldado alemão morto, 100 homens judeus reféns deveriam ser executados. Mas seus superiores não lhe deram nenhuma instrução específica para perseguir os judeus como tais. É por sua própria iniciativa que está a tomar medidas neste sentido. No final de 1941, dificilmente havia homens judeus adultos na Sérvia. E no início de 1942, com o extermínio de mulheres e crianças, a Sérvia foi um dos primeiros países "livres de judeus" (Judenfrei) . Assim, os atores locais no terreno podem adquirir autonomia real na execução dos assassinatos. E essa autonomia é tanto mais possível quanto vão precisamente na direção do que é desejado pelo centro. Essas observações também parecem ser verdadeiras no caso de Ruanda. Embora haja de fato uma coordenação óbvia de operações, um grande grau de autonomia é deixado para os atores. O slogan geral repetido em todos os lugares é matar os tutsis; não importa quem toma a iniciativa: “A todos os níveis, a superposição dos ordenadores permite compensar as possíveis falhas dos indivíduos e de uma ou outra das estruturas. Melhor ainda, desencadeia um overbid cada vez maior e uma violência cada vez mais indiscriminada de executivos de pequeno e médio porte que estão tentando controlar um caos crescente; ou se esforçando para desviar para outras ameaças que podem chegar a . Na Bósnia, a antropóloga Cornelia Sorabji fala de uma organização "franca" dos massacres, no antigo sentido do termo "franqueza". Ela observa que “prefeitos e comandantes militares locais podem incitar e promover impunemente a violência em suas próprias regiões, de acordo com seus próprios grupos, e“ trabalhadores independentes ”-“ rebeldes - injetam seus métodos e invenções. sádicos pessoais ”. O caso da Bósnia, portanto, parece relativamente desburocratizado e descentralizado. 58
59
60
Esta aparente desorganização da violência não deve, no entanto, levar a pensar que se trata de atos isolados, obra de extremistas irresponsáveis. Este tipo de explicação é frequentemente colocado emantes pelas autoridades interessadas quando a imprensa revela que alguns de seus executores cometeram atrocidades contra suas vítimas. Na realidade, "estes são antes os resultados previsíveis de uma organização que goza de absoluta impunidade, cujas metas gerais são definidas pelos líderes, enquanto os detalhes específicos de seu envolvimento são deixados para a iniciativa local ". Assim, um assassinato em massa se desenvolve, por meio de uma espécie de coconstrução dinâmica e interativa entre os contratantes, no centro do sistema, e seus atores, regionais e locais, na periferia. 61
O símbolo de Srebrenica Vamos para o final do raciocínio. Se os atores locais podem ganhar alguma autonomia no assassinato em massa, às vezes eles não vão além do que se espera deles? O clima de impunidade, criado pelas próprias pessoas que instigaram os massacres, não só torna possível este tipo de "excessos", mas ainda mais prováveis por atores que, no próprio campo de operações, se embriagam com seu poder. . O massacre de Srebrenica, de 11 a 16 de julho de 1995, pelas forças sérvias da Bósnia do general Mladic, levanta, por exemplo, esse tipo de questão. Após a queda deste enclave, cerca de 8.000 homens (incluindo adolescentes e idosos) foram executados nas áreas circundantes, enquanto mulheres e crianças foram forçadas a deslocar-se para áreas controladas pelas forças bósnias . Esta tragédia foi sobretudo analisada sob o ângulo da passividade das forças de manutenção da paz holandesas, supostamente para defender esta cidade declarada pela ONU como "zona segura". Um relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, em novembro de 1999, reconheceu as falhas da organização internacional nesta tragédia . Comissões de inquérito instituídas peloOs Países Baixos e a França também tentaram partilhar as suas responsabilidades . No entanto, o acontecimento foi pouco compreendido por outro ângulo, o da história da cidade de Srebrenica. Na verdade, não podemos compreender o massacre de 1995 sem levar em conta a violência do conflito entre sérvios e muçulmanos e, de forma mais geral, a história conflitante de mitos e memórias específicas dessa região. Segundo o relatório holandês, o antropólogo Ger Duizjings fez a esse respeito um trabalho importante . Em 1992, logo no início da guerra, a cidade caiu nas mãos das tropas paramilitares sérvias. Mas estes são expulsos pelos muçulmanos liderados por Nazer Oric, um jovem policial da aldeia vizinha de Potocari cujos “sacos” (os “Torbari”) não hesitam em saquear e queimar as aldeias sérvias vizinhas. Depois de reconquistada, a cidade acolheu um fluxo crescente de refugiados muçulmanos que, nas áreas circundantes, foram vítimas de limpeza étnica. Para conseguir comida, os homens de Nazer Oric regularmente fazem "passeios": eles saqueiam as aldeias sérvias próximas e às vezes massacram os habitantes. Essas operações acontecem muito rapidamente, sempre de surpresa, uma delas até mesmo sendo organizada no próprio dia do Natal Ortodoxo em 7 de janeiro de 1993, na aldeia de Kravica. A ação deu lugar a um novo massacre e os "homens de saco", ajudados por mulheres de Srebrenica, trouxeram de volta para a cidade todos os alimentos necessários.adornado pelos sérvios por ocasião de seu feriado religioso. Os cadáveres dos aldeões sérvios não são enterrados e serão devorados por animais. Durante o ataque, um velho, Nego Eric, tenta resistir atirando da janela de sua casa com uma arma velha. Ele vai acabar matando a esposa e depois se suicidando; sua casa será queimada. Este homem tornou-se para os sérvios o símbolo da resistência e de um violento desejo de vingança contra os “bousniouks” de Srebrenica . Essa vingança já poderia ter acontecido em fevereiro de 1993, quando Mladic aumentou sua pressão contra a cidade. Mas a criação pela ONU em abril de 1993 de "zonas de segurança" (incluindo Srebrenica) evitou um banho de sangue. Mesmo assim, Mladic não abandonou seus planos por tudo isso, já que, em 1994, expressou abertamente seu desejo de eliminar os muçulmanos desta parte do nordeste da Bósnia ", para fazêlos pagar o preço por sua colaboração com os Turcos ”, referindo-se assim ao sofrimento suportado pelos sérvios sob o domínio otomano. Do ponto de vista estratégico, o controle da região de Srebrenica era de fato essencial para criar uma entidade política sérvia monolítica, coerente e viável. Além dessa história de vingança, a captura desta cidade foi, portanto, mais do que 62
63
64
65
66
necessária para os líderes sérvios da Bósnia. No entanto, no início de julho de 1995, quando o exército de Mladic se preparava para o ataque, seu objetivo inicial ainda parecia reduzir o enclave aos limites da própria cidade de Srebrenica, transformando-o em um gigantesco campo de refugiados. ar livre. A ideia era então forçar as Nações Unidas a evacuar a Área . Mas notando, nos dias anteriores ao ataque, a virtual ausência de resistência do lado das Nações Unidas, Mladic provavelmente tomou a decisão de atacar com muito mais força, percebendo que o caminho estava aberto. É certo que seus homens permanecem sob o controle de Belgrado: a captura de Srebrenica foi certamente o objeto de umconsulta ao mais alto nível com Milosevic. Mas estaria este último a par dos preparativos para o massacre? E se sim, ele os aprovou? Essas questões ainda estão no escuro. É possível que Belgrado tenha coberto o projeto de Mladic com antecedência. Também é possível que este último, embriagado pela vitória e movido pelo desejo de vingança, tenha aproveitado para acertar contas com os habitantes de Srebrenica, colocando Milosevic diante de um fato consumado. Ao assumir o controle da cidade em 11 de julho, Mladic parece de fato convencido a realizar uma obra histórica que situa na linha secular das guerras entre sérvios e turcos: “Na véspera de um novo feriado nacional da Sérvia, estamos dando esta cidade como um presente aos sérvios. Após a rebelião dos Dahijas, finalmente chegou a hora de nos vingarmos dos turcos nesta região . Estas são questões que sem dúvida poderiam ser esclarecidas por seu julgamento em Haia e por pesquisas históricas (se, entretanto, os arquivos sérvios existirem e se tornarem acessíveis) . De qualquer forma, não podemos nos contentar em analisar a dinâmica do assassinato em massa do ponto de vista de seus tomadores de decisão e organizadores. Isso correria o risco de darlhe uma visão excessivamente funcional, mesmo que se tenha o cuidado de explorar as complexas interações entre os centros de decisão e os atores localizados na periferia do processo de destruição. Um olhar muito mais sociológico (e antropológico) permite buscar compreender como uma sociedade pode ser treinada para participar do desenvolvimento de uma dinâmica assassina. 67
68
69
Da indiferença coletiva à participação popular nos massacres O que está acontecendo do lado das populações cujos Estados se comprometeram a perpetrar massacres ou que caíram sob seu domínio? Eles estão realmente abraçando o que está acontecendo? Retomamos o fio condutor do que foi analisado, antes mesmo da passagem ao ato , quanto ao papel do terceiro, isto é, daqueles que poderiam, de perto ou de longe, vir em socorro das vítimas designadas ( veja o capítulo II ). Se chegamos ao estágio de assassinato em massa, é de fato que esse colapso do terceiro partido continuou a se confirmar. Num dos primeiros livros sobre o massacre de Srebrenica, dois autores holandeses destacaram aquela frase de Tácito: “O pior crime é ousado por uns poucos, mais gostariam, todos a licença aos . Que encaixe surpreendente nessas páginas! Claro, os autores têm em primeiro lugar em mente as falhas da “comunidade internacional” na Bósnia. Mas a frase de Tácito pode ser aplicada da mesma forma, e mesmo em primeiro lugar, ao que se desenrola na cena interior: é a passividade de "todos", mais ou menos cúmplices, que torna possível a ascensão ao poder. violência. O protesto torna-se tanto mais difícil quanto, tendo o país ido à guerra, cada indivíduo é convocado a mostrar solidariedade perante o inimigo. Mas o pior talvez ainda esteja por vir, já que a mudança para a guerra pode radicalizar ainda mais o comportamento humano. 70
Como não pensar aqui no que Franz Kafka disse sobre a guerra: “É uma inundação. A guerra abriu as comportas do mal. Os adereços que sustentavam a existência humana estão entrando em colapso ”? De fato, em certos casos, o massacre é perpetrado não só por soldados ou policiais, mas também por civis mais ou menos recrutados pelas novas autoridades. Entre a indiferença coletiva e a participação popular nos massacres, os casos aqui estudados ainda são diferentes. 71
O destino dos judeus, entre a hostilidade e a indiferença Embora o anti-semitismo seja generalizado na Alemanha, isso não significa que todos os alemães querem que os judeus morram. Sobre este ponto, a tese do sociólogo americano Daniel Goldhagen suscitou importantes objeções . É certo que seu trabalho levanta a importante questão da responsabilidade individual do alemão “comum”, e não mais apenas dos líderes nazistas, na perseguição e depois na eliminação dos judeus. Goldhagen pretende ir além de Raul Hilberg, não se contentando em dar uma resposta ao “como” do genocídio, mas também ao “porquê”. O projeto é, portanto, particularmente ambicioso. Qual é essa resposta? Tem o mérito da simplicidade: se a Alemanha nazista matou os judeus, é porque os alemães quiseram. E por que eles queriam? Porque eles tinham o projeto, não só na cúpula do poder nazista, mas na base, a empresa sendo dirigida por um anti-semitismo “eliminacionista”. A declaração é surpreendentemente avançada com tanta confiança. É um pouco como a dos doutores da XVII século que Molière zombaram: "Por que ele dormir ópio? Porque tem uma virtude adormecida. Por que os alemães mataram os judeus? Porque tal projeto era específico para sua cultura de ódio pelos judeus. Todos eles realmente queriam se livrar dele e estavam felizes com isso; como prova essas fotos que os soldados trouxeram da frente oriental, atestando os assassinatos . O argumento é, portanto, fundamentalmente culturalista, uma vez que postula uma tendência destrutiva específica para o povo alemão. Ao fazer isso, ele minimiza a virulência do anti-semitismo em outros países ao mesmo tempo, seja na Polônia, Romênia ou França. Por que então os alemães, mais do que outros, tiveram vontade de entrar em ação? Além disso, o argumento é monocausal: tudo vem da ideologia, que ignora a essência da pesquisa historiográfica mostrando a multiplicidade de variáveis a serem levadas em conta, complexidade que inspira este trabalho. Não estamos surpresosNão será, portanto, que o livro de Goldhagen tenha suscitado as mais duras críticas dos historiadores . Embora sejam predominantemente anti-semitas, os alemães desaprovam as ações abertamente violentas tomadas pelo regime contra os judeus durante os anos 1930. Na verdade, a maioria dos cidadãos do Reich ficaria satisfeita com as medidas legais e anti-semitas. ordenadas, como as das Leis de Nuremberg de 1935. Mas os líderes nazistas certamente não o fizeram. Eles constantemente relançam a acusação contra os judeus. Depois da Noite de Cristal em 9 de novembro de 1938, sabemos, por exemplo, que grandes setores da população estão chocados com essa onda de violência. Porém, reações espontâneas contra a política de uma potência só podem ter alguma chance de influenciá-la se encontrarem uma tradução pública, por meio de porta-vozes que se atrevam a retransmitir abertamente as divergências. No entanto, nenhuma autoridade espiritual ou moral dentro da Alemanha ecoou abertamente essa emoção popular. Essa incrível explosão de ódio foi, portanto, seguida de um silêncio ensurdecedor que pode ser interpretado como uma forma de consentimento e até de contentamento. 72
th
73
74
Mas líderes como Himmler e Heydrich, informados pelos relatos das reações de desaprovação da população, argumentam com Hitler o interesse de métodos mais "racionais", que não mais se baseariam no uso de violência por demais conspícua. do pogrom. A guerra vai dar-lhes a oportunidade de agirem, porque, neste novo contexto, a maioria da população alemã preocupa-se sobretudo com o destino dos militares mobilizados e com os problemas do quotidiano, que os fazem esquecer o fora da minoria judaica. Lendo o diário de Victor Klemperer, podemos ver que as autoridades alemãs nem mesmo sabem a que miséria os judeus foram forçados. Os “arianos” não sabem nada sobre a situação miserável dos judeus, ou não querem vê-la, como pensa David Bankier ? Ainda assim, a atitude dominante em relação aos judeus é uma mistura de hostilidade e indiferença. É esta ausência contínuareações abertamente hostis à sua perseguição, sua exclusão, sua deportação que facilitou sua destruição, um resultado terrível dessas renúncias sucessivas. Claro, protestar contra a ditadura nazista pressupõe uma coragem política extraordinária. O dissidente corre o risco de ser visto como um "traidor" ainda mais porque o país está em guerra. Ele, portanto, corre o risco de ser preso e morto por um regime que suprimiu todas as formas de direitos da oposição em 1933. A execução, em 24 de fevereiro de 1943, de Hans e Sophie Scholl, esses estudantes membros do Rose Blanche, que ousou protestar em Munique contra o regime, tornou-se depois da guerra o símbolo de uma resistência aparentemente impossível dentro do Reich. A história da oposição de parte da Igreja Católica ao programa de eutanásia de doentes mentais atesta, no entanto, que ainda existia, mesmo após o início da guerra, um espaço público de protesto ao regime. Mas essa história mostra como essa oposição tem sido laboriosa e parcial. Em primeiro lugar, vários meses após o início do programa, no outono de 1939, pedidos foram enviados às autoridades, em caráter confidencial, por alguns pastores para retransmitir o sofrimento, até mesmo o espanto, das famílias pelo desaparecimento de seus entes queridos. . Mas os líderes nazistas se contentam em procrastinar, e o programa de extermínio continua. Só mais de um ano depois, na primavera de 1941, alguns bispos decidiram se lançar no protesto público: von Preysing, em seu sermão de 9 de março de 1941 em Berlim, e especialmente Clement-August von Galen. , em seu sermão de 3 de agosto de 1941 em Münster. Este denuncia o homicídio de doente mental, lembrando que apresentou queixa perante o tribunal pelos crimes cometidos na sua diocese, com base no artigo 139 do Código Penal que estipula: “Aquele que tem verdadeiro conhecimento de um projeto de assassinato e não notificar as autoridades ou a pessoa ameaçada, em tempo hábil, será punida ” . O acontecimento é considerável: pela primeira vez, um líder religioso reafirma publicamente a proibição do homicídio dentro de um regime cuja característica é desde então tê-la desprezado constantemente. seu início. Essa intervenção moral é forte o suficiente para Hitler considerar preferível interromper o programa, que, no entanto, já fez cerca de 80.000 vítimas. Assim, a sociedade alemã, por meio do protesto de alguns de seus dignitários religiosos, conseguiu impedir o primeiro assassinato em massa organizado pelo Estado nazista. Ao que parece, foi o próprio contexto da guerra contra a União Soviética que levou a liderança nazista a tomar tal decisão. Porque se um Martin Bormann decide eliminar von Galen, Josef Goebbels argumenta que, se o bispo de Münster desaparecer, Westfália estará perdida durante a guerra: ele realmente teme que o desaparecimento de o bispo é uma das principais causas de dissensão nesta região, enquanto o ataque à União Soviética exige, pelo contrário, a grande coesão da nação alemã. Em outras palavras, o contexto internacional, que, como vimos, pode facilitar o massacre, neste caso favorece o sucesso de um ato de protesto moral, que poderia, à primeira vista, ter parecido desesperador. 75
76
Por outro lado, é claro que nem pastores nem bispos se mobilizam da mesma forma para denunciar publicamente a violência anti-semita. Outra marca desse silêncio? Em setembro de 1941, assim como o programa continua eliminando os pacientes mentais alemães, o uso obrigatório da estrela amarela é promulgado no Reich. Vários indícios mostram que essa medida volta a chocar grande parte da população. Mas as autoridades da Igreja não dizem nada. O seu silêncio é tanto mais trágico quanto, nesse mesmo período, o pessoal do programa de eutanásia para doentes mentais foi transferido para a Polónia para instalar novas câmaras de gás. O que domina na Alemanha, repetidamente, é a atitude de passividade da opinião pública em relação à política antisemita, observada desde os primeiros dias do regime. Ian Kershaw, a partir de seu estudo da Baviera, resume esse estado de espírito da seguinte maneira: “A estrada para Auschwitz foi construída pelo ódio, mas pavimentada com indiferença . Algumas variações de comportamento podem, entretanto, ser notadas de uma região para outra. Assim, a Renânia, um bastião católico, oferece certassinais de resistência, pelo menos de dissidência , enquanto na Baixa Saxônia, em Göttingen, uma cidade muito anti-semita, a população participa alegremente do saque de propriedades judaicas antes que seus proprietários sejam mortos. Outro fato importante: os alemães podem acessar informações sobre o destino dos judeus na Polônia e na União Soviética. David Bankier dá indicações convincentes sobre este ponto: mesmo que os líderes nazistas pretendam manter o segredo, os alemães que residem no Reich não podem ignorar que os judeus estão condenados à morte. O próprio Klemperer não menciona em seu diário, em 12 de março de 1942, o nome de Auschwitz como o de um lugar onde se está condenado à morte? Mas os alemães nada fazem com esta informação surpreendente, que aliás também desperta a descrença dos próprios judeus, seja no Reich ou em qualquer outro lugar. Pense no testemunho de Ruth, entrevistado pelo historiador Michael Pollak: quando ouviu Thomas Mann anunciar ao microfone da BBC, em 1941 (enquanto ela vivia em Berlim), que os judeus foram massacrados na Polônia, simplesmente não consigo acreditar . Paradoxo? A passividade geral da população, apesar dessas notícias assustadoras, não impede, no entanto, que alguns alemães demonstrem simpatia pelos judeus. Vamos ler o diário de Klemperer novamente. Por exemplo, em 8 de maio de 1942, ele registrou reações muito antisemitas a ele ("Salop de juif") e, ao mesmo tempo, a de uma senhora que correu o risco de mostrarlhe simpatia no rua. E ele observa: "Parece que esse tipo de evento perigoso para uma e outra pessoa ocorre com bastante frequência ". Em outro lugar, ele ainda fala deste oficial do partido que mostra-se compreensivo para com ele (26 de abril de 1942) ou daqueles trabalhadores em Dresden que mostram um espírito de camaradagem para com os judeus: "Tenho constantemente a oportunidade de notar o camaradagem, comportamento perfeitamente natural, muitas vezes bastantefato caloroso, operários e operários para com os judeus [...]; no geral, não são comedores judeus. No entanto, alguns de nós ainda defendem a ideia de que todos os alemães, mesmo os trabalhadores, são, tanto quanto eles, anti-semitas ” (4 de junho de 1943). São tantos os sinais que atestam que, ao nível dos indivíduos, um pouco de humanidade para com os judeus ainda consegue escapar de um sistema deliberadamente elaborado para destruir toda a expressão. Em suma, tudo está acontecendo como se a capacidade de reação coletiva da população tivesse sido gradualmente esmagada. A sociedade alemã foi dominada por uma lógica de destruição que permitiu acontecer sem reagir. Quanto menos se dava meios para protestar, mais se via inserida em um processo que não controlava e no qual era cada vez mais chamada a se envolver. Porque este laissez-faire geral, esta engrenagem passiva , se transformou simultaneamente, não nos esqueçamos, em uma engrenagem ativa que resultou na adesão de todos os tipos de setores de 1º de
77
78
79
80
81
atividade colaborando na "Solução Final". " O crescendo dessa incorporação da sociedade alemã no processo de destruição dos judeus foi, sem dúvida, alcançado com o desenvolvimento de centros de extermínio a gás, no final de 1941 e especialmente durante 1942. De fato, os massacres perpetrados pelos Einsatzgruppen , batalhões As SS e outras forças policiais e militares continuaram sendo assunto de profissionais da aplicação da lei, civis apenas intervindo nas margens da matança das vítimas. Com o desenvolvimento das câmaras de gás, o processo de destruição torna-se “civilizado” porque envolve muito mais o tecido econômico e industrial da sociedade alemã: ferrovias (o Reichsbahn ), indústria automobilística (para os primeiros caminhões a gás. ), indústria química (para a produção de Zyklon B), indústria têxtil (para a recuperação de roupas), indústria metalúrgica (para transformar ouro roubado), setor bancário (para fechar contas), etc. Um verdadeiro símbolo: é o presidente do conselho de administração da IG-Farben , Carl Krauch, quem escolhe o local de Auschwitz. E o slogan afixado na entrada do campo, "Arbeit macht frei" (trabalho liberta), apareceu antes da guerra em todas as fábricas do grupo. O processo de destruição foi, portanto, enxertado no próprio coração deo aparato econômico alemão. “O crime não é um lado do mundo comum: penetra-o nos interstícios mais banais da vida quotidiana . Esta é, de fato, a evolução desejada por Himmler e Heydrich. 82
Ruanda: a massificação do assassinato Em Ruanda, estamos imersos em um universo totalmente diferente daquele da sociedade alemã industrializada. Não se pode afirmar, porém, que a formidável eficiência das operações de massacre se deve ao fato de seus organizadores conseguirem em parte, de um lugar para outro, em envolver grandes setores da população rural? Esse era de fato o objetivo da "defesa civil" desde o início: envolver a população hutu em uma escala maciça na "resistência". Ouçamos RTLM, poucos dias antes do ataque ao avião presidencial: “Gente, aqui está o escudo real, é o exército real que é forte [...]. As forças armadas estão lutando, mas o povo diz: "Nós protegemos você, nós somos o escudo." O dia em que as pessoas vão se levantar e não vão mais querer você, que vão te odiar em uníssono e do fundo do coração, quando você os fizer enjoar, eu [...] me pergunto onde você está você vai escapar. Onde você pode ir ? “Terrível ameaça contra os tutsis: o rádio anuncia abertamente que o“ povo ”vai aniquilá-los no local. No entanto, a realização desta terrível “profecia”, que portanto requer a mobilização geral dos hutus, é uma aposta. É certo que o assassinato do Presidente da República cria imediatamente um vácuo político e uma emoção pública que tornam as reações violentas mais do que prováveis. Alguns acreditam que a intervenção pública imediata do atual primeiro-ministro ainda pode conter tal explosão. O General Dallaire é um deles, convicto de que se Agathe Uwilingiyimana conseguir falar na rádio nacional, o seu apelo à calma poderá diminuir a tensão, demonstrando que é capaz de garantir a continuidade do poder . Mas este cenáriodesmaia imediatamente, por causa de seu assassinato. A partir de então, os extremistas hutus têm liberdade para formar um novo governo. O outro freio ao aumento da violência ainda pode vir das igrejas do país. Mas quatro dias após a morte do presidente, os bispos prometeram seu apoio ao novo governo. Eles pedem a todos os ruandeses que "respondam favoravelmente aos apelos" das novas autoridades, para "ajudá-los a cumprir a tarefa", incluindo o retorno à paz e à segurança. É verdade que uma semana depois eles fazem outra declaração pedindo que o sangue pare de correr; mas isso tem pouco impacto, 83
84
enquanto, por sua vez, o arcebispo da Igreja Anglicana, também presente em Ruanda, longe de condenar as mortes, declara seu apoio ao novo governo. Ao não lançar uma condenação imediata dos massacres, os líderes religiosos deixam o caminho aberto para as autoridades que dizem que as mortes foram aprovadas por Deus . Se, portanto, por motivos diversos, esses possíveis freios à violência não funcionaram, o caminho parece aberto para sua difusão no país. Mas a participação dos fazendeiros nos massacres é certa? Nem por isso, afirma André Guichaoua: “Uma coisa é preparar os massacres no auge do poder; outra é conseguir resultado das colinas dos camponeses nas matanças . Depois de 7 de abril, as fronteiras foram fechadas e as estradas bloqueadas. Obviamente, o objetivo não é mais deixar os tutsis irem, mas erradicá-los. No entanto, ninguém sabe ainda quantas, entre as centenas de milhares de pessoas influenciadas pelas idéias do Poder Hutu , estão prontas para matar, estuprar, ferir, queimar ou pilhar a chamada desse movimento. Pesquisas publicadas pela African Rights mostram que a violência começou em quase todas as prefeituras do país a partir da manhã de 7 de abril . Mas, durante seu julgamento, Jean Kambanda reconhece que onde o partido do presidente teve menos influência, os massacres tiveram mais dificuldade em iniciar . O rádio RTLM é sem dúvida um dos vetores mais formidáveis do sistema de incitamento ao assassinato em massa, mas sua importância não deve ser superestimada. Alguns autores propõem o padrão de obediência quase automática de uma população hutu em grande parte sem instrução às instruções do RTLM. Mas esse tipo de explicação é superficial, para dizer o mínimo. Esta estação de rádio, que começa a transmitir poucos meses antes do assassinato do presidente Habyarimana, certamente impôs uma estrutura de significado a todo um país profundamente afetado por quatro anos de guerra. Graças ao talento dos seus animadores, ao seu novo estilo, às suas canções, conseguiu inscrever-se no quotidiano de muitos ruandeses, vindo a pontuar este espantoso momento do genocídio. Porém, não podemos dizer que esse rádio então manipulou seus ouvintes como simples bonecos. Em vez disso, de acordo com a interessante metáfora de Darryl Li, essas transmissões "ecoaram" nos pensamentos e ações dos ruandeses, alguns interagindo com seus programas e outros não. Mais do que simples retransmissões passivas de sua propaganda, são "receptores ativos", interpretando suas mensagens, contribuindo ou não para transmiti-las à sua maneira, decidindo ou não "trabalhar" na direção recomendada por seus animadores . A sociologia da recepção da mídia nos ensinou isso: uma coisa é a transmissão de programas destinados a públicos diferentes, outra é a maneira como esses públicos interpretam e decodificam essas mensagens . Se a propaganda fornece uma estrutura de significado, não é certo que ela será aceita por todos os indivíduos. Em qualquer caso, está sujeito a reinterpretações e ajustes de acordo com as idades, grupos de membros, etc. Então, como os programas da RTLM foram recebidos, comentados, acreditados nas diferentes regiões de Ruanda? Só podemos seguir o conselho da antropóloga Danielle de Lame quando ela escreve: “O papel daa mídia deve ser, para ser entendida do ponto de vista dos ruandeses, abordada no contexto das diferentes subculturas locais . " A ideia de que todos os massacres foram perpetrados por gangues de jovens que seguravam um rádio com uma das mãos e um facão com a outra é um clichê. No morro, o incentivo para participar da caça aos tutsis partiu muito mais das autoridades locais, do prefeito da comuna e de seus deputados, lideranças locais de partidos políticos, empresários, lideres religiosos, militares. , gendarmes, policiais ou milicianos que alistaram a população para esse fim. O estudo do afroamericano Timothy Longman sobre duas paróquias protestantes vizinhas, Kirinda e Biguhu (prefeitura de Kibuyé), mostra de forma convincente, por exemplo, o papel preeminente dessas elites locais no envolvimento dos agricultores nas matanças. Mas, ele destaca, suas motivações 85
86
87
88
89
90
91
eram muito mais políticas do que puramente étnicas. Os massacres foram organizados e apoiados por uma elite local que temia perder seus privilégios e que, para manter seu poder na região, concentrou o ressentimento popular na minoria tutsi . Na verdade, vista do “fundo” da sociedade, essa mudança depende de uma multiplicidade de fatores, em um contexto em que as consequências da guerra perturbaram o comportamento das populações. Em primeiro lugar, os soldados do exército ruandês, quando regressam às suas aldeias, feridos ou mutilados pela guerra contra o RPF, são importantes vetores do aumento das tensões étnicas. De 8.000 para 10.000 em 1991, seu número subiu para 40.000 em 1994. Sua mera presença nas colinas - que estavam mutiladas, que como pinguins - atestam as trágicas realidades da guerra civil. Atribuídos ao fisco, à polícia comunal, contam a quem quiser ouvir sobre a forma como agem os tutsis da RPF. Assim, eles se tornaram, bem antes de abril de 1994, poderosos propagadores da mobilização da população contra o Inyenzi . O aumento da violência ainda se deve, nota André Guichaoua, à reviravolta dos responsáveis pela paz civil nas colinas: diretores de escolas primárias, professores, padres, gestores de centros de saúde. No convívio diário com a população, são "formadores de opinião" porque lhes falam a "verdade" . Seu papel é, portanto, ainda mais importante em uma situação de crise. No entanto, as ofensivas do RPF de 1992, e especialmente de fevereiro de 1993, provocaram um grande movimento de deslocados que fugiam dos combates. Seu número é estimado em quase um milhão no início de 1994. Essas populações hutus, que fogem do avanço do RPF, estão instaladas em acampamentos, principalmente no norte de Ruanda, e também tendem a se deslocar para o sul. No caminho, eles contam as atrocidades cometidas pelo RPF e passam todo tipo de boatos. Os “formadores de opinião” de que fala Guichaoua estão precisamente em contacto com estes deslocados, aos quais geralmente fornecem acolhimento e trânsito. Eles vão ecoar essas histórias de terror, levando-as, por sua vez, para as colinas, para os habitantes das localidades vizinhas. Esses relatos, que portanto confirmam a propaganda da RTLM, só podem fazer os hutus temerem a possível vitória do RPF. Assim, passo a passo, o medo se espalhou pelas colinas, bem antes de abril de 1994, cada hutu temendo que a chegada da RPF significasse a sua própria morte e a de sua família. A composição étnica de cada prefeitura, mesmo de cada localidade, também deve ser levada em consideração para se entender a mudança para a violência. Por exemplo, na prefeitura de Kibungo, a presença dos tutsis é forte, embora o partido do presidente esteja bem estabelecido lá ... e as milícias também. Em abril de 1994, uma osmose foi criada rapidamente entre as autoridades e a população, o que rapidamente levou ao massacre dos tutsis. O contraste é grande com a prefeitura de Cyangugu, na fronteira com Burundi e Congo. Os hutus estão divididos ali: treinálos para massacrar os tutsis é um objetivo mais difícil, até porque, nesta prefeitura do sul, a hostilidade política contra os do Norte (próximos ao presidente) é perene. Não podemos, portanto, dizer, neste caso, que a população participou dos massacres, exceto depois de duas ou três semanas, quando os hutus que se opunham a eles foram eliminados. Mesmo na prefeitura de Gitamara, bastião da revolução de 1959, a mudança noA violência só ocorre após a intervenção do exército e a demissão do ex-prefeito, depois com a chegada do governo provisório em fuga de Kigali atacado pela RPF. A situação ainda é completamente diferente na prefeitura de Butare, que tem a maior taxa de casamentos mistos hutu-tutsis. O prefeito, Jean-Baptiste Habyalimana, recusa-se a seguir a nova linha do governo, imposta por Bagosora e seus amigos. A população local não esteve envolvida nos massacres por quase duas semanas, exceto em uma comuna localizada perto de campos para 92
93
refugiados Hutu do Burundi, que praticam o terror. Os outros municípios não mudam para a violência antes de 19 de abril. Para fazer isso, também é necessário demitir o prefeito que é resistente aos assassinatos (que acabará por ser assassinado) e outros membros da administração, trazer milicianos de fora, etc. A razão desses massacres é realmente étnica? Outro levantamento de campo, feito na região de Butare, sugere que não, pelo menos não só. A violência generalizada que se abate sobre esta região “cria o contexto propício à resolução de rivalidades ou tensões anteriores, ancoradas na vida local”, que, portanto, nada têm a ver com ser hutu ou tutsi. Outros motivos devem ser levados em consideração, como ciúme ou lucro. No entanto, são sobretudo os tutsis os principais alvos destes ataques, na medida em que o seu assassinato é incentivado pelas autoridades. Em outras palavras, “muitos camponeses em Butare não matam um vizinho, ou um estranho, porque são tutsis, mas porque é possível matá-los porque são tutsis”. A escolha das vítimas pelos camponeses depende, portanto, de uma multiplicidade de fatores locais e pessoais ”. Tudo isso sugere que uma história da participação popular nos massacres, região por região, ainda precisa ser escrita. O papel das elites regionais intermediárias no envolvimento dos camponeses nas matanças parece particularmente importante para estudar. Mas o que exatamente essa palavra “participação” significa? A maioria dos testemunhos atesta que não é espontâneo, mas sim supervisionado. A função desses criadores nas colinas não é apenas indicar quem éo "inimigo", mas também para "recarregar" regularmente a "energia para matar" nos cultivadores negativamente por meio da ameaça, positivamente por meio da recompensa. Para o efeito, foi constituída uma organização ad hoc flexível, foram realizadas reuniões regulares nas colinas, nos cabarés, etc., em articulação com as autoridades. Caberá então à população da aldeia seguir os milicianos e gendarmes responsáveis pelos massacres ou envolver-se concretamente? Em outras palavras, a população é o coadjuvante dos assassinatos ou um ator por direito próprio? Em seu livro Une saison de machetes , o jornalista Jean Hatzfeld relata que os aldeões hutu, na comuna de Nyamata, na região de Bugesera, estão se envolvendo nos massacres em curso . Mas é esse o caso em todos os lugares? A ideia de que toda a população hutu participou dos massacres não é sustentável. Dos aproximadamente 6 milhões de Hutus que viviam em Ruanda na época, quantos foram realmente mortos? Embora seja impossível fornecer um número preciso, o pesquisador americano Scott Strauss tentou uma estimativa interessante. Ele chegou à conclusão de que o número de assassinos hutus em 1994 seria entre 175.000 e 210.000, ou entre 7 e 8% da população ativa de Ruanda, mais precisamente entre 14 e 17% da população masculina adulta. Outro ponto essencial: Scott Strauss observa que cerca de 75% desses indivíduos podem ser considerados responsáveis por 25% dos assassinatos; o que significa que entre 20 e 25% dos assassinos hutus têm a seu crédito quase 75% dos massacres. Portanto, "mesmo que a participação em massa caracterize o genocídio em Ruanda, um pequeno número de artistas armados, especialmente zelosos, conquistou a parte do leão nas mortes ". No entanto, quanto mais a população rural se envolvia, mais eficazes pareciam ter sido os massacres: apenas os locais sabiam quem eram os tutsis e onde se podiam esconder. Nesse sentido, a carteira de identidade revelando etnia nem sempre foi necessária para identificar o “inimigo”. Devemos, portanto, pensar juntos na complexa articulação entre o núcleo duro dos indivíduos que matam, o círculo maisampla daqueles que dão uma "mãozinha" ocasional, denunciam aqueles que estão escondidos, e a maior massa de hutus que não permitem que os massacres cometidos em seu nome ocorram. Vemos a que leva essa lógica assustadora: o homicídio em massa visa, sim, a massificação do homicídio, isto é, a multiplicação dos assassinos e seus cúmplices, ativos ou passivos. 94
95
96
Autismo da população sérvia Na ex-Iugoslávia, esse processo não parece ir tão longe. Na verdade, a população sérvia nunca é confrontada diretamente com os massacres perpetrados na Croácia, na Bósnia e mais tarde no Kosovo. A guerra é travada fora do território da Sérvia, situação que lembra os alemães no Reich. Mas é precisamente porque a população está longe do teatro de operações que ela está mais inclinada a endossar o que ali está acontecendo ou a permanecer completamente indiferente a isso. Sua aparente insensibilidade às informações relativas às atrocidades cometidas pelos sérvios não deixa de levantar muitas questões. Porque se o regime usar as cordas da propaganda, a população pode ter acesso a outras fontes de informação, seja por meio da mídia estrangeira ou da oposição. A situação da mídia na Sérvia em 1992 não tem nada a ver com a da Alemanha, em 1942. Então, por que essa indiferença interior, em um mundo que é dito, no final do XX século, a de comunicação internacional transparente? Vários argumentos foram apresentados. °
"Eles bateram na distância do braço, cortaram sem escolher ninguém" “No dia em que começou a matança em Nyamata, na rua do grande mercado, corremos para a igreja paroquial. Uma grande multidão já se reuniu, porque é costume ruandês refugiar-se nas casas de Deus quando começam os massacres. O tempo nos deixou dois dias de paz, então os soldados e a polícia comunitária vieram fazer uma ronda de vigilância em volta da igreja, gritaram que íamos todos morrer. Lembro que hesitamos em respirar e falar. O Interahamwe chegou cantando antes do meio-dia, jogou granadas, arrancou os portões, depois correu para a igreja e começou a cortar as pessoas com facões e lanças. Usavam folhas de mandioca no cabelo, gritavam com toda a força, riam com vontade. Eles batiam com o braço estendido, cortavam sem escolher ninguém. “Pessoas que não derramavam sangue derramavam sangue de outras pessoas, isso era importante. Então eles começaram a morrer sem protestar mais. Houve um grande alvoroço e um grande silêncio ao mesmo tempo. No meio da tarde, a Interahamwe queimou crianças pequenas em frente à porta. Eu os vi com meus olhos se retorcendo com ardor enquanto vivo, na verdade. Havia um cheiro forte de carne e óleo. “Não tinha mais detalhes sobre minha irmã mais velha, estava confusa. No final da tarde fui atingido por um martelo, caí, mas consegui vagar e me esconder na companhia dos meninos atrás de um portão. “Quando a Interahamwe terminou o trabalho do dia, jovens da nossa região, ainda com coragem de escapar para o mato, me carregaram nas costas. “A Interahamwe acabou com a matança na igreja em dois dias; e imediatamente eles saíram em nossas trilhas na floresta, com porretes e facões. Eles procuraram atrás dos cães para alcançar os fugitivos sob os galhos. Foi aqui que fui pego. Ouvi um grito, vi um facão, recebi um golpe na cabeça e caí em um buraco. “Primeiro eu devia estar morto, depois insisti em viver. "
Testemunho de Cassius Niyonsaba, extrato de Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie. Histórias dos pântanos de Ruanda . © Le Seuil, 2000, p. 15-17, reed. col. "Points", 2002.
“Os agressores de Musebeya usavam folhas de bananeira, principalmente em uma coroa em volta da cabeça, e tinham lanças. Os de Karambo usavam folhas de bananeira no cinto e outras amarradas nos ombros e no peito. Eles tinham porretes armados com pregos. “Eu vi membros da gendarmerie disparando contra as casas de construção sólida cujas paredes não se quebraram tão facilmente quanto as feitas de terra e adobe. Já vi casas pulverizadas com gasolina para que queimem melhor. “Os atacantes faziam muito barulho e tinham apitos. Eles gritavam: “Precisamos exterminar todos eles”. Eles encontraram pessoas se escondendo à noite e gritaram para outras pessoas com seus apitos. “Eles pareciam estar sob a influência da maconha às vezes. “As mulheres seguiram os saqueadores. Eles também fizeram uma espécie de verificação detalhada para descobrir quem estava se escondendo. Por exemplo, eles podiam dizer quem estava dentro de uma casa olhando para o tipo de roupa que estava secando lá fora. “Naquela época, também havia barreiras. Eles prenderiam todos para ver se as pessoas eram minha família e, se fossem, seriam mortas. Aqueles que fugiam à noite encontraram barreiras. Quando saí da floresta, fui até Gasenyi e vi um incêndio. Ele me disse que havia uma barreira; se não fosse pelo fogo, eu teria ido direto para a barreira. "
Extrato de Alison Des Forges, Nenhuma testemunha deve sobreviver. O genocídio em Ruanda . © Karthala, 1999, p. 380-381. Primeiro, a capacidade do regime de fingir que a Sérvia não está em guerra. Esta cultura política da aparência, que decorre em parte da experiência anterior do comunismo, mantém a população sérvia numa espécie de “bolha” tranquilizadora, fora da realidade. Esse mecanismo de proteção é fornecido principalmente pela mídia oficial, que dá uma visão totalmente desrealizada da situação. Uma pesquisa em junho de 1992 mostrou, por exemplo, que dois terços da população da Sérvia não sabiam quem cercou e bombardeou Sarajevo . A poucos quilômetros da cidade sitiada, as aldeias sérvias parecem viver em paz, como se nada tivesse acontecido. Em geral, a população pensa que os horrores vêm de ambos os lados, mas que os sérvios foram os primeiros alvos de qualquer maneira: eles são, portanto, as vítimas. Essa cultura de vítima reflete melhor essa atitude de indiferença do que apenas a manipulação da mídia. Se os sérvios são geralmente insensíveis ao sofrimento que podem causar, é porque só veem o próprio sofrimento como um povo martirizado, considerando que sofreram um "genocídio" durante a Segunda Guerra Mundial. “Essa obsessão por não ser mais vítimas nos transformou em algozes ”, reconheceO ex-presidente sérvio da Bósnia Biljana Plavsic nasceu durante seu julgamento. É precisamente porque não querem conhecer um destino idêntico que pretendem se defender. Em nenhum momento a população da Sérvia parece perturbada pela guerra na Bósnia e na Croácia. O reflexo unitário opera, é claro, na adversidade; mas, observa Slavenka Drakulic, “o autismo demonstrado pelos sérvios é assustador e incompreensível ”. Um "autismo" que anda de mãos dadas com a real negação da realidade de que fala Jean-Arnault Dérens, por exemplo de um amigo sérvio da cidade de Bijelina, no nordeste da Bósnia, onde muçulmanos estão a ser massacrados de abril de 1992, enquanto vários milhares deles estavam estacionados no centro da cidade: “Uma espécie de gueto foi assim criada nesta cidade, da primavera de 1992 a janeiro de 1994. Mas seu 97
98
99
amigo, que afirma político, passou pelas ruas bloqueadas sem fazer perguntas. E ninguém parecia se importar mais do que ele . " Além disso, o peso de uma cultura autoritária voltada para legitimar o regime vigente também pode ser parcialmente invocado. Cultura autoritária que se origina nas profundezas da sociedade rural iugoslava, paternalista e conservadora, na qual o comunismo floresceu. É principalmente a parte rural da Sérvia, bem como os aposentados dos subúrbios de Belgrado, que apoiam Milosevic. Da mesma forma, na Croácia, a fortaleza tradicionalista de Tudjman é encontrada principalmente na Eslavônia. Do ponto de vista de suas bases sociais, os regimes nacionalistas de Milosevic e Tudjman são, portanto, um tanto semelhantes. Mas também adquirem, não nos esqueçamos, uma legitimidade eleitoral, pouco antes e durante a guerra, já que seus respectivos partidos vencem as eleições de 1990 e 1992. Como podemos imaginar que possam enfrentar um poderoso movimento hostil às suas políticas ? Além da coesão nacional favorecida por qualquer guerra, existe o embargo internacional declarado contra a Sérvia em 1992. Não só os alimentos são mais escassos e mais caros, mas quase 60% da população ativa sérvia está desempregada. técnico. A população, resignada e desiludida, está muito mais preocupada com as dificuldadesaumento das lágrimas da vida diária como massacres cometidos sabe-se lá onde. Em 1992-1993, a inflação foi considerada um mal necessário para a defesa do povo sérvio. Porque, apesar dessas dificuldades, o reflexo patriótico permanece, a mídia mantendo a ideia de um complô internacional arquitetado contra Belgrado. Há, porém, uma Sérvia que recusa a política nacionalista que levou o país à guerra. Isso se expressa principalmente nas dezenas de milhares de jovens que fogem de seu alistamento no exército. Mas esses protestantes sérvios não conseguem influenciar os acontecimentos politicamente, as organizações militantes pela paz permanecem pouco influentes, na Sérvia como na Croácia. Em julho de 1991, foi fundado em Belgrado o Centro de Ação Anti-Guerra que, ao estabelecer múltiplos contatos no exterior, desenvolvia dois tipos de atividades: ajuda a desertores e refugiados, e organização de manifestações públicas para a resolução pacífica de conflitos. Outra associação, que reúne cerca de quatrocentos intelectuais de todas as regiões da Iugoslávia, é a Círculo de Belgrado, fundada em 25 de janeiro de 1992. Esses escritores, artistas, jornalistas, etc., pretendem criar um espaço cívico que vá além da moldura partidos para mostrar que também há sérvios que desaprovam as políticas de seus líderes. Mas essas associações permanecem pouco conhecidas da população sérvia em geral, especialmente nas províncias. Não conseguem conter as profundas tendências políticas que as forças nacionalistas conseguiram implementar, através da defesa do território nacional. 100
Defesa territorial O clima político predominante consiste em estarmos juntos e nos defendermos juntos, em vez de estabelecer mediações pacíficas entre as nacionalidades. E os partidos da oposição, muitas vezes divididos entre si, nunca conseguiram desenvolver uma frente alternativa consistente com as políticas de Milosevic. Mas esta defesa do território pelo povo, os iugoslavos estão preparados desde o período de Tito. Com efeito, uma das originalidades do sistema de Tito é ter implementado uma inovação militar: a defesa territorial (ou TO: Territorijalna Odbrana) , fundada no princípio do “povo em armas”. Fundado na década de 1970, consiste em preparar a mobilização da sociedade em defesa da nação contra um inimigo potencial, tanto externo quanto interno. Supõe-se que essa
pré-militarização da sociedade tenha um efeito dissuasor sobre esse agressor que poderia vir do Ocidente, mas na verdade muito mais provavelmente do Oriente (União Soviética). Foi a invasão da Tchecoslováquia em agosto de 1968, decidida por Moscou a pôr fim à “Primavera de Praga”, que convenceu Tito a criar essa defesa territorial. Concebido assim como um mecanismo de autodefesa da sociedade civil, engloba fábricas, administrações e escolas, o que pode levar à mobilização de quase três milhões de pessoas. Na verdade, esta defesa territorial está colocada sob a responsabilidade de cada uma das repúblicas, o que leva o ex-ministro da Defesa, general Kadijevic, a acreditar que essa preparação militar da sociedade foi um fator importante para o enfraquecimento o próprio exército federal . Considerando a cadeia de eventos, ele não está errado . Segundo Marina Glamocak, “o processo de armamento que leva à guerra e ao advento da limpeza étnica foi realizado justamente por este meio de defesa territorial”, que “serviu de núcleo constitutivo dos exércitos nacionais” . O papel das defesas territoriais é justamente defender o território percebido como legítimo. No final da década de 1980, com a passagem do arcabouço federal para o nacional, os alicerces dessa legitimidade estavam cada vez mais abalados. É a reorganização dessas fidelidades políticas que conduz concretamente à vontade de reorganização dos territórios e, consequentemente, à reestruturação das unidades de defesa territorial. Os espaços de cada cidade, de cada aldeia, são assim redefinidos com base no critério etno-nacionalista: cada território deve ser defendido de armas na mão. Isso significa que devemos agora afugentar todos aqueles que, dentro deste espaço, não são mais reconhecidos como membros do grupo? A exclusão ainda não é automática. Na Bósnia, não é incomum ouvir novamente: “Conhecemos bem esses muçulmanos que vivem ao nosso lado. Claro, eles não são sérvios ou croatas; mas eles são bons vizinhos. Eles não têm nada a ver com esses imundos bósnios aliados dos turcos, saqueadores e estupradores ”, etc. A proximidade de boas relações de vizinhançasempre prevalece sobre a praga do discurso ideológico e protege da exclusão. Mas por quanto tempo? Para que haja uma ruptura final, ainda deve haver um ataque a esse laço social por elementos externos. É a ameaça - então a realidade do ato - que cristaliza a violência e provoca o massacre. Assim que o risco se torna iminente, as palavras mudam repentinamente: “Vizinho, nós gostamos de você. Sempre nos demos muito bem. Mas você entende: você é muçulmano. Eu sou sérvio. Estou dizendo para você ir. Porque se você não for, amanhã será tarde demais. E quando esse amanhã chegar, aqui está realmente um raio caindo sobre a aldeia, pelo menos uma certa parte da aldeia. Essas milícias político-mafiosas, vindas da Sérvia ou da Croácia, apoiadas pelo exército, penetram ali. Podemos imaginar o resto. O dano está feito. Mulheres foram estupradas. Casas estão em chamas e cadáveres jazem aqui e ali. A mesquita está destruída. Muitos observadores apontam: a maioria dessas operações de limpeza étnica parece ter sido realizada por milícias. Não temos descrições, como no caso de Ruanda, de multidões participando das matanças. “A limpeza étnica é mais comumente obra de milicianos e soldados contra civis do que vizinhos contra vizinhos ”, enfatiza Anthony Oberschall. Por exemplo, em dezessete ataques a vilarejos durante a "limpeza étnica" de Prijedor, na Bósnia, em maio-junho de 1992, ele descobriu que o agressor usava uniforme militar ou paramilitar em quatorze entre dez ataques. sete, os sobreviventes não reconhecendo nenhum de seus agressores, que nem se preocuparam em esconder seus rostos. “Esses guerreiros operetas acamparam abertamente na delegacia Prijedor . Claro, quando as milícias estão lá, alguns vizinhos podem informá-los sobre quem deve ser caçado ou morto e participar das operações. Outros são obrigados a aderir, sob o olhar atento dos 101
102
103
104
paramilitares. Mas esta participação ativa de civis ainda parece limitada, observação também feita em vários casos de guerra civil . Essas operações desencadearam grandes movimentos de refugiados durante a noite, tentando fugir da zona de combate. E a chegada desses refugiados em outra região, ainda não afetada, pode se tornar uma fonte de tensão considerável e, portanto, de aumento da violência. Os procedimentos do Tribunal Criminal Internacional para a ex-Jugoslávia às vezes destacam este aspecto do conflito, como no julgamento de um caso na Bósnia Central, que está relacionado ao conflito entre muçulmanos e croatas de 1992-1993 . Em abril de 1992, os bósnios muçulmanos e croatas resistiram pela primeira vez, lado a lado, ao ataque lançado pelos sérvios no leste e oeste da Bósnia e Herzegovina. As operações de "limpeza étnica" criaram então um fluxo significativo de refugiados croatas e muçulmanos, que fugiram para o centro da Bósnia, onde sua chegada causou superpopulação e tensões entre as duas nacionalidades. Em torno de Ahmici (centro da Bósnia), esse enorme fluxo de refugiados contribui para aumentar o medo, criando assim um clima propício ao surgimento da violência. Seguiram-se operações de "limpeza étnica", desta vez orquestradas pelos croatas contra muçulmanos, mortos ou forçados a partir. É como se a violência e o massacre tivessem contribuído para “limpar” esta região, que foi varrida pela desordem e instabilidade com a chegada destes refugiados. Ao causar separação, o massacre visa recriar a ordem e a tranquilidade. Aos poucos, a violência tende a se espalhar em um país onde o antigo poder central não é mais capaz de garantir a paz entre as várias comunidades. Outra conseqüência deste colapso político é promover a emancipação dos atores locais que então se arrogam o direito de exercer a violência por conta própria. Como o Estado não é mais capaz de garantir a lei e a ordem, eles aproveitarão a oportunidade para fazer reinar sua própria lei, resolvendo conflitos anteriores com os vizinhos, se necessário. Desde a primavera de 1992, a situação na Bósnia oferece muitos exemplos. O antropólogo holandês Marc Bax realizou um notável estudo de campo nessa direção na região de Medjugorje, no sudoeste da Bósnia-Herzegovina . Este lugar apresenta uma interessante 'condenaçãoentre forças espirituais e bélicas, típica do nacionalismo católico croata (muito próximo de terras muçulmanas e ortodoxas). Porque Medjugorje se tornou um lugar internacional de peregrinação desde que a Virgem apareceu a seis crianças em 1981 . Nesta aldeia também reside o principal senhor da guerra da região, Zdravko Primorac, um ex-soldado croata, que dirige uma fábrica de munições lá, entre outras coisas. O centro de peregrinação é dirigido por franciscanos, que ao mesmo tempo apóiam as atividades daquele conhecido na região como “Capitão Zdravko”. De junho de 1992 a março de 1994, este último operou, com seu próprio "exército" de mercenários e o apoio de católicos nacionalistas, várias operações de "limpeza étnica", das quais os muçulmanos foram as principais vítimas. No entanto, a investigação de Bax mostra que, além dessa questão étnica, muitas outras questões estão no centro dessas ações: aqui, o desejo de vingança contra famílias muçulmanas com inveja do sucesso de Medjugorje (onde milhares de peregrinos se reúnem ), há a eliminação de uma aldeia cuja localização impede o livre acesso à estrada pela qual os homens de Zdravko obtêm sua gasolina, em outro lugar ainda o massacre de uma família muçulmana que havia adquirido o monopólio de produção de vinho na região, uma situação que a longo prazo criou profundo ressentimento entre os vinicultores croatas. Outra dimensão local da guerra na Bósnia ainda reside no antagonismo cidade / campo, a ponto de Bogdan Bogdanovic, ex-prefeito de Belgrado, inventar a palavra “urbicídio” para descrever a particularidade dessa violência destrutiva contra as cidades . A origem do conflito, 105
106
107
108
109
portanto, não é mais "étnica" aqui, mas vem antes de tudo de um mundo rural que se sente oprimido pela evolução da modernidade e que pretende rejeitá-la atacando o que em primeiro lugar: a vida urbana, um lugar de diversidade, cultura, riqueza, etc. "A guerra é [claro] primeiro uma guerra rural, rural contra rural, primeiro nas aldeias ao longo do Sava na Eslavônia, observa Jean Hatzfeld, depois rural contrahabitantes da cidade, quando as primeiras bombas caíram sobre as cidades. Os cercos de Vukovar, Osijek, Dubrovnik, Bijelina, Mostar ou Sarajevo não deixarão de confirmar este espírito de vingança do campo, dos “caipiras”, dos aldeões, dos montanheses, principalmente sérvios na Bósnia, e que tentam rebentar contra as cidades , indústrias, negócios, edifícios, museus, principalmente muçulmanos e croatas. Os confrontos entre grupos étnicos ensombraram este outro conflito, mais feroz, mais desesperado e também mais mortal, entre o mundo rural, condenado como em toda a Europa, e os citadinos que triunfam . Em outras palavras, como em Ruanda, vemos que a dinâmica étnica do conflito é de fato atravessada por outras questões que são enxertadas e às vezes até parecem prevalecer. Elementos externos a uma região que estimulam a violência, um afluxo de refugiados que pode aumentar a tensão, atores locais que se aproveitam da situação para seus próprios interesses: podemos ver como os fatores de desenvolvimento dos massacres são diversos e interagem. com os outros. São eventos complexos, construídos tanto por atores centrais quanto locais, ambos adaptando seu comportamento destrutivo de acordo com a adesão ou intervenção de terceiros próximos ou distantes. Em suma, o massacre é o produto de uma coconstrução entre uma vontade e um contexto, podendo a evolução do segundo modificar o primeiro. O processo de destruição pode, assim, passar por fases de trégua, bem como súbitas acelerações, chegando a levar vítimas que não estavam inicialmente previstas. Na França de Vichy, por exemplo, Pierre Laval tomou a iniciativa de prender os filhos de pais judeus que estavam destinados à deportação, após a 'captura' do Vel 'd'Hiv' em 1942, o que os nazistas fizeram não tinha perguntado. Essa corrida precipitada pode causar, em outras circunstâncias, um fenômeno de contágio de massacres, como a guerra na Bósnia, onde as práticas de "limpeza étnica" acabam atingindo todas as comunidades - sérvias, croatas e muçulmanas. . Tudo isso valida a abordagem do massacre como um processo dinâmico,certamente organizado, mas também sujeito a certas inflexões relativamente aleatórias. 110
Salva-vidas comuns Devemos ter em mente, entretanto, que se a violência e a morte prevalecem, outros atores locais estão tentando ao mesmo tempo salvar vidas. Nessas situações extremas, a passagem para o ato não deve ser considerada apenas ao lado das linhas de destruição, mas também de resgate. Na verdade, a guerra dá origem a histórias de terror e histórias de proteção mútua e serviços prestados, embora limitados. Existem salvadores comuns, bem como assassinos comuns. Na Europa nazificada, sabemos que indivíduos - e também, às vezes, comunidades humanas participaram da festa para ajudar aqueles que eram perseguidos, em primeiro lugar os judeus, estabelecendo uma verdadeira resistência civil para resgatar . Na França, a história da aldeia de Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), que acolheu e protegeu judeus (incluindo muitas crianças) desde o início da guerra , é bem conhecida: Le Chambon tornou-se o um dos símbolos internacionais da ação dos “Justos” . Também seria aconselhável escrever uma história comparativa das “aldeias de resgate”, porque existiram algumas outras, como Dieulefit, todas elas.dias na França (Drôme) ou Nieuwlande (Holanda). No caso da Bósnia, o livro de Svetlana 111
112
113
Broz (neta do marechal Tito), Good People in the Evil , conta diversas histórias positivas, que vão desde exemplos de autoajuda individual a casos de maior resistência. coletiva, como em Baljvine, uma aldeia nas montanhas (ao sul de Banja Luka) onde sérvios e muçulmanos continuaram a viver juntos ... e onde a mesquita permaneceu intacta. “Os sérvios em Baljvin, de fato, sempre se opuseram à passagem dos paramilitares: eles estavam pagando, por assim dizer, uma dívida de cinquenta anos, já que os muçulmanos nesta aldeia haviam protegido eles próprios os sérvios durante a Segunda Guerra Mundial . " Em Ruanda, a comuna de Giti (prefeitura de Byumba) também é conhecida por ter salvado “seus” tutsis, graças à determinação de Bourgmestre Sebushumba. Na própria Kigali, alguns locais de asilo permanecerão, como o Grand Hôtel des Mille Collines. Sem dúvida, isso ocorre porque ainda há "alguns raros observadores estrangeiros " na capital, estima o jornalista americano Philip Gourevitch. Observe também a natureza das táticas daqueles que conseguem deter os assassinos. Paul Rusesabagina, diretor interino do Grand Hôtel des Mille Collines, dá cerveja e dinheiro aos soldados e milicianos que vêm em busca de quem ele protege. O Bispo Joseph Sibomana, da diocese de Kivungo, não faz mais nada, dando todo o seu dinheiro aos milicianos Interahamwe que se apresentam para matar os tutsis escondidos em sua igreja . Nas colinas, havia também equipes de resgate comuns que deveriam ser investigadas: uma família hutu às vezes corria riscos muito grandes para proteger uma família tutsi. Outro fato marcante: dentro da pequena comunidade muçulmana do país (1,2%), o sentimento de reconhecimento mútuo, como grupo social eminoria religiosa, foi mais forte do que o critério étnico. Conseqüência: muitos tutsis foram protegidos lá, mesmo que os ruandeses muçulmanos também pudessem participar das mortes de . Os hutus voltaram a cooperar com os tutsis para repelir ataques de milícias ou para fugir juntos para locais de refúgio. Freqüentemente, os hutus que tomavam tais decisões não eram guiados apenas por suas opiniões políticas, mas também por causa dos laços de amizade ou de família que mantinham com os tutsis. No exato momento dos assassinatos, a existência de um sentimento de desaprovação não é incomum, como sugere o depoimento de uma mulher hutu que testemunhou o massacre na igreja de Nyamata: “Muitos espectadores compareceram. Felizes por verem os tutsis morrerem, gritaram: “Acabou, os tutsis! Vamos nos livrar das baratas! ” Também posso dizer que muitas pessoas ficaram muito indignadas ao vê-los matar e queimar tanto. Mas era muito perigoso proferir mais do que murmúrios de protesto, porque os Interahamwe mataram, sem confusão, os hutus em boa harmonia com os tutsis de sua vizinhança . " 114
115
116
117
118
119
Resista, a força do desespero Não vamos supor também que as vítimas atormentadas por seus perseguidores permaneçam sempre passivas enquanto aguardam em silêncio seu fim. O clichê de que os judeus concordaram em ir como ovelhas para o matadouro ignora a tragédia paralisante de indivíduos indefesos ameaçados de morte. O interesse do trabalho comparativo é mostrar que as vítimas reagem mais ou menos da mesma forma em uma situação de estresse intenso. Quer sejam judeus, muçulmanos ruandeses ou bósnios, quanto mais são socialmente marginalizados, menos têm a capacidade de reagir coletivamente. É como se estivessem cada vez mais paralisados pela situação, à medida que a morte se aproxima. Certos indivíduos, porém mais conscientes do que outros, ainda demonstram sua capacidade de interpretar corretamente a situação e de tudo fazer para sobreviver a ela. O
psicanalista americano Bruno Bettelheim escreveu sobre este assunto nas páginaspenetrando . Além disso, alguns exemplos históricos atestam essa capacidade de resistência das vítimas em situação de extremo perigo, nas duas pontas da cadeia do processo de sua destruição. Para evitar a deportação, certas associações judaicas foram criadas clandestinamente, como a Children's Relief Organization (OSE) na França ou o Comitê para a Defesa dos Judeus (CDJ) na Bélgica. Quanto à insurreição armada no gueto de Varsóvia em 19 de abril de 1943, bem como às revoltas de prisioneiros judeus dentro dos centros de extermínio de Treblinka (2 de agosto de 1943) e Sobibor (14 de outubro de 1943), eles permanecem como momentos excepcionais de resistência que o ser humano pode entregar com a energia do desespero, sabendo que está condenado à morte. Precisamente porque estão cientes de que mais cedo ou mais tarde serão condenados, encontram em si próprios a força para se levantar contra os seus torturadores, para travar uma última luta em que possam salvar a sua honra, sem conquistar a sua liberdade. Tais eventos são semelhantes à resistência armada feroz que os refugiados tutsis em Bisesero, Kibuye cornija montanhosa da região se opõem a seus atacantes hutus de 8 de abril a 1 de julho de 1994. Enquanto se esconder na mata circundante, vida cada vez mais como animais caçados, os tutsis enfrentam seus agressores. Mesmo que matem cada vez mais, voltando com mais homens e armas para “limpar” essa região que já foi local da resistência tutsi em 1959, os sobreviventes ainda encontram forças para lutar. Em particular, eles usam a chamada tática de “imersão”, que consiste em deitar e esperar que os agressores se aproximem e, de repente, levantar-se para encarálos. Também noutros locais, até agora não necessariamente identificados, pequenos grupos de tutsis lutaram corpo a corpo contra os seus agressores, aqui nas suas casas, no campo ou nas estradas . Na Bósnia, os muçulmanos também procuram se defender. Eles certamente estão muito mal preparados para a guerra, tendo poucos recursos militares.Seu líder, Izetbegovic, pede o levantamento do embargo de armas imposto pela ONU: "Vamos nos defender", ele pede ao Ocidente. Em 1993, esse pequeno exército bósnio seria formidável contra os croatas, em particular durante o cerco de Vittez. Mas, frente aos sérvios, tem muito poucas armas pesadas (tanques e canhões de grande calibre). No entanto, unidades desse exército bósnio se destacaram contra os sérvios, por exemplo, na batalha pela captura de Bihac. Durante esses confrontos, os próprios combatentes bósnios podem cometer atrocidades, como em Bratunac em janeiro de 1993. Simultaneamente, Izetbegovic tenta implementar uma estratégia diferente da força armada. Aproveitando a cobertura mediática do conflito, ele se esforça para apresentar os bósnios, perante a comunidade internacional, como vítimas inocentes, a fim de acelerar a intervenção militar das grandes potências. Essa estratégia de vitimização leva os muçulmanos bósnios a serem acusados de bombardear sua própria população para despertar a compaixão internacional, como no caso do bombardeio do mercado de Markalé em 5 de fevereiro de 1994 . No entanto, essas ilhas de humanidade e essas tentativas de resistência geralmente permanecem raras e limitadas. Assim que a dinâmica assassina cresce, tende a adquirir força própria, que ninguém parece ser capaz de deter. Depois de terem começado na Polônia e depois na União Soviética, as operações de destruição dos judeus se espalharam por toda a Europa durante o ano de 1942. Na Bósnia, a história parece se repetir: as regiões onde os massacres são o mais terríveis são as que foram palco, durante a Segunda Guerra Mundial, de outros massacres (de sérvios por croatas): o leste da Bósnia, por um lado, e a região de Kozara e Prijedor, a oeste, por outro lado. Em Ruanda, depois de concentrados em Kigali e no centro do país, os massacres se espalharam para as regiões leste e sul, que até agora resistiram às pressões dos extremistas. Tudo 120
st
121
acontece como se um verdadeiro ciclone tivesse surgido, vindo para devastarum país inteiro, senão um continente; um ciclone que, no entanto, demonstra discernimento, selecionando suas vítimas para apagá-las da terra; um ciclone contra o qual os abrigos quase sempre parecem insignificantes, e seu poder devastador parece ilimitado.
As morfologias da violência extrema A violência assim desencadeada parece imparável. Torna-se extremo porque tende para o extremo . Pode-se ver no uso de tal palavra o traço de um juízo normativo: "extremo" comparado a quê? No entanto, aqui dou-lhe um sentido quase matemático: o de uma violência que tende para o extremo, como dizemos de um valor, numa equação, que tende para o infinito. Tendência do ponto de vista quantitativo: tende a produzir milhares, dezenas, centenas de milhares de mortes. Tendência do ponto de vista qualitativo: tende a produzir atos de crueldade e atrocidades no corpo, antes e depois da morte, que estão além da compreensão. As características dessa violência extrema fazem pensar, além disso, no que Clausewitz escreve sobre a guerra, quando percebe justamente que uma de suas propriedades é sua tendência a extremos. Mas, para Clausewitz, a política deve assumir as rédeas deste cavalo de fogo que é a guerra. A política faz da guerra um instrumento, atribuindo-lhe objetivos e condições. Um "algo" então impede a guerra: um tabu, uma proibição moral, um limite político - em suma, uma barreira. Mas, nos casos examinados aqui, não há mais barreiras, nem mais freios parecem conter a onda de violência. Podemos, então, especificar as variáveis desta equação assustadora, que parece tender a violência para o ilimitado? À luz dos casos examinados aqui, argumentarei que essa equação se baseia em uma combinação particular de poder, guerra e ideologia. O poder político em primeiro lugar, porque, ao contrário da visão de Clausewitz, se trata de uma forma de poder político que já não desempenha qualquer papel na contenção da violência. É até exatamente o oposto: o político "adiciona" e chicoteia o cavalo de fogo para forçá-lo a ir mais rápido e sempre causar mais estragos. No entanto, o animal não está sozinho. Sua energia destrutiva é direcionada para vítimas específicas de que ele precisaesmagar em seu caminho. A política parece buscar um propósito transformador por meio da destruição. Quanto mais esse poder é dotado de meios de poder, mais a violência resultante será devastadora em vidas humanas. Se o poder mata, Rudolph Rummel nos diz, "o poder absoluto mata absolutamente". A fórmula parece cair no sentido: quanto menos liberdades um povo tem, mais ele está sujeito à violência do poder que o oprime. Sem os freios e contrapesos de um sistema democrático, o poder é liberado. Rummel é principalmente os estados comunistas do XX século, ele argumenta que eles eram mesmo os assassinos de seus próprios povos que os estados fascistas. Mas seu propósito é mais geral: se a ciência política consiste no estudo do poder, do ato de governar, então deve explorar muito mais as fontes políticas desses governos que transformam os Estados pelos quais são responsáveis. em imensas valas comuns. No entanto, a abordagem de Rummel permanece simplista porque ele não se pergunta quando e em que circunstâncias esses poderes se tornam destrutivos para seus povos ou para os povos que conquistam. Porque eles não estão matando permanentemente suas próprias populações ... Eles também passam por fases de trégua, de aparente calma. Como explicar isso? Vamos apresentar um raciocínio um tanto paradoxal para isso. De fato, um poder verdadeiramente poderoso, precisamente porque parece forte, não precisa perpetrar um assassinato em massa: pode se contentar em exibir esse poder sem recorrer a ele. Maquiavel não considera que a essência do poder está em "fazer crer"? Consequentemente, o raciocínio pode ser invertido: a prática do massacre não seria na realidade a marca de um poder forte, mas sim de um poder que se sente vulnerável e que aspira, por meio do massacre, a não mais o estar. Se este poder for contestado, ele pode então decidir expressar seu poder por meio de massacre, a fim de recuperar °
sua autoridade. O assassinato em massa seria então a expressão manifesta de uma crise do Estado, da qual este procuraria precisamente sair ... através do massacre. De estado ameaçado para estado ameaçador A este respeito, pelo menos três situações de crise podem ser distinguidas. A primeira é a de uma potência em construção que, por impor-se a todos, não hesita em recorrer à prática do massacre. Assim, para o historiador Jean-Clément Martin, não se podem compreender os massacres da Revolução Francesa (começando pelos de Vendée) sem ter em mente que são a expressão paradoxal da fragilidade do poder do Estado. O mesmo se poderia dizer dos massacres perpetrados pelas forças de Tito no final da guerra para que se firmasse como o novo líder militar e político da Iugoslávia comunista. Da mesma forma, a ultraviolência do Khmer Vermelho no Camboja pode ser explicada pelo fato de que eles são e saberiam que são uma ultraminoria. Estes poderes revolucionários sentem-se pressionados pelo tempo: para se impor a todos e, o mais rapidamente possível, não hesitam em usar os meios mais brutais de violência. Assim, eles se engajam em uma espécie de guerra contra os civis, com recurso ao massacre com o objetivo de superar uma posição de fraqueza para garantir sua ascendência sobre as populações. Se "o estado faz a guerra tanto quanto a guerra faz o estado", para usar a frase de Charles Tilly, o mesmo se dirá do massacre. Outro cenário é o de um Estado já estabelecido, mas cuja legitimidade é fortemente contestada, com os indivíduos tendendo a se reapropriar do direito à violência, não aceitando ou não aceitando mais a fidelidade a esse poder. A situação na ex-Iugoslávia, cuja unidade federal é minada por várias correntes nacionalistas separatistas, insere-se neste cenário, que leva à formação de novos Estados-nação nos Bálcãs . Essa é a principal fonte das guerras contemporâneas, segundo o cientista político canadense Kalevi Holsti: é a falta de legitimidade de um Estado que é ao mesmo tempo causa e conseqüência de seu colapso . O resultado é uma mistura de anarquia e tirania que preside à contestada constituição de novas unidades. A guerra, incluindo o massacre, leva então à formação desses novos poderes que muitas vezes se misturam bem com as redes político-mafiosas do crime organizado. A terceira situação é a de alguns Estados que, empenhados na guerra, se encontram numa posição de incerteza, até mesmo de vulnerabilidade, quanto ao desfecho deste conflito. Lutando contra um inimigo de cada vezexternos e internos, esses poderes tendem a destruir seu inimigo interno com ainda mais energia quando deixam de se impor na frente militar externa. Em última análise, quanto mais esses poderes sofrem uma derrota contundente na guerra, mais se empenham em exterminar o inimigo interno que está ao seu alcance, sendo este último considerado cúmplice desse inimigo externo. Esta é a situação em Ruanda no início dos anos 1990: o RPF está efetivamente ameaçando tomar o poder em Kigali, porque as forças armadas do governo oferecem pouca resistência. Também se pode pensar que se a França não tivesse então vindo em ajuda do presidente Habyarimana, este regime teria entrado em colapso bem antes de 1994. No entanto, como os extremistas hutus estabelecem uma ligação estreita entre o desenvolvimento desta ameaça tutsi de por fora e por dentro, eles concluem que, para vencer a guerra, é preciso destruir essa ameaça interna. Um raciocínio bastante semelhante ainda pode ser aplicado ao caso dos armênios, cujos massacres são cometidos após uma severa derrota dos turcos contra os russos, em 1915, em um 122
123
contexto de guerra em que a minoria armênia do Império Otomano é visto pelo jovem governo turco como cúmplice e aliado da Rússia. No caso da Alemanha nazista, vimos que historiadores como Philippe Burrin ou Christian Gerlach relacionaram o desenvolvimento cada vez mais preocupante da guerra, do ponto de vista de Berlim, e a decisão de " Solução final ". Esta abordagem comparativa prova que eles estão bastante certos quando avançam o argumento segundo o qual a decisão de matar todos os judeus da Europa não pode ser isolada do fato de que os alemães perceberam, desde o outono de 1941, que eles não não será capaz de vencer a guerra que eles começaram contra a União Soviética. Seria, portanto, com a consciência de um fracasso por vir, que Hitler teria tomado a decisão de vencer pelo menos em seu outro objetivo fundamental: o extermínio dos judeus. Qualquer poder em posição de vulnerabilidade, entretanto, geralmente não reage massacrando parte de sua população. No XIX século, Áustria-Hungria, minada por todos os lados pelos movimentos nacionalistas, não reagem desta maneira. Da mesma forma, os líderes franceses, cujo país foi invadido em 1870 pelo exército alemão chegando às portas de Paris, não imaginavam que a melhor maneira de se defender fosse convocar a população francesa para massacrar todos os compatriotas que pudessem ter algum simpatia pelo invasor. Enquanto os estados nazistas e ruandeses estão cada vez mais engajadosna destruição de seus “inimigos” internos, ao encontrarem dificuldades crescentes no front militar, é porque estão predispostos a isso, pelo próprio fato de sua constituição. Na verdade, a particularidade desses Estados é que eles construíram sua identidade contra um "Outro" condenado ao ostracismo e demonizado. É, por assim dizer, a sua marca original que determina a sua forma de estar no mundo como Estados. Além disso, em uma situação de grave crise que ameaça a curto ou médio prazo sua existência como Estados (como pode ser uma guerra que correm o risco de perder), sua profunda inclinação é querer sobreviver não apenas por marginalizando este "Outro" à custa do qual eles próprios se construíram, mas indo ao ponto de destruí-lo. Esta é uma reação paroxística, induzida pelo perfil de identidade desses estados. E só a ideologia, que está em sua origem e que, portanto, influencia profundamente a definição de seus objetivos, pode finalmente explicar suas inclinações destrutivas. Essa grade ideológica dita seu comportamento a ponto de suas ações parecerem "insanas". Mas até que ponto? Para o observador externo, a conduta desses poderes parece completamente irracional. Então, em 1944, quando o Reich quase perdeu a guerra, como entender os esforços de Adolf Eichmann, que persiste em deportar os judeus da Hungria e organizar a caça aos judeus da Grécia até as ilhas de Corfu e de Rodes? Os recursos que mobiliza nessas operações não seriam mais bem usados na frente de guerra? Jean-Pierre Chrétien faz o mesmo comentário sobre Ruanda: “Quando a 'guerra', que está na boca de todos, se concretiza no massacre de famílias de vizinhos, crianças, mulheres e idosos incluídos, e que durante esse tempo o O progresso do RPF continua, como não lembrar a mobilização de equipamentos e homens que, na Alemanha nazista, tinham sido designados para “abastecer” Auschwitz quando teria sido mais útil nas várias frentes do conflito mundial ? No entanto, esses comportamentos surpreendentes não deixam de ter coerência do ponto de vista de seus organizadores. Suas convicções ideológicas os levam a acreditar que a destruição das populações inimigas faz parte dos objetivos da guerra, assim como soldados lutando contra outros soldados. A frente externa não pode ser separada da frente interna, na medida em que o inimigo é "total", seja em uniforme ou em trajes civis. Esse entrelaçamento particular de poder, guerra e ideologia cria, portanto, as condições para a mistura explosiva que pode levar a violência a extremos. O potencial destrutivo da combinação desses elementos não é acidental. Cada um deles extrai-se das profundezas da imaginação descrita th
124
no Capítulo I : o poder depende da identidade, da guerra à segurança, da ideologia da pureza. E se esse processo de destruição é aceito coletivamente, é justamente porque está "enxertado" e prospera nesse pano de fundo imaginário a que todo indivíduo aspira. Pode então atingir uma verdadeira incandescência social - a da destruição purificadora. Da destruição parcial à destruição total Nesta fase, os processos de destruição ainda precisam ser diferenciados. Alguns param no caminho e resultam apenas na destruição parcial do inimigo. Outros parecem se recuperar indefinidamente, ampliar seu alvo, chegar ao ponto da aniquilação total. Os objetivos atribuídos ao assassinato em massa mudam com o tempo, à medida que o conflito e a guerra evoluem. O mesmo se aplica aos métodos de destruição, que podem mudar radicalmente dependendo de certas restrições locais ou internacionais, e assumir diferentes formas dependendo da cultura e da geografia dos países onde são implementados. Terminemos este capítulo traçando assim diferentes "morfologias" dessa violência extrema, do ponto de vista da evolução de suas tecnologias e de seus alvos. Comparar vários exemplos de assassinato em massa nos permite medir a inventividade que o homem pode demonstrar neste campo. É oportuno falar de um verdadeiro know-how de homicídio em massa que, dependendo do caso, utiliza elementos naturais (frio, fogo) ou objetos ou máquinas fabricados pelo homem (ferramentas, armas) para causar morte lenta ou imediata. Esses vários métodos de assassinato coletivo estão obviamente intimamente relacionados aos objetivos perseguidos. No caso dos judeus, a perspectiva de reduzi-los à escravidão no Oriente inicialmente prevaleceu sobre a de exterminá-los. É por isso que o processo de sua destruição manteve até 1942 uma função utilitária. Claro, os judeus foram chamados para morrer ... mas enquanto trabalhavam! Assim, o campo de concentração é ao mesmo tempo um local onde se trabalha e onde se morre, devido a tarefas exaustivas, condições climáticas (frio), desnutrição, etc. Doaté mesmo, o gueto que encerra a população judaica permite reduzir seu suprimento de alimentos, seu acesso à assistência médica, ao mesmo tempo em que a força a realizar certas atividades. Esses dois modos diferentes de confinamento, que concretamente tornam escravos os que ali estão "encerrados", provocam necessariamente sua morte lenta. Na linguagem dos nazistas, a expressão "trabalhar no Oriente" acabará significando para os judeus apenas a morte. Em Ruanda, essa fase “intermediária” do trabalho forçado não existe, exceto para tirar proveito das mulheres sexualmente antes de matá-las. Extremistas hutu não planejam explorar o trabalho dos tutsis; eles simplesmente querem que eles se vão. É por isso que os assassinatos de 1994 atingiram o radicalismo imediato. Em poucos dias, passamos de um estado de violência latente a uma sucessão de massacres que pretendem ser definitivos . Este paroxismo de violência está associado à fúria de um discurso exterminador: desta vez, "não os deixaremos ir"; implicando: "vamos matar todos eles." Isso resulta no rastreamento sistemático das técnicas tutsi, que se baseiam na organização de espancamentos com o auxílio da população, como se fossem animais silvestres a serem abatidos. As operações de “limpeza étnica” na ex-Iugoslávia nunca atingem tal intensidade. O ato de matar está associado ao de fazer as pessoas partirem. Os massacres não são um fim em si mesmos, mas um meio de semear o terror para apressar a fuga dos sobreviventes. Nesse sentido, as colunas de refugiados não são consequência dos massacres, mas seu objetivo essencial.
Além dessas diferenças gerais, esses assassinatos em massa têm algumas coisas em comum. Muitas vezes começam da mesma forma, sob o pretexto de eliminar as elites do grupo inimigo: elites políticas, intelectuais, econômicas, etc. O objetivo é destruir as capacidades de defesa do oponente, mirando-o na cabeça. A preparação destes primeiros assassinatos é feita por meio de listas pré-estabelecidas. Com base no caso iugoslavo, James Gow sugere chamar esse tipo de ação de “elitocídio”, termo judicioso que pode ser estendido a muitos outros exemplos . Ao mesmo tempo, o massacre é justificado pelos seus instigadores como um ato de guerra: mesmo que o inimigo esteja desarmado, ele representa uma ameaça a ser destruída. É, portanto, um “alvo militar” como tal. Essa representação, segundo a qual os civis são percebidos como combatentes mascarados, leva à prisão prioritária, depois ao assassinato, dos adolescentes e homens do grupo-alvo. Contanto que domineEsta representação belicosa do massacre, mulheres, crianças e idosos não são ameaçados com o mesmo destino que os homens considerados em idade de lutar. No entanto, essas pessoas poupadas sofrem o impacto total de várias outras formas de violência: perda de seus pais, filhos, irmãos ou maridos, destruição de suas casas, desenraizamento pela fuga e exílio, para não mencionar as várias violências sexuais que podem ser sofridas em principalmente mulheres (com exceção das mulheres judias no caso da Alemanha III Reich, com quem o contato sexual é proibido). Um salto qualitativo considerável é dado na dinâmica da violência extrema quando o alvo é estendido a mulheres, crianças e idosos. No decorrer de certas guerras civis, observa-se, portanto, que não só os líderes políticos e militares do inimigo às vezes são mortos, mas também suas famílias. No Kosovo, quando se iniciou a resistência armada na região de Drenica, foi o caso, por exemplo, da família Jashari, cujos combatentes homens não foram os únicos a serem executados pelos sérvios em fevereiro de 1998: todos os seus membros são assim, homens e mulheres, desde o filho mais novo até o patriarca. “Mais ainda, muito rapidamente aldeias inteiras são alvejadas e bombardeadas com armas pesadas, sob o pretexto de que devem abrigar“ terroristas ” . Em Kosovo, no entanto, essa extensão da meta para círculos familiares próximos permanece limitada e ad hoc. Nos casos da Alemanha nazista e de Ruanda, esse alargamento generalizou-se, não sendo mais respeitados os critérios de sexo e idade. Assim, depois de ter começado a matar, em junho de 1941, todos os homens em idade de lutar, as Einsatzgruppen , avançando atrás das linhas da Wehrmacht, começaram a massacrar mulheres e crianças a partir de agosto e setembro. Da mesma forma, em Ruanda, cerca de um mês após o início dos massacres em abril de 1994, mais e mais mulheres e crianças estão sendo mortas, sob o pretexto de que mulheres tutsis só podem dar à luz crianças tutsis ( argumento que vai contra a tradição ruandesa que pretende que a identidade étnica da criança seja a do pai). Já que as crianças são quase sistematicamente mortasNão há dúvida de que um processo genocida está em andamento. A própria evolução dos assassinatos em Ruanda fomentou essa dinâmica. Na verdade, os fugitivos, que procuravam escapar do massacre, tendiam a se reunir em lugares onde achavam que estavam seguros, por exemplo, em igrejas. As próprias autoridades locais deram-lhes esse conselho: por exemplo, o prefeito de Kibuyé, Clément Kayishema, que pede aos tutsis para irem ao estádio Gatwaro próximo (apresentado como uma zona de proteção), ou o bispo Augustin Misago ( Bispado de Gikongoro), que pede aos tutsis que deixem sua igreja para ir ao local de uma escola em construção em Murambi. Na verdade, eram armadilhas que permitiam às milícias e às forças policiais e militares matar com mais facilidade milhares, senão dezenas de milhares de pessoas reunidas desta forma, homens, mulheres e crianças. 125
e
126
Outro critério decisivo: a expansão geográfica do alvo. Na ex-Jugoslávia, apenas alguns territórios da ex-federação são afetados pela "limpeza étnica". Nesse caso, os limites espaciais dos massacres estão ligados ao projeto político de seus organizadores: construir aqui uma “Grande Sérvia”, ali uma “Grande Croácia”. Em Ruanda, vimos como os extremistas hutus procuram instigar massacres em prefeituras que pretendem resistir à fúria da violência. Se tivessem os meios políticos e militares, provavelmente teriam procurado destruir a “ameaça tutsi” em outras partes da África Central, começando pelo vizinho Burundi . Mas eles dificilmente tiveram a chance por causa da vitória da RPF. Este não é o caso dos nazistas quando eles se tornam donos da Europa. Sua visão fundamentalmente racial do mundo os leva de fato a querer destruir "o judeu" onde quer que ele seja encontrado. Eles, portanto, não limitam suas ambições destrutivas às fronteiras da Alemanha. Eles estão travando uma guerra contra os judeus na escala do próprio continente, se não do universo. Essa extensão quase planetária do inimigo racial a ser destruído está intimamente ligada não apenas à natureza de sua ideologia, mas também ao contexto da guerra, que se tornouglobal. Além disso, foi em plena guerra mundial, ou seja, poucas semanas após o engajamento militar dos Estados Unidos no conflito, que se realizou a famosa conferência de Wannsee, em 20 de janeiro de 1942. Ainda sabemos que Hitler planejava partir apreender refugiados judeus no Japão ou residentes no Oriente Médio. Essa ambição "purificadora" verdadeiramente vertiginosa em escala planetária justifica o julgamento de Hannah Arendt de que os nazistas foram os primeiros a querer exterminar um povo da Terra. Do ponto de vista do processo, os assassinatos em massa muitas vezes resultam no saque da propriedade das vítimas. Essas práticas não podem ser consideradas o verdadeiro motivo dos assassinatos, mas sem dúvida ajudam a estimular sua perpetração. Ou os assassinos são autorizados a se apropriar dos bens das vítimas ou seus dirigentes se dão o direito, a menos que seja o próprio Estado que reserva o privilégio. Mas, em todos os casos, os mortos são os roubados. Não vamos, entretanto, considerar que o roubo em massa necessariamente leva ao assassinato em massa, mesmo que a história da pilhagem econômica dos judeus na França possa levar alguém a pensar assim. A partir de julho de 1940, o governo de Vichy promulgou por sua própria iniciativa vários textos renunciando aos judeus de suas propriedades, tornando o judeu um "incapaz" legal. Segundo a lei francesa, os judeus agora são considerados menores. De um dia para o outro, todos aqueles que foram definidos como judeus de acordo com a lei estão, portanto, arruinados, sua propriedade sendo transferida para o estado. Vichy pretende, assim, mostrar muito rapidamente à Alemanha nazista que a própria França pode contribuir para destruir a influência dos judeus, colocando-os imediatamente fora dos holofotes da sociedade. Em nenhum momento, entretanto, podemos dizer que as autoridades de Vichy queriam a morte física dos judeus. O fato é que essa expropriação de seus bens, legalmente instituída pelo Estado, obviamente causou sua imediata queda social, e que a lei era, portanto, uma forma de “matá-los” socialmente. Isso pode constituir um primeiro passo abrindo caminho para outros tratamentos desumanos. 127
Tecnologias de assassinato em massa Para analisar os métodos dos assassinatos, é necessário superar os sentimentos de horror e repulsa que suas descrições despertam. Voltarei a este ponto essencial abordando, no Capítulo V ,a questão de "compreender" as atrocidades. Limitemo-nos a salientar aqui que os métodos de
matar devem ser entendidos como uma atividade humana, certamente não exatamente como os outros ... mas também como os outros. Sempre refletem, de certa forma, o desenvolvimento econômico e técnico de um país, seus modos de expressão cultural, etc. Se a sua economia é essencialmente rural, não é de estranhar que as ferramentas utilizadas para o trabalho no campo ou na quinta (facão, faca, machado ...) sejam utilizadas para matar e sabidamente encenadas pela propaganda extremista. Da mesma forma, o desenvolvimento do processo de homicídio por gás, desenvolvido na Alemanha, atesta o nível de desenvolvimento científico e técnico deste país. Alguns métodos de matar podem ser comuns a vários países, como tiroteios com metralhadoras. Usada pela primeira vez durante a Guerra Civil Americana, então para suprimir os apoiadores da Comuna de Paris, esta arma provou ser formidavelmente eficaz em "derrubar" o adversário e aterrorizar os sobreviventes. Ela também deu uma esmagadora superioridade ocidentais em sua conquista da África até o final do XIX século . O uso desta arma, móvel e poderoso, era tão difundida: ele é encontrado na maioria dos assassinatos em massa do XX século, armênios em Ruanda, através do massacre de judeus pelo Einsatzgruppen . Observe também que, como qualquer outra forma de ação coletiva, as práticas de destruição às vezes se inspiram na tradição e, em outros aspectos, constituem uma inovação. Assim, a Bósnia, a "limpeza étnica" dos anos 1990 incluem parte dos métodos utilizados durante as guerras balcânicas do início do XX século, por exemplo, a queima de casas (para remover habitantes declarados indesejáveis) . A análise dessas formas de violência supõe que façamos uma distinção entre o que pertence à tradição.e o que faz parte da modernidade ou uma tradição reinventada. Quando os homens de Seselj, em 2 de maio de 1991, não hesitaram em massacrar policiais croatas em Borovo Selo, chegando a arrancar seus olhos e cortar suas orelhas, de repente despertaram esse passado doloroso que viu, cerca de cinquenta anos antes, chetniks e ustashas massacrarem croatas e sérvios, respectivamente. E ainda não foram os únicos porque alemães, fascistas italianos e partidários de Tito fizeram o mesmo ... No contexto de renascimento dos nacionalismos do início dos anos 1990, este acontecimento não deixa de suscitar de imediato impetuosas invectivas sobre o Telas de televisão sérvias e croatas, contribuindo um pouco mais para transformar o conflito em guerra. Por outro lado, não há dúvida de que o desenvolvimento de câmaras de gás, principalmente instaladas na Polônia, é um acontecimento sem precedentes na história dos assassinatos em massa. Colocação em serviço em Chelmno, em novembro de 1941, dos primeiros caminhões a gás (monóxido de carbono), em seguida, durante 1942, a entrada em serviço de várias câmaras de gás (Zyklon B) em Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau e Majdanek constituem um "avanço" incrível e aterrorizante no campo das técnicas de extermínio coletivo. Até Josef Goebbels parece assustado com esta "invenção". Em seu diário, datado de 27 de março de 1942, ele notou pela primeira vez: "Um método bastante bárbaro é empregado aqui, que não deve ser descrito mais adiante e que, dos próprios judeus, não permite muito -alguma coisa […]. A profecia que o Führer lhes deu no caminho, se eles causassem outra guerra mundial, começa a se tornar realidade da maneira mais dolorosa. Não devemos permitir que o mais leve sentimentalismo reine nessas questões. Os judeus, se não nos defendêssemos deles, nos exterminariam. É uma luta de vida ou morte entre a raça ariana e o bacilo judeu . Estas palavras não deixam de surpreender por parte de um velho combatente de Hitler, que durante anos foi o autor de tantos discursos públicos pregando em todos os tons, com violência e grosseria.reté, o ódio aos judeus. Mas, neste mês de março de 1942, o próprio mais famoso dos propagandistas nazistas parecia "desestabilizado", aparentemente não tendo sabido antes dessa data que os judeus eram cada vez mais °
128
°
°
129
130
131
sistematicamente mortos pelo gás. Observe como ele imediatamente consegue integrar esta informação no quadro ideológico que lhe é familiar: o da luta até a morte dos arianos contra os judeus. Este é um bom exemplo de uma racionalização delirante do assassinato em massa. No entanto, as populações judias europeias não foram as únicas que morreram nas câmaras de gás. As primeiras tentativas de assassinato nesta área foram realizadas, como vimos, em pacientes mentais alemães. Em seguida, os experimentos foram estendidos à Polônia, no outono de 1941, com prisioneiros de guerra soviéticos. Outras categorias de populações voltarão a morrer ali, como os ciganos, também vítimas do extravagante projeto nazista de “purificação da raça” . Mas foram, sem dúvida, os judeus que desapareceram em massa nas câmaras de gás de 1941 a 1945, primeiro da Polônia, depois de toda a Europa. O que é literalmente espantoso é que o massacre agora se assemelha a uma atividade industrial de processamento de “resíduos”. Na verdade, os “centros de matança”, para usar a expressão de Raul Hilberg, funcionam como fábricas de destruição e recuperação, onde corpos “nocivos” são encaminhados para serem destruídos e queimados, ao mesmo tempo. tendo o cuidado de levar tudo que possa representar valor de mercado ou riqueza (joias, dentes de ouro, etc.). Quem poderia imaginar que um dia os seres humanos se tornariam capazes de tamanha "inovação" no assassinato de seus semelhantes, a não ser para interpretar esta terrível frase de Hitler em Mein Kampf , sobre a Primeira Guerra Mundial : "Se o 'no início da guerra [...], apenas uma vez que doze ou quinze mil desses corruptores hebreus do povo tivessem sido mantidos sob gás venenoso [...], talvez se tivesse guardado para o futuro a existência de' um milhão de alemães bons e corajosos . “ O que talvez não fosse o lar que a destruição da fantasia em 1924 se tornou uma realidade assustadora em 1942. O método de matar o gás era, no entanto, para os nazistas apenas mais um meio de destruir judeus: tiroteios não cessaram, nem os métodos de extinção mais lentos implementados nos campos. E quando estes tiveram que ser evacuados (por causa da chegada dos russos), os nazistas organizaram "marchas da morte", nas quais morreram dezenas de milhares de detidos. Há uma tendência excessiva de resumir a história de um processo de assassinato em massa reduzindo-o a uma única prática de matar. É, por exemplo, absurdo dizer que os massacres de 1994 em Ruanda foram todos executados com facões, como alguns sugeriram observadores ocidentais . Muitos depoimentos relatam que os tutsis também foram mortos com outros instrumentos (porretes, enxadas, martelos, etc.), granadas e outras armas, sem falar nos casos em que as vítimas foram queimadas em igrejas onde eles pensaram que estavam encontrando refúgio. Confrontados com a perspectiva de uma morte atroz, às vezes imploravam a seus algozes que acabassem com eles rapidamente, ou até mesmo pagavam por isso. O historiador José Kagabo relata que há quem fale assim de um assassinato luxuoso, quando a vítima dava dinheiro para ser morto por arma de fogo em vez de facão . Na Bósnia, usamos também a faca, a granada ou a metralhadora, como em Srebrenica. Também é suficiente aproveitar a natureza acidentada desta região, por exemplo, jogando as vítimas em uma ravina ou nas gargantas profundas de um rio. Em geral, o assassinato em massa combina vários métodos de morte - muitas vezes complementares - que evoluem de acordo com as circunstâncias, a experiência dos algozes e os meios à sua disposição. Finalmente, o extermínio dos judeus europeus pelo gás perturba fundamentalmente a relação entre massacre e guerra. Claro, como muitos autores apontaram, a destruição dos judeus europeus dificilmente é concebível fora do contexto de uma guerra total. Parafraseando Pierre Hassner, comentando sobre Carl Schmitt, a formação do estado total (bolchevique, então nazista) no período pré-guerra levou a uma guerra total contra um inimigo total que iriaser totalmente destruído . Mas vejamos também a situação de um ponto de vista puramente empírico: como deixar de notar 132
133
134
135
136
que, com o sistema implantado pelos nazistas a partir de 1942, o massacre se "desvinculou" completamente do terreno físico da guerra? Na verdade, o processo de prisão e deportação de judeus dos países ocidentais de trem para os centros de extermínio na Polônia não tem nada a ver com os métodos de execução de judeus em 1940 e 1941. para o leste. Desde o ataque à União Soviética, as operações de extermínio "ataram-se" à lógica da guerra, sendo os massacres perpetrados na retaguarda da frente, quer pelos Einsatzgruppen, quer por unidades do próprio exército. . Como se fosse uma operação militar, os esquadrões assassinos estavam se aproximando do "inimigo" antes de destruí-lo. Na Bósnia ou em Ruanda, os grupos paramilitares e outras milícias não fazem outra coisa. Mas com o sistema de prisão-deportaçãoextermínio, inventado pelos nazistas, as coisas agora são bem diferentes. A característica de tal dispositivo é ser completamente separado do campo de batalha. A reversão é espetacular: em vez da morte chegar para atingir as vítimas onde elas estão, são as próprias vítimas que vão para a morte, transportadas para os lugares de sua aniquilação. Em suma, o processo de destruição tornouse autônomo da frente militar. Esse empoderamento do assassinato em massa me parece emblemático de um padrão mais geral que leva do massacre ao processo genocida, que será o assunto do último capítulo deste livro. Primeiro, vejamos a conduta dos indivíduos responsáveis, no terreno, pela execução do massacre. Podemos realmente "entendê-los"? 1. O capítulo seguinte ampliará essa reflexão tomando o ponto de vista de indivíduos que se tornaram assassinos em massa. 2. Além do trabalho de Donald L. Horowitz, já citado, também estou pensando no de Steven I. Wilkinson, “Cold calculations and unleashed crowds. Motins intercomunitários na Índia ”, Critique internationale , n ° 6, inverno 2000, p. 125-142. Isso mostra que os massacres entre hindus e muçulmanos tendem a aumentar antes das eleições porque aqueles que os provocam esperam lucrar com eles no nível eleitoral. 3. Ex-presidente do Conselho de Desenvolvimento Nacional (CND), ou seja, o Parlamento de Ruanda. 4. Encontro aqui a grelha analítica que utilizei no meu trabalho sobre a Resistência: é a atitude do poder político derrotado pelo ocupante que dá o tom à população, incentivando-a a colaborar ou para resistir às autoridades de ocupação. Ver em particular o cap. IV, “A questão da legitimidade”, do meu livro Sem Armas na Face de Hitler. Resistência civil na Europa (1939-1943) , Paris, Payot, 1998, p. 73-92. 5. Marc Roseman, Agenda: genocídio. 20 de janeiro de 1942 , Paris, Louis Audibert, 2002. 6. Citado em Dominique Vidal (ed.), The German historiadores releram o Shoah , op. cit. , p. 118 7. Götz Aly e Suzanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung , Hamburgo, Hoffman und Campe Verlag, 1991. Para uma apresentação deste livro em francês, nos referimos ao livro de Dominique Vidal citado acima, que também deu uma apresentação interessante de outras obras escritas por historiadores alemães. 8.
O Akazu , ou "Pequena Casa" refere-se a uma rede de pessoas que trabalham ao redor do presidente, de sua região natal (norte de Ruanda). Sua esposa e parentes fazem parte disso. Se necessário, essa rede se dirigia diretamente ao coronel Bagosora, que também era parente da esposa do presidente. 9. Ver Filip Reyntjens, “ Akazu ,“ esquadrões da morte ”e outros“ Rede Zero ”: uma história de resistência à mudança política desde 1990”, em André Guichaoua (ed.), Les Crises politiques au Burundi et au Rwanda (1993 -1994) , op. cit. , p. 265-273. 10 . Citado por Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 77 11 . Ibid ., P. 134 12 . Léon Mugesera é o exemplo típico desse intelectual incendiário descrito no cap. II. Basicamente, suas palavras retomam o conteúdo ameaçador da “profecia” do presidente Kayibanda de 11 de março de 1963. Mas sua expressão é muito menos complicada do que a do ex-presidente de Ruanda. Mugesera sabe falar com as pessoas de forma direta. Todos os temas existem para despertar sua paixão destrutiva: a ameaça de invasão, a subversão da religião, a destruição do laço social, a animalização do inimigo, etc. Por si só, esse discurso mereceria uma análise antropológica e linguística em Kinyarwandan. É o próprio protótipo do discurso que mata antecipadamente com as palavras. Veja ibid. , p. 104-105. 13 . Ibid. , p. 131 14 . Ibid. , p. 817. 15 . Ibid. , p. 134 16 . A jornalista Linda Melvern diz que esses facões (e outras ferramentas agrícolas que podem ser usadas como armas), principalmente importados da China, chegaram a Ruanda em 18 pedidos separados. Com a compra paralela de munições, como Ruanda, um dos países mais pobres do mundo, poderia ter feito tais despesas, estimadas em 100 milhões de dólares? Graças ao desvio de fundos do Banco Mundial, diz ela, a economia de Ruanda está, desde 1990, sujeita a um programa de ajuste estrutural do FMI. Ver Linda Melvern, Conspiracy to Murder. The Rwandan Genocide , London-New York, Verso, 2004, p. 56 17 . Citado por Jean-Pierre Chrétien (ed.), Ruanda , op. cit. , p. 300 18 . Ver, por exemplo, Kalevi J. Holsti, The State, War, and the State of War , Cambridge, Cambridge University Press, 1996, ou William Zartmann (ed.), Collapsed States. The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority , Boulder, Lynne Rienner, 1995. 19 . Ver Michel Roux, Les Albanais en Yugoslavie. Minoria nacional, território e desenvolvimento , Paris, House of Human Sciences, 1992; e Joël Hubrecht, Kosovo. Estabelecendo os fatos , Paris, Esprit, 2001. 20 . Entrevista com Joël Hubrecht (4 de dezembro de 2003).
21 . Joseph Krulic, "Reflexões sobre a Singularidade Sérvia", art. cit., p. 111. Para uma apresentação da teoria do sistema político de David Easton, ver Philippe Braud, Sociologie politique , 4 e éd., Paris, LGDJ, 1998, p. 160 sq . 22 . Marina Glamocak, The Yugoslav War Transition , Paris, L'Harmattan, 2002. 23 . James Gow, O Projeto Sérvio e Seus Adversários. A Strategy of War Crimes , Londres, Hurst & Co, 2003, p. 12 24 . Tim Judah, os sérvios. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia , New Haven, Yale University Press, 1997, p. 169 25 . Marina Glamocak, La Transition guerrièreYugoslave , op. cit. , p. 136 26 . Aos olhos dos sérvios, é o emblema do regime fascista de Pavelic. O tabuleiro de damas croata é de facto um símbolo medieval, que foi retomado em 1991 com uma nuance nas cores (em comparação com o de 1941). 27 . Rejeito aqui a ideia apresentada por Linda Melvern, a saber, que "a programação do genocídio começou em outubro de 1990", como ela indica em sua cronologia em Conspiracy to Murder , op. cit. , p. 316-317. Se de fato houve massacres durante este período no início do ataque RPF, não há nada que prove que em Kigali já estávamos nos preparando para o genocídio. A observação de massacres isolados não é sinônimo de vontade genocida (cf. cap. VI). 28 . É por isso que essa noção de intenção está no cerne da "Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio", adotada pelas Nações Unidas em 1948. O texto do Artigo 2 começa da seguinte maneira: "O genocídio ocorre. significa em qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal ... ”Veja os trechos mais importantes desta convenção em indivíduo. VI deste livro, no quadro, p. 376. 29 . Embora a linguagem cotidiana muitas vezes nos convide a fazê-lo, quando dizemos, por exemplo: "A França pretende ..." 30 . O historiador do Império Otomano Gilles Veinstein desafiou assim sua natureza “genocida”. Ver "Três perguntas sobre um massacre", L'Histoire , n ° 187, abril de 1995, p. 40-41 . Essa posição gerou polêmica acalorada, incluindo uma resposta do historiador Yves Ternon em seu livro Du negationnisme. Memory and tabu , Paris, Desclée de Brouwer, 1999. 31 . Raul Hilberg, La Destruction des juifs d'Europe , Paris, Gallimard, col. "Folio", 1988, 2 vol. 32 . Christopher R. Browning e Matthäus Jürgen, As Origens da Solução Final. The Evolution of Jewish Nazi Policy (setembro de 1939 a março de 1942) , Lincoln, University of Nebraska Press, 2004, p. 309 sq . 33 . Philippe Burrin, Hitler e os judeus. Genesis of a genocide , Paris, Le Seuil, 1989, p. 169 34 .
Após um encontro com Hitler, Himmler anotou em seu diário de 18 de dezembro: “Questão judaica: ser exterminado como partidários. Veja a interpretação que Christian Gerlach oferece desta nota em seu livro Sur la Conférence de Wannsee , op. cit. , p. 53-54. 35 . Aqui estão as citações do discurso de Himmler aos generais SS, que incluiu esta alusão ao extermínio dos judeus: “Devemos ter completado a migração do povo judeu em exatamente um ano; então não haverá mais ninguém para vagar. Portanto, agora é necessário que uma lousa limpa seja feita, completamente. »(Citado por Florent Brayard, La Solution finale de la question juive. A técnica, o tempo e as categorias de decisão , Paris, Fayard, 2004, p. 16-17). 36 . Michael Mann, The Dark Side of Democracy , op. cit. , p. 8. Para conceituar este processo cumulativo, este autor desenvolveu uma série de planos - A, B, C, D, etc. -, que os responsáveis pela "limpeza étnica" deveriam implementar, esses planos avançam gradualmente para medidas cada vez mais radicais contra as vítimas mencionadas. Mas, ao tentar aplicar seu esquema aos casos históricos examinados, o próprio Mann observa com bastante frequência que sua construção teórica às vezes se revela artificial. 37 . Raul Hilberg, A Destruição dos Judeus da Europa , op. cit. , t. I, p. 51 38 . Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust , op. cit. 39 . Intervenção no âmbito do seminário de Marc-Olivier Baruch na École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 23 de novembro de 2003. 40 . Essas unidades, que apareceram pela primeira vez durante a anexação da Áustria, foram dissolvidas duas vezes e depois reconstituídas antes da invasão da Polônia e da União Soviética. 41 . Ver o Julgamento de Criminosos de Guerra Maiores perante o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1947-1949) , t. IV, p. 476. 42 . Omer Bartov, Exército de Hitler , op. cit . 43 . Citado por Linda Melvern, Conspiracy to Murder , op. cit. , p. 211. 44 . Ibid. , p. 191. 45 . Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 261. 46 . Marcel Kabanda, “Participação popular na violência estatal: o caso de Ruanda”, artigo na conferência La Violence et ses cause , Paris, 3 de novembro de 2003. 47 . Gostaria de remeter o leitor a meu livro La Liberté au bout des waves . Do golpe de Praga à queda do Muro de Berlim , Paris, Belfond, 1997, em que se propõe uma análise do papel do rádio nas crises de Budapeste em 1956 e de Praga em 1968. Em cada
um desses países, as rádios nacionais pediram a resistência do povo contra o ocupante soviético. Ao tomar conhecimento da ação da RTLM em Ruanda, não pude deixar de me relacionar com a maneira como as estações húngara e tcheca operaram durante essas crises. A RTLM também ouviu a convocação de um movimento de resistência, neste caso uma convocação pública para o assassinato de tutsis. 48 . Citado por Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 300 49 . James Gow, O Projeto Sérvio e Seus Adversários , op. cit. , p. 51 50 . Essa "serbianização" do exército também foi acelerada pela renúncia de oficiais não-sérvios ou por sua aposentadoria. 51 . Esta dissolução resulta legalmente da criação de uma nova Iugoslávia (Sérvia-Montenegro) pela Constituição de 27 de abril de 1992. 52 . James Gow, O Projeto Sérvio e Seus Adversários , op. cit. , p. 134 53 . Florence Hartmann, Milosevic. La diagonale du fou , Paris, Denoël, 1999, p. 206. Bogdanovic foi forçado a renunciar após a repressão à manifestação de 9 de março de 1991, que deixou dois manifestantes mortos. Mas ele permanece muito ativo nos bastidores do poder. 54 . Veja Tim Judah, Os Sérvios , op. cit. , p. 170 55 . Esse plano foi aparentemente claramente identificado em setembro de 1991, quando a gravação secreta de uma conversa entre Milosevic e Karadzic foi revelada (ver ibid. , P. 191). Mas até agora nenhum documento escrito que prove a existência de tal plano foi encontrado. 56 . Ver Paul Garde, Life and Death of Yugoslavia , op. cit. , p. 306. 57 . Marc Roseman, Agenda: genocide , op. cit. , p. 151 58 . Dieter Pohl, Nationalsozialistische Judenverforlung in Ostgalizien, 1941-1944. Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens , Oldenburg-Munich, Studien zur Zeitgeschichte, 1997. Encontraremos em Dominique Vidal (ed.), Os historiadores alemães releram o Shoah , op. cit. , uma longa apresentação desta pesquisa. 59 . Marcel Kabanda “Participação popular na violência do Estado…”, art. cit. 60 . Cornelia Sorabji, “A Very Modern War. Memory and identities in Bosnia and Herzegovina ”, Terrain , n ° 23, outubro de 1994, p. 143 61 . Cornelia Sorabji, op. cit. , p.144 -145.
62 . Esclarecemos que o governo dos sérvios da Bósnia reconheceu oficialmente este fato em novembro de 2004. O número de 7.800 vítimas, anunciado nesta ocasião por Bernard Fassler, alto representante da comunidade internacional, deveria, segundo ele, ser revisado para cima. Veja Le Monde , 10 de novembro de 2004. 63 . Nações Unidas, Relatório do Secretário-Geral em conformidade com a Resolução 53/55 da Assembleia Geral. The Fall of Srebrenica , documento A / 54/549, 15 de novembro de 1999. 64 . O relatório holandês, confiado ao Instituto Holandês de Documentação de Guerra, intitula-se Srebrenica - uma área "segura". Reconstrução, histórico, consequências e análises da queda de uma Área de Segurança , estão disponíveis no site http://www.srebrenica.nl/en/. O relatório francês, redigido pela missão conjunta de informação sobre os acontecimentos de Srebrenica, presidida por François Loncle, foi publicado com o título Srebrenica, Relatório sobre um massacre . Os documentos de informação da Assembleia Nacional, n ° 3413, 2001, Paris, 2 vol. Em ambos os casos, se este esforço de "verdade" foi saudado por muitos observadores, o resultado dessas comissões de inquérito ainda deixa questões em aberto, em particular devido à fraca cooperação dos ministérios da defesa na comunicação. toda a informação relativa a este acontecimento, por um lado, e a impossibilidade de consulta do arquivo sérvio. 65 . Veja seu trabalho apresentado no apêndice do relatório holandês citado acima, bem como Ger Duijzings, History and memory in Eastern Bosnia. Antecedentes da queda de Srebrenica , Amsterdam, Boom, 2002. 66 . Uma versão desse ataque foi relatada no jornal nacionalista de Benja Luka Glas Srpski ("A voz da Sérvia"). O diário fala de 49 mortes, mas não menciona a devoração de cadáveres por animais (no entanto, este diário não é conhecido por sua moderação na relação desse tipo de evento ...). 67 . Ver a audiência de Jean-René Ruez em Relatório de informação apresentado pela missão de informação conjunta sobre os acontecimentos de Srebrenica , t. II, Paris, Assembleia Nacional, 2002, p. 309-326. 68 . Citado por David Rohde em Le Grand Massacre, Srebrenica-July 1995 , Paris, Plon, 1998, p.156. XXXPXXX A "rebelião dos Dahijas" refere-se a um levante dos sérvios brutalmente reprimido pelos turcos em 1804. 69 . Até agora, o julgamento em andamento de Milosevic sugere que ele não tinha nenhum interesse particular no massacre dos habitantes de Srebrenica. Sem dúvida que do próprio Nazer Oric, inaugurado em Haia em outubro de 2004, também poderia lançar alguma luz sobre o desenvolvimento geral do confronto nesta região. 70 . “Pessimum facinus auderent pauci, plures vellent, omnes paterentur” , citado por Jan Willem Honig e Norbert Both, Srebrenica. Record of a War Crime , Londres, Penguin Books, 1996. 71 . Gustav Janouch, Conversations with Kafka , Paris, Maurice Nadeau, 1988. 72 . Daniel J. Goldhagen, The Voluntary Executioners of Hitler. Ordinary Germans and the Holocaust , Paris, Le Seuil, 1997.
73 . O lugar dessa iconografia macabra também é muito importante no livro de Goldhagen. 74 . Entre as críticas mais sintéticas está a de Omer Bartov, Guerra na Alemanha e o Holocausto. Disputed Histories , Ithaca-London, Cornell University Press, 2003, cap. V, "Ordinary Monsters: Perpetrator Motivation and Monocausal Explanations", p. 122-136. 75 . David Bankier, The Germans and the Final Solution , op. cit. 76 . Todos os seus sermões podem ser encontrados em francês em Yves Ternon e Sócrate Helman, Le Massacre des aliénés. De teóricos nazistas a praticantes da SS , Tournai, Casterman, 1971. 77 . Ian Kershaw, Opinião alemã sob o nazismo. Bavária, 1933-1945 , Paris, CNRS, 1995, p. 13 78 . Veja a pesquisa de Martin Broszat e Eike Fröhlich (eds.), Bayern in der NS-Zeit , op. cit . 79 . Citado em Michael Pollak, The Concentration Experience. Ensaio sobre a manutenção da identidade social , Paris, Métailié, 1990, p. 92-93. 80 . Victor Klemperer, quero testemunhar até o fim , op. cit. , p. 77 81 . Victor Klemperer, op. cit. , p. 362. 82 . Georges Bensoussan, História da Shoah , Paris, PUF, col. "O que eu sei? », 1997, p. 92 83 . RTLM, 3 de abril de 1994, citado por Alison Des Forges (ed.), Nenhuma testemunha deve sobreviver , op. cit. , p. 214. 84 . General Roméo Dallaire, Eu aperto a mão do diabo , op. cit. 85 . Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 290-291. 86 . Entrevista com André Guichaoua, 27 de maio de 2003. 87 . Para uma cronologia desses eventos e testemunhos, veja as investigações conduzidas por Rakiya Omaar em Ruanda. Death, Despair and Defiance , Londres, African Rights, 1994. 88 . Citado por Linda Melvern, Conspiracy to Murder , op. cit. , p. 196. 89 . Ver Darryl Li, “Echoes of Violence: Considerations on Radio and Genocide in Rwanda”, Journal of Genocide Research , vol. 6, n ° 1, março de 2004, p. 9-27. O autor usa o termo reverberações , que traduzimos aqui como "repercussões", p. 24 90 .
Refiro-me aqui ao trabalho do laboratório de Comunicação e Política do CNRS, fundado por Dominique Wolton, e à excelente crítica Hermès que tratou amplamente desta questão. 91 . Danielle de Lame, “O genocídio de Ruanda e o vasto mundo…”, art. cit., p. 167. Este trabalho aprofundado supõe obviamente estudar em paralelo os programas desta estação de rádio em Kinyarwandan. 92 . Timothy Longman, “Genocídio e Mudança Sócio-Política: Massacre em Duas Aldeias Ruandesas”, Journal of Opinion , vol. XXIII / 2, 1995, p. 18-21. 93 . Entrevista com André Guichaoua, 27 de maio de 2003. 94 . Intervenção de Pierre-Antoine Braud no grupo de pesquisa CERI “Fazendo a paz. Do crime em massa à construção da paz ”,“ Laço social, mudança para o crime em massa e reconstrução ”, 20 de junho de 1991; disponível no site da CERI: http://www.cerisciences-po.org. 95 . Jean Hatzfeld, Uma temporada de facões. Story , Paris, Le Seuil, 2003. 96 . Scott Strauss, “Quantos perpetradores existiam no genocídio de Ruanda? An Estimate ”, Journal of Genocide Research , vol. 6 (1), março de 2004, p. 95 97 . Ver Florence Hartmann, Milosevic , op. cit. , p. 271-272. 98 . Citado por Joël Hubrecht, “O julgamento de Plavsic, um sucesso da justiça internacional”, Esprit , fevereiro de 2003, p. 138 99 . Slavenka Drakulic, “O trágico autismo do povo sérvio”, The International Herald Tribune , reimpresso no Courrier international , de 6 a 14 de maio de 1999. 100 . Entrevista com Jean-Arnault Dérens, 22 de setembro de 2003. 101 . Eljko Kadijevic, Moje vidjenje raspada. Vojska bez drzave (“Minha visão de desmantelamento. Um exército sem estado”), Belgrado, Politika, 1993, p. 73 102 . Marina Glamocak, The Yugoslav War Transition , op. cit. , p. 117-118. 103 . Anthony Oberschall, "The Manipulaton of Ethnicity ...", art . cit . , p. 982-983. 104 . Ed Vulliamy, Seasons in Hell , Londres, Saint Martin's Press, 1994, p. 94 105 . Stathis N. Kalyvas, “Aspectos Metodológicos da Pesquisa de Massacre: O Caso da Guerra Civil Grega”, International Review of Comparative Politics , Vol. 8, n ° 1, 2001, p. 23-42.
106 . Julgamento Kupreskic et al., Apresentado em 10 de novembro de 1998. 107 . Marc Bax, “Warlords, Priests and the Politics of Ethnic Cleansing: A Case Study from Rural Bosnia-Herzegovina”, Ethnic and Racial Studies , vol. 23, n ° 1, 2000, p. 16-36. 108 . Veja sobre este assunto a notável investigação da antropóloga francesa Élisabeth Claverie, Les Guerres de la Vierge. Anthropologie des apparitions , Paris, Gallimard, 2003. 109 . Bogdan Bogdanovic, “L'urbicide ritualisé”, em Véronique Nahoum-Grappe (ed.), Vukovar-Sarajevo , op. cit. , p. 33-37. 110 . Jean Hatzfeld, L'Ère de la guerre , Paris, L'Olivier, 1994, p. 56-57. Para uma análise mais precisa, ver John B. Allcock, “RuralUrban Differences and the Break Up of Yugoslavia”, Balkanologie , vol. 6, n SO 1-2, dezembro 2002, p. 101-125. 111 . Estou pensando aqui no caso excepcional do resgate dos judeus na Dinamarca e na Bulgária, e também em outros exemplos menos importantes. Veja meu capítulo “Resistência civil contra o genocídio”, em Sem armas contra Hitler , op. cit. 112 . Outras aldeias neste planalto Haut-Vivarais se abriram para esta recepção, que também afetou outras categorias da população (como os "evacuados" do leste da França, os adversários alemães e austríacos, os refratário ao serviço de trabalho obrigatório, etc.). Ver Patrick Cabanel e Laurent Jervereau (eds.), Segunda Guerra Mundial, das terras de refúgio aos museus , Vivarais-Lignon, Sivom, 2003. 113 . Para todos os que salvaram judeus abnegadamente durante a guerra, Israel concede a Medalha dos Justos entre as Nações. É gravado com esta frase do Talmud: "Quem salva uma vida salva a humanidade." "Para uma abordagem sociológica da memória dos justos na França, ver Sarah Gensburger," As figuras dos justos e da resistência e a evolução da memória histórica da ocupação ", Revue française de science politique , vol. 52, n ° 2-3, abril-junho de 2002, p. 291-322. 114 . Svetlana Broz, Boas pessoas em tempos difíceis. Testemunhos sobre o conflito da Bósnia (1992-1995) , Paris, Lavauzelle, 2005. 115 . Intervenção de Xavier Bougarel no grupo de pesquisa CERI “Fazendo a paz. Do crime em massa à construção da paz ”, 20 de junho de 2001. 116 . Philip Gourevitch, Temos o prazer de informar que amanhã seremos mortos com nossas famílias , Paris, Denoël, 1999, p. 144 117 . A ONG African Rights publicou em 2002 uma brochura apresentando o retrato de dezenove “justos” ruandeses que altruisticamente salvaram tutsis durante o genocídio: Tribute to Courage , Londres, African Rights, agosto de 2002. 118 . Cf. Gérard Prunier, Ruanda, 1959-1996 , op. cit. , p. 307. 119 . Jean Hatzfeld, In the nude of life , op. cit. , p. 136
120 . Bruno Bettelheim, Survivre , Paris, Robert Laffont, 1978. Suas observações são, no entanto, baseadas em sua experiência de internamento em dois campos de concentração nazistas (Dachau e Buchenwald), e não em um centro de extermínio. Esta é obviamente uma grande diferença, que, claro, coloca as coisas em perspectiva, mas não me parece invalidar completamente suas análises. 121 . Este ataque, que deixou 63 mortos e mais de 200 feridos, gerou imediatamente ampla cobertura da mídia internacional. Mas a investigação despachada pela ONU mostrou que o fogo realmente veio de posições sérvias. Os vários julgamentos em Haia que tiveram que lidar com este caso trouxeram elementos na mesma direção. 122 . Ver o artigo de revisão de Jacques Rupnik, “Warfare Recompositions in the Balcans and the Construction of Homogeneous NationStates”, in Pierre Hassner e Roland Marchal (ed.), Guerres et Sociétés , op. cit. , p. 403- 433. 123 . Kalevi J. Holsti, O Estado, a Guerra e o Estado de Guerra , op. cit. 124 . Jean-Pierre Chrétien, África dos Grandes Lagos , op. cit. , p. 293. 125 . James Gow, O Projeto Sérvio e Seus Adversários , op. cit. , p. 135 126 . Joël Hubrecht, Kosovo , op. cit. , p. 40-41. 127 . É por isso que o jornal extremista Kangura havia criado uma edição internacional, que denunciava o perigo representado pelos tutsis residentes no Burundi e no Congo. Por que então o Poder Hutu não teria reivindicado um "direito de busca" nesses países? 128 . Assim, em 1898, uma unidade britânica de algumas centenas de soldados, equipada com metralhadoras modernas, derrotou vários milhares de soldados sudaneses, matando cerca de 11.000. Ver John Ellis, The Social History of the Machine Gun , Nova York, Pantheon Book, 1975. 129 . Ver Carnegie Endowment for International Peace, Reports of the International Commission to Inquire on the Causes and Conduct of the Balkan Wars , Washington DC, 1914, p. 73 130 . Esses dois últimos locais são considerados “instituições mistas”, já que há um campo de concentração e um centro de extermínio. 131 . Citado por Florent Brayard, A Solução Final da Questão Judaica , op. cit. , p. 396-397. 132 . Ver, em particular, Guenter Lewy, La Persecution desTziganes par les nazis , Paris, Les Belles Lettres, 2003. 133 . Adolf Hitler, Mein Kampf , Munich, Zentralverlag der NSDAP, 1942, p. 772. 134 .
Claudine Vidal, “O matador de facão como símbolo do genocídio dos tutsis ruandeses”, comunicação na conferência internacional Enfrentando crises extremas , Universidade Lille-II, 21-22 de outubro de 2004. 135 . José Kagabo, “Ruanda após o genocídio. Notas de viagem, agosto de 1994 ”, Les Temps Modernes , n ° 583, julho-agosto de 1995, p. 105 136 . Pierre Hassner, Violência e Paz , t. I: Da bomba atômica à limpeza étnica , Paris, Esprit, 1995, p. 262.
CAPÍTULO V A vertigem da impunidade Então entramos em um universo onde tudo se tornou possível. Em fases sucessivas, a violência aumenta constantemente. “Todos os limites foram ultrapassados, não há mais limites. Este processo é verdadeiramente vertiginoso porque abre o homem para uma lacuna, uma angústia que já não tem parede para contê-la e que corre o risco de o arrastar para o nada da morte. Porque o homem não pode construir-se sem saber o limite, sem esbarrar no referencial da "Lei". É assim que ele consegue sustentar seus impulsos. “Fabricar o homem é dizer-lhe o limite”, escreve Pierre Legendre. E “construir o limite é encenar a ideia do Pai” . É este último que, ao encarnar simbolicamente a Lei, lança o interdito entre o desejo e seu objeto. É por meio disso que o homenzinho pode acessar o simbolismo, a palavra, conseguir diferenciar seu universo imaginário do real, suas fantasias da realidade. Mas “vemos isso no decorrer de nossa história sangrenta: onde os humanos não suportam mais a palavra, o massacre reaparece ”. Mas este universo que abole todos os limites, que permite todos os cruzamentos, que é portanto o do agir - do agir - desde que tudo se permite, é sem normas, sem código? Absolutamente não. Na verdade, ele procede do caos e da ordem. É organizado e anômico. Tudo acontece como se permitisse o transbordamento de paixões e impulsos destrutivos. Na verdade, o advento deste universo de destrutividade procede de uma inversão de normas. Em vez de o Pai ser o fiador do proibidode assassinato, ele o encoraja ou deixa acontecer; ou o estado incita abertamente o massacre, ou, em estado de decomposição, o estado não é mais capaz de evitá-lo. Em todos os casos, esse estabelecimento de violência extrema resulta no estabelecimento de impunidade como regra. No entanto, é suficiente dizer que as pessoas concordam em matar porque acreditam que não serão punidas por isso? A explicação seria curta demais. Não imaginemos que a ação seja o resultado de uma decisão bem pensada, como se, com bastante calma, tivéssemos pesado os prós e os contras antes de agir. Não, a passagem para o ato geralmente ocorre em uma situação de efervescência social, por conta de uma dinâmica coletiva que transporta indivíduos. Antes do terremoto, a crosta terrestre não derrete? Eu diria o mesmo da sociedade que antecede o assassinato em massa: desenvolve-se um estado de “fusão social” que tende a levar os indivíduos a tolerar o massacre, até mesmo a participar dele. Partindo desse estado de "fusão social", este capítulo gostaria de explorar o "núcleo duro" da atuação - no mínimo, chegar o mais perto possível disso. Nesse sentido, rejeitemos qualquer modelo psiquiátrico que queira explicá-lo por qualquer loucura individual. Nem todos os indivíduos que participaram da violência do massacre são monstros psicopatas. O contexto de impunidade, sem dúvida, permite que alguns traços sádicos ou perversos sejam revelados. Mas não podemos presumir que esse seja o caso da maioria. Os indivíduos não são monstruosos como tais, mas porque estão envolvidos na monstruosa dinâmica do assassinato em massa. É, portanto, o poder do social que os vence e, com Zygmunt Bauman, eu diria que “a crueldade é de origem 1
2
social”. Mas isso significa que os indivíduos recebem mais "ações" do que agem por si próprios, que sua passagem para a ação é paradoxalmente sofrida e que, conseqüentemente, eles não podem ser responsabilizados por seus atos? atos? Analisando os fatos, também não podemos apoiar esta posição, na medida em que os indivíduos realmente aderem ao que está acontecendo. Se o seu grau de liberdade às vezes é muito reduzido, não é nulo por isso: têm a possibilidade de dizer não, pelo menos de se afastar do caminho que os leva a ser algozes. Para entender esse processo de alternância, apresentarei dois tipos de interpretação aqui. O primeiro está de acordo com o capítulo I deste livro: o massacre sempre procede de uma ou mais estruturas de significadoque o pré-formam. Para viver, as pessoas precisam dar sentido à sua existência. Para matar, é o mesmo. Esse trampolim mental para o assassinato em massa depende das constantes interações entre o imaginário e o real, por meio das quais todos os limites são abolidos. Dependendo das situações históricas e dos atores envolvidos, essas estruturas de significado são muito diversas: ou os indivíduos realmente aderem às razões para matar formuladas pelo poder, ou vêem seus próprios interesses em matar, sendo esses dois tipos de motivos importantes. compatível em outro lugar. A passagem para o ato procede de uma pluralidade de sentidos nos quais a pulsão se confunde tanto quanto o cálculo. Junto com essas estruturas de sentido, que veremos se desenvolveram tanto antes quanto durante o massacre, a passagem ao ato supõe também a construção de um mecanismo de inclinação para o assassinato. O que quer que se diga, não é tão fácil para o homem resolver matar seu próximo. Mesmo que se dê boas razões para o fazer, o indivíduo pode experimentar, pela primeira vez, este momento de hesitação que antecede o acto fatal, como se se tratasse de lançar-se no vazio. Para que ele mate, não apenas uma, mas dezenas, centenas de vezes, ele precisa ser inserido em um dispositivo de troca para assassinato. Nesse sentido, há algum paradoxo em raciocinar sobre o indivíduo em si, como se ele fosse uma unidade molecular do social. Porque esse indivíduo só se torna um verdadeiro assassino em massa por estar vinculado a uma comunidade da qual ele é apenas um elo. Exploraremos os dois eixos principais desse dispositivo de inclinação ao massacre: um vertical, que na maioria das vezes o coloca em uma relação hierárquica; a outra horizontal, que a imerge na dinâmica de um grupo de pares. Mas a passagem para o ato, não nos esqueçamos, é também o mergulho no horror. É o choque brutal e doloroso da violência contra corpos. Seria um erro dar-lhe uma abordagem excessivamente higienizada. Uma forma muito convencional de escrever história é oferecer contos de batalhas do ponto de vista épico ou estratégico, sem realmente restaurar o centro: a violência e suas atrocidades. Apreender a violência extrema é justamente enfocar nesse momento da prática do ato violento e na forma como ela destrói os corpos antes, durante e mesmo depois da morte. Essa dimensão da atuação é ainda mais enigmática do que as anteriores. No final, portanto, tentaremos expor as interpretações mais relevantes.
As metamorfoses da passagem ao ato Portanto, aqui estamos nós no “campo de batalha”, tendo chegado a este momento fatídico da matança. Uma observação é imediatamente óbvia: os assassinos estão em um grupo . Quer avancem mascarados ou ao ar livre, fardados ou à paisana, estão reunidos. A prática coletiva do massacre se baseia na maioria das vezes no treinamento prévio desses grupos de assassinos, sejam
eles hierarquicamente comandados (militares ou policiais), dotados de uma disciplina mais ou menos informal (milícias) ou esporádicos (reunião de vizinhos ) Assim, matamos em batalhões, em gangues, em multidões ... Cada um desses grupos tem uma história diferente e opera em circunstâncias diferentes. Mas uma coisa é certa: é o grupo que atua como operador coletivo no assassinato em massa. É o grupo que transforma indivíduos em assassinos. Como então ocorre essa metamorfose? Isso foi gerado pela ideologia de poder que clama por essa onda coletiva de “nós” contra os perigosos e prejudiciais “eles”. Ao cristalizar essa polarização de identidade, a ideologia destila esse clima de psicose, depois de guerra, já descrito ao longo destas páginas. Por meio de seus símbolos, seus mitos, seus slogans, a ideologia, que qualificamos de etnista, racista, nacionalista, contribui para despertar o medo (enquanto os indivíduos já estão desamparados e preocupados, imersos em uma situação econômica ou política objetivamente difícil). Quer aderamos a ela ou não, essa ideologia que se tornou dominante constitui a matriz semântica por meio da qual emergem os modos de agressão física de "nós" contra "eles". Interessantes a esse respeito são as observações do etnopsiquiatra George Devereux, que parte da ideia de que todo indivíduo possui muitas identidades (familiar, comunitária, política, profissional etc.) . Em situação de crise, uma identidade coletiva tende a prevalecer sobre todas as outras, estabelecendo-se como resposta comum e refúgio diante da crise. Os outros aspectos da personalidade do indivíduo são então subordinados a esta identidade degrupo. Eles perdem seu caráter individual em favor desse hiperinvestimento coletivo. É a ideologia que permite, assim, esta primeira cristalização política do "nós". Consequentemente, a formação de grupos destinados a defender o “nós” contra os “eles” parece impor-se. Entrevistas conduzidas pela historiadora alemã Natalija Basic com vinte e cinco veteranos de guerra na Croácia e na Bósnia confirmam tais observações . No início dos anos 1990, “a ideia de armamento autônomo [Selbstbewaffnung] teve sucesso imediato. Camaradagem estava em ordem, e havia um ar de entusiasmo excessivo por algum tempo. Nunca antes foi tão fácil obter armas ”. Cada comunidade étnica se preparava para defender seu território. “Não tínhamos visto desde a década de 1940 tantos homens destinados a lutar pela preservação da casa, pela proteção de crianças, mulheres, velhas. Recusar era um escândalo público [...]. O serviço militar para um jovem, especialmente na Bósnia, era de rigueur. As botas eram usadas todos os dias. Alguns pareciam realmente gostar do “trabalho” que podiam fazer. Eles chamam esta hora, simplesmente, de “hora da matança”. " Mas não concluímos que a ideologia explica tudo! É este vetor essencial para a ascensão do poder à ação massacre, mas insuficiente para precipitar sua perpetração. Para que uma ação seja tomada, uma dinâmica de grupo deve ser "enxertada" nessa ideologia de forma a levar os indivíduos à matança. Na verdade, não se pode supor que a ideologia possua uma capacidade assassina concreta. Para que haja atuação, essa ideologia deve estar associada a "outra coisa", para que a ideia se cristalize no ato do massacre. Os autores que tentam explicar essa mudança se concentram principalmente em três tipos de interpretações. 3
4
Massacre, saqueie, faça negócios O primeiro deles equivale a combinar o fator ideológico com o do interesse e da inveja. Os homens se aproveitam do que o clima social e político de um país designa tal ou tal categoria de
indivíduos como "inimigos" para despojá-los de sua riqueza, mesmo que isso signifique matá-los. Assim, bandos, gangues podem ser formados nessa direção. Sob o pretexto de combater esse "inimigo" em todos os lugares designados pela propaganda, esses grupos trabalham para o seu próprio enriquecimento. A guerra na Bósnia oferece muitos exemplos disso, misturando nacionalismo e "negócios", ou seja, líderes pertencentes a campos opostos conseguem fazer crescer seus negócios juntos; ou, é claro, que ambos se apropriem da propriedade de suas vítimas. Na Bósnia, na região de Visegrad, poucas semanas após o início das hostilidades, em abril de 1992, uma gangue de jovens sérvios, cujo líder, Milan Lukic, "representava Chetnik" , começou a atacar e saquear famílias. mulheres muçulmanas mais ricas. A gangue é conhecida por vários nomes: “as Águias Brancas”, “os Lobos do Drina”… Eles promulgam suas próprias leis na região, comprometendo-se a saquear, matar e / ou expulsar a população muçulmana. “A principal motivação de Milan Lukic não tinha nada a ver com heroísmo, patriotismo ou honra da pátria. Foi lucro. Mas o resultado: as ações de seu bando de quinze homens tiveram o efeito de expulsar cerca de 14.000 muçulmanos de Visegrado e arredores. 5
"Muçulmanos, muçulmanos, formigas amarelas vis, seus dias estão contados" “Nos dias seguintes, Milan e sua gangue percorreram as ruas de Visegrad no Volkswagen cor de vinho. Os alto-falantes do carro emitiam melodias de Chetnik. Armado com um megafone, Milan exortou os muçulmanos a deixar a cidade: “Muçulmanos, muçulmanos, formigas amarelas vis, seus dias estão contados”. “Homens vestindo balaklava de lã preta invadiram as casas muçulmanas. Eles exigiram dinheiro e joias. Eles roubaram tudo o que puderam: relógios de ouro, anéis e correntes, dinheiro, máquinas de lavar, televisores, doces. Os muçulmanos não ofereceram resistência. Eles levaram homens e mulheres para a ponte Mehmet Pasha, onde os executaram com pistolas ou facas; então eles balançavam seus corpos no rio e se divertiam atirando nos cadáveres que flutuavam ao longo da água. A quadrilha se instalou no hotel adjacente à ponte de pedra. Jovens mulheres muçulmanas foram presas lá e estupradas. As velhas iam lavar o sangue que manchava a ponte. “[...] Em 27 de junho de 1992, logo após o início do toque de recolher, os homens da quadrilha de Milão bateram na porta de Turjacanin: 'Todo mundo lá fora. Você foi deportado para Bajina Basta. ” “Os homens armados levaram Zehra e sua família para uma casa muçulmana próxima. Ela percebeu que as portas e janelas estavam fechadas e trancadas. Ela viu Milan parado na porta da varanda. Ela o conhecia porque ele e seu irmão estavam juntos na escola. Quando a porta da varanda foi fechada, os soldados começaram a atirar pedras nas vidraças. Lá dentro, todos caíram de barriga no chão. Seguiram-se tiros. Em seguida, três granadas explodiram na sala. As crianças gritavam. Um estilhaço rasgou a perna de Zehra. O ar se enche de poeira. As pessoas estavam tossindo, meio engasgadas. A sala explodiu em chamas. Zehra tentou fugir, puxando a sobrinha de nove anos atrás dela. Ela tentou em vão arrombar a porta da varanda. Em torno dela, homens, mulheres e crianças, em chamas, lutavam, soltando uivos frenéticos. Zehra viu uma pequena janela. Ela abriu caminho e conseguiu se puxar para cima pela abertura. Então ela se virou para agarrar sua sobrinha. As chamas devoraram suas mãos e rosto; ela teve que desistir. “Lá fora, o rádio de um carro tocava música no volume máximo que abafou os gritos das vítimas. Milan e seus homens não viram Zehra cambaleando. Ela desabou no leito de um riacho próximo,
onde permaneceu escondida a noite toda. Um médico sérvio a vestiu e tratou no dia seguinte. Ele a aconselhou a deixar a área para sempre. Ela foi mais fundo na floresta e encontrou uma patrulha de soldados muçulmanos escoltando civis ansiosos para escapar dos homens em Milão. Entre as setenta e uma pessoas que morreram nesta casa estavam dez membros da família de Zehra. "
Artigo de Chuck Sudetic, "The War Criminal", de Postwar (s) , coll. “Mutations”, Paris, ed. Caso contrário, 2001. A partir desses exemplos, o cientista político americano John Mueller considera que a guerra étnica não responde ao suposto modelo de Hobbes, da guerra de todos contra todos, mas sim é o fato de pequenos bandos de bandidos e bandidos que o sucedem semear o terror em uma região e aproveitá-lo para enriquecer . Ele também observa que, para remediar as falhas do exército sérvio, Milosevic liberta criminosos comuns, pedindo-lhes que façam o “trabalho sujo” em troca da possibilidade de roubar os bens de suas vítimas. Mueller, porém, negligencia o papel das próprias unidades militares, que quase sempre estão lá para preparar e apoiar a ação desses grupos. Vários estudos realizados sobre casos de pogroms também destacam esta dimensão do lucro, por exemplo, o do historiador Jan Gross em sua famosa monografia sobre o massacre de Jedwabne na Polônia, em 10 de julho de 1941. Nesta vila localizada na parte oriental na Polónia, ocupada pela URSS entre 1939 e 1941, era forte o ressentimento contra os judeus, acusados de terem sido aliados dos comunistas. A Wehrmacht recentemente deixou a área circundante para mover-se para o leste para conquistar a Rússia. Nesse contexto de guerra, vários pogroms foram perpetrados contra os judeus, com o consentimento, senão com o apoio dos alemães. Neste 10 de julho de 1941, portanto, os habitantes de Jedwabne, com o apoio de bandidos e camponeses das redondezas, vão matar os cerca de 1.600 judeus desta localidade (mulheres e crianças incluídas). Alguns são apedrejados, outros afogados em um lago ou espancados até a morte; a maioria é queimada em um celeiro. Para Jan Gross, apenas uma conjunção de fatores pode explicar esse evento incrível. Isso ocorre em um período de transição política, marcado pela saída dos soviéticos e a instalação contínua das autoridades alemãs. O contexto de um anti-semitismo particularmente virulento entre esses camponeses católicos poloneses também deve ser levado em consideração: pelo menos 50% dos homens na cidadesupostamente participou do massacre. Sua ação, porém, não é espontânea, mas bem organizada, o prefeito da cidade, Marian Karolak, e vários de seus vereadores que coordenam as operações . No entanto, para Jan Gross, “o principal motivo [...] para organizar a carnificina foi o desejo e a oportunidade inesperada de espoliar os judeus, de uma vez por todas, ao invés do anti-semitismo atávico. No mínimo, [...] os dois fatores andavam de mãos dadas ”. Mas será esta interpretação “económica”, apresentada como argumento decisivo, realmente capaz de dar conta da barbárie do que aconteceu nesta pequena aldeia da Polónia ? 6
7
8
9
Uma socialização para a violência Um segundo modelo para explicar a passagem à ação enxerta o fator ideológico em um processo de socialização e de formação de indivíduos para a violência. Assim, alguns autores insistem na importância de um treinamento prévio que prepare soldados, policiais e outros
comandos especiais para o assassinato de seus companheiros. Todos os poderes, de fato, precisam treinar executivos dispostos a servir seus interesses e matar em seu nome. Esse treinamento deve ser necessariamente muito duro física e moralmente - quase traumático - para que esses homens se tornem então agentes de execução, completamente insensíveis à violência que infligirão aos outros. Essa é, por exemplo, a teoria do criminologista Lonnie Athens, na qual o escritor americano Richard Rhodes se baseia para explicar o comportamento dos Einsatzgruppen na Rússia . Nesse caso, diremos que "fazemos" algozes. Esse tipo de explicação certamente tem um elemento de verdade, na medida em que todas as forças policiais e exércitos do mundo desenvolvem programas de treinamento mais ou menos severos para seus novos recrutas. Mas, de acordo com o historiador francês Christian Ingrao, que estava especificamente interessado na história dos Einsatzgruppen , a importância desse treinamento preliminar dos homens que se tornarão assassinos é amplamente superestimada. No caso deles, por exemplo, seu treinamento não dura mais do que duas semanas, antes de partirem para o campo . E o que dizer em Ruanda sobre esses camponeses assassinos entrevistados pelo jornalista Jean Hatzfeld? Eles não passaram por nenhum treinamento anterior, nenhuma disciplina militar extenuante. Só lhes é pedido, numa situação de crise, que usem este instrumento agrícola que lhes é familiar, o facão, não para fazer o trabalho no campo, mas para ir cortar o inimigo tutsi. 10
11
Torne-se um assassino no campo de batalha Seria, portanto, bastante in situ , em ação e por ação, que grupos mais ou menos treinados de antemão se tornassem assassinos. Esta é a terceira grade de leitura para a passagem a atuar: a experiência adquirida no campo seria, em última análise, o fator mais importante na mudança para o assassinato em massa. Quem tem animado ou dirigido grupos sabe-o bem: é com o fundamento que se “encontra” um grupo, quer se trate de supervisionar os jovens numa actividade desportiva, de constituir equipas de trabalho. nos negócios ou para liderar soldados para a guerra. Não há razão para que a formação de um grupo de assassinos siga outras regras. Os guerreiros são forjados na guerra. É no ato de matar e por meio dele que se formam os executores dos massacres. O estudo famoso pela American historiador Christopher Browning no 101 Batalhão de Polícia alemã dá uma ilustração notável sobre esta maneira de entrar em assassinatos. Aqui estão cerca de 500 homens que nada está preparando para se tornarem assassinos em massa. Para o autor, são "homens comuns": pais de família, velhos demais para lutar no front russo, foram recrutados entre os policiais de Hamburgo. Uma vez postados na Polônia, eles vão, no entanto, assassinar diretamentecerca de 38.000 judeus e outros 45.000 deportados para as câmaras de gás de Treblinka. Eles realizam todas essas operações em dezesseis meses, sem estarem de forma alguma preparados. Tal viagem parece surpreendente e o grande mérito de Browning é oferecer uma reflexão sutil para buscar desvendar seus mistérios: voltaremos a isso. Mas Michael Mann criticou Browning por minimizar as convicções semíticas de alguns membros do batalhão (especialmente em seu quadro), que, portanto, não seriam compostos por homens comuns de forma que - crítica que aparece em parte com base . Muito provavelmente, estes exerceram um efeito cascata sobre os outros, menos acentuado no nível ideológico. No entanto, tal influência não deve ser superestimada. A única forma de "entender" o que está acontecendo com este batalhão, como o autor nos convida a fazê-lo, é colocar-se no contexto de sua ação, ou seja, da guerra total que º
12
começou. pela agressão alemã contra a União Soviética (ainda mais reforçada pela entrada na guerra dos Estados Unidos). Essa contextualização é certamente difícil para quem nunca conheceu essa atmosfera avassaladora de guerra. No entanto, é por meio disso que se constitui a principal "estrutura de significado" que influenciará a conduta desses homens. Porque é através da guerra que a ideologia atinge a realidade, ao ser imbricada por um imaginário de medo; esse inimigo horrível e perigoso, ele está lá: no campo de batalha. Mesmo se ele for desarmado, ele continua sendo o inimigo e deve ser destruído. Em minha opinião, esta última grade de leitura nos aproxima do “núcleo duro” da passagem ao ato do que as duas anteriores. Claro, eles têm seu interesse e não dizem necessariamente respeito aos mesmos artistas. Embora muito diferentes, ambos se baseiam em uma concepção racional de ação: ou que os indivíduos matam pelo lucro ou que matam porque foram treinados para isso. Em ambos os casos, propõe-se uma concepção utilitarista ou instrumental do ato, enfim, uma explicação baseada em certa forma de racionalidade. Mas não vimos, desde o primeiro capítulo deste livro, a importância de levar emexplicar essa imaginação de medo, vingança e onipotência que provavelmente precipitará o massacre? A este respeito, os comentaristas do livro de Browning podem não ter prestado atenção suficiente ao discurso que o Comandante Trapp, comandante deste batalhão, proferiu aos seus homens poucas horas antes de agir: “Lembremo-nos que, ao bombardear a Alemanha, o inimigo estava matando mulheres e crianças alemãs . Em outras palavras, o que "eles" fizeram aos nossos próprios filhos, nós podemos, devemos fazer por nossa vez. Não importa que Trapp então evoque os bombardeios anglo-americanos. Ele estabelece uma ligação entre este "inimigo externo" que ataca alemães inocentes e o "inimigo judeu" que seu batalhão de polícia deve destruir. Estamos aqui neste incrível entrelaçamento entre a realidade de uma agressão física e o imaginário de uma suposta ameaça vinda de civis desarmados. Ir para o massacre quase sempre parece envolver esse truque surpreendente que leva a equiparar a destruição de civis a um ato de guerra perfeitamente necessário. Portanto, o massacre é uma questão de autodefesa. Mais uma vez encontramos o dilema da segurança específico de uma lógica de guerra: somos "eles" ou "nós". Na Bósnia, a “limpeza étnica” também é vista como um ato de guerra, conta Natalija Basic, enquanto em Ruanda matar tutsis é parte do esforço de defesa do país. Mas estamos apenas no registro do imaginário? Não somente. Porque a prestidigitação parece ser verdade. Na verdade, essa ameaça parece ser parcialmente justificada. Afinal, os judeus podem de fato ser comunistas e ajudar o Exército Vermelho, enquanto os tutsis podem muito bem ajudar o RPF em sua conquista do poder. O argumento parece racional. Mas onde “limitar” a plausibilidade de tal ameaça? Quem é realmente cúmplice do inimigo e quem não é? Parece impossível dizer com certeza. Em última análise, é todo o grupo que se torna suspeito, que se torna o inimigo. E é por isso que as relações entre o imaginário e o real tornam-se completamente confusas. A ação força a destruição do grupo como tal. 13
O que eles estão pensando enquanto matam? Mas como você sabe se os implementadores realmente acreditam nessa "ameaça"? De certa forma, sim: dão prova disso, já que se transformaram em assassinos. Mas esse comportamento coletivo não constitui prova absoluta de suas convicções individuais. Muito raras são as palavras dos algozes no exato momento em que entram em ação. O estudo de Christopher Browning é
baseado no testemunho de policiais durante seu julgamento, cerca de vinte anos após o fato. Quanto a Jean Hatzfeld, ele questiona esses camponeses assassinos na prisão, certamente depois que foram julgados, porém dez anos depois. Em ambos os casos, os ex-assassinos tiveram, com o tempo, a oportunidade de racionalizar seu comportamento anterior. O trabalho de lembrar e reconstruir os fatos tem necessariamente acontecido. Para saber o que pensam os assassinos no momento em que agem, seria necessário ter vestígios de suas confidências durante as operações. Não palavras que possam dizer na presença de seus companheiros para se mostrarem, mas confidências pessoais que se pode supor que tenham o mais alto grau de autenticidade. Podem ser, por exemplo, diários ou correspondência privada para suas famílias . Mas esses documentos são extremamente raros. O diário de guerra de SS Hauptscharführer Felix Landau se enquadra nesta categoria . Durante a invasão da Rússia, ele se juntou a um “comando especial” . Foi nesta ocasião que seu diáriocomeça. Ele se apaixonou por uma jovem datilógrafa, Gertrude (embora casado desde 1938), a quem escrevia regularmente e cujas cartas esperava com impaciência. Ele parece profundamente preocupado com esse relacionamento. Ao mesmo tempo, nós o encontramos obediente e trabalhador, dotado de um senso aguçado da missão a cumprir. Ele parece ter admitido de uma vez por todas que judeus e poloneses são subumanos, escravos. E, no entanto, lamenta ter de matá-los, não porque tivesse qualquer sentimento humano em relação a eles, mas porque preferia ter uma tarefa mais nobre: lutar a guerra "real". “Não significa muito para mim atirar em pessoas indefesas, mesmo que sejam apenas judeus. Prefiro uma luta franca e aberta ”(5 de julho de 1941). Felix Landau, no entanto, usa a metáfora da guerra para justificar sua ação: "Fui oficialmente nomeado general dos judeus" (10 de julho de 1941). E, desta missão, parece sentir um certo cansaço: "Ainda terei de bancar o general dos judeus" (5 de julho de 1941). Mas a guerra existe e parece tê-lo marcado profundamente. Sua unidade segue o progresso da Wehrmacht, e em todos os lugares em seu caminho “cheira a morte: Vimos coisas que raramente vimos. "Neste universo de destruição, seus pensamentos mais íntimos vão para sua" Trude ", sua" adorável joaninha ":" Com a ideia de ter uma carta, sou feliz como uma criança "(12 de julho de 1941) . Ele é freqüentemente atormentado, porque não sabe se Gertrudes permanecerá fiel a ele. Por outro lado, ele não parece sentir nenhum grande problema quando mata ou manda matar judeus. Ele relata sua participação em uma execução: “É curioso mesmo assim. Amamos o combate e você deve metralhar seres indefesos. Eles terão 23 anos para serem fuzilados; entre eles mulheres [...]. São admiráveis [...]. Os candidatos fazem fila, pás nas mãos, para cavar suas próprias sepulturas. Dois estão chorando entre eles. Eles realmente têm uma coragem surpreendente. O que poderia estar acontecendo em seus cérebros agora? [...] Curioso, nada mexe em mim, absolutamente nada, sem dó. Nada. É assim, mas meu coração bate muito devagar quando sentimentos e pensamentos despertam de repente ”(12 de julho de 1941). Embora seja SSH, suas notas expressam um embaraço em "bancar o carrasco e o coveiro" quando ele gostaria de lutar na frente militar. Ele observa que essas execuções são exaustivas: “Os golpes explodem, o cérebro explode no ar [...]. Volto para casa morto de cansaço e agora temos que voltar ao trabalho. " Em outras passagens de seu diário, descobrimos em Félix Landau um ser que se interessa por outras culturas: ele conta, por exemplo, como passou uma excelente noite com uma família ucraniana cujos costumes descobriu. Mas à noite seus pensamentos voltam para sua amada. Ele parece estar tão fortemente apaixonado por ela que a quer ao seu lado e dará passos nesse sentido com seus superiores. Não busca sua presença física para melhor suportar as dificuldades de seu 14
15
16
"trabalho"? Ler este diário deixa uma sensação profunda de mal-estar, até mesmo pavor. Porque esse indivíduo que aprende cada vez mais a matar os judeus da cadeia "bancando o general", como ele mesmo diz, é terrivelmente humano: ele ama, sofre com a ausência do ente querido, e com esse sentimento o amor pode andar perfeitamente de mãos dadas com uma extrema brutalidade para com os judeus, dos quais ele integrou perfeitamente a ideia de que sua vida não vale nada se não como escravos. Outro documento surpreendente: trechos desta carta de Walter Mattner, um policial vienense que, recrutado em um Einsatzkommando , está em operação na Bielo-Rússia. Em 5 de outubro de 1941, ele escreveu para sua esposa estas frases incríveis: “Então eu também participei do grande massacre [Massensterben] anteontem. Nos primeiros veículos, minha mão tremia ao atirar, mas você se acostuma. No décimo, eu calmamente mirei e atirei em mulheres, crianças e bebês com segurança. Eu tinha em mente que também tinha dois bebês em casa, com os quais essas hordas teriam feito exatamente o mesmo, senão dez vezes pior. A morte que demos a eles foi doce e rápida [kurz] em comparação com as torturas infernais de milhares e milhares nas prisões da GPU. Os bebês estavam voando no céu em grandes arcos e atiramos neles , antes que caíssem no poço e na água. Temos de acabar com estes brutos que lançaram a Europa na guerra . " Essas observações tendem a provar que os executores de fato internalizam as estruturas ideológicas elaboradas pelos poderes, destinadas a justificar os assassinatos. Como Felix Landau, Walter Mattner pareceinicialmente sentindo-se desconfortável atirando em pessoas indefesas. Mas seus escrúpulos desaparecem muito mais rápido. Ele percebe que a força do hábito se instala nele (voltarei a esse fator mais tarde). No entanto, este pai quer explicar à esposa por que ele acaba matando bebês, embora ele mesmo tenha filhos pequenos. Sem dúvida, ele poderia poupá-lo de tais detalhes. Mas ele tenta se justificar. E ele não tem escolha a não ser retomar os argumentos da propaganda do regime, dando-lhes um significado pessoal, em relação à sua própria família. Quem tem dois filhos concorda em matar bebês pensando nos próprios filhos. É assim que ele se livra da possível culpa de assassinar crianças, considerando que pertencem a uma "horda " de selvagens por definição que tem mergulhado a Europa na guerra e que ameaça o povo alemão. . Notemos que este homem ainda dá a si mesmo o belo papel de se gabar de ser quase humano em sua violência, pois afirma que ele e seus companheiros infligem uma morte "suave e rápida", em comparação com a tortura que teria sido infligida pelo Inimigo bolchevique. Na própria prática de sua barbárie, o carrasco ainda busca crescer fingindo ser humano. Esses escritos particularmente raros de performers no exato momento de matar tendem a provar que eles aderem ao que estão fazendo. Podemos nos perguntar: antes de agir, eles eram parte da minoria de fanáticos convictos ou melhor, da maioria dos indivíduos comuns no sentido de Browning? Em minha opinião, tal questão torna-se secundária assim que os indivíduos se encontram envolvidos na dinâmica do massacre. Na verdade, a partir do momento em que concordam em matar em massa, devem encontrar um "significado" no que estão fazendo; caso contrário, não vemos como eles poderiam continuar a matar. Quer tenham sido ideólogos previamente convictos ou não, a sua prática obriga-os, por assim dizer, a desenvolver justificações que, a seus próprios olhos, podem explicar a sua participação nestas matanças. Pensar no massacre não equivale, de forma alguma, a isolar um "antes" e um "depois" do ato - como se o "antes" fosse da justificativa ideológica, enquanto o "depois" fosse o do ato. ato físico de massacre. Tal esquema, muito linear, não leva suficientemente em consideração os efeitos das práticas de matar sobre os próprios assassinos. As representações dos performers estão em constante evolução de acordo com suas práticas no campo. Não é apenas a estrutura de significado que 17 para baixo
18
19
precipita a passagem para o ato, é a própria prática do massacre que reelabora a estrutura de significado de tal ação. Dissonância cognitiva e racionalizações Aqui vislumbramos outra forma de apreender as metamorfoses da mudança para o massacre. Se o grupo possibilita transformar o indivíduo em assassino, a prática repetida do massacre o leva a construir novas representações das vítimas de modo a fazê-lo justificar o que faz. Pois a retórica militar (explicada acima) nem sempre parece ser suficiente para legitimar a destruição de indivíduos indefesos. Os discursos dos assassinos empregam outros tipos de justificativas, muitas vezes elaboradas na situação. Assim, as práticas de massacre estão literalmente produzindo uma nova retórica, um novo vocabulário. Eles usam palavras emprestadas de uma ampla variedade de atividades (caça, trabalho, saúde, etc.) para mascarar a realidade do assassinato de seres humanos. Essas representações, então, não são tanto a causa quanto a consequência da passagem ao ato (mesmo que possam recorrer a elementos já presentes em discursos anteriores). Tudo, portanto, se passa como se os assassinos, na hora de matar, elaborassem, com as palavras de sua cultura, as várias estruturas de significado que provavelmente os farão "racionalizar" o que fazem. Na verdade, eles se encontram mergulhados em uma situação intensa de "dissonância cognitiva", para usar a interessante expressão cunhada pelo psicólogo americano Leon Festinger . Na verdade, eles vivem um conflito agudo entre, por um lado, suas práticas assassinas e, por outro, as representações que têm de si mesmos. Como então eles podem tolerar matar uns aos outros? Esta teoria chamada de "dissonância cognitiva" afirma que os performers devem necessariamente reestruturar seusrepresentações para que se encontrem mais em conformidade com o seu comportamento. Não há nada de excepcional nisso: esta é apenas uma ilustração entre muitas de nossa capacidade de racionalizar nossas crenças para alinhá-las com nosso comportamento. O desenvolvimento de tais representações entre os assassinos, portanto, não deve ser visto como pura propaganda, mas sim como a formação, na ação e pela ação do massacre, de vários léxicos necessários para o assassinato em massa, permitindo o último ocorre e se reproduz. Um dos léxicos mais frequentes, muitas vezes comum a diferentes culturas, relaciona-se ao bestiário e à caça. Observamos que a propaganda do regime já era capaz de descrever seus inimigos como animais (como ratos, piolhos, baratas, vermes, etc.). Essas qualificações faziam parte de uma retórica mais geral voltada para o ostracismo de uma população. Na hora do assassinato, essas representações animais das vítimas podem reaparecer sob outras formas, como a de caça a ser caçada. O pesquisador americano de origem ruandesa Charles Mironko observou, em suas entrevistas com ex-assassinos, o uso frequente da palavra kinyarwandense igitero , que se refere a dois significados: por um lado, o de caça e, por outro, que uma necessária solidariedade comunitária diante do perigo . De lá para o lançamento juntos na busca deste jogo perturbador para torná-lo um bom banquete, há apenas uma etapa, muitas vezes visível nas palavras dos assassinos em ação. Assim, conta um sobrevivente: “Chegou um grupo de milicianos cantando, brandindo facões e lanças, gritaram: 'Aqui estamos, aqui estamos e aqui estamos, como preparamos a carne tutsi” . “Na Croácia, os grupos sérvios que entram em Vukovar clamam pela mesma coisa:“ Slobodan, mande-nos salada, carne, temos, nós égorgeons croatas . O que podemos dizer sobre esta "perda 20
21
22
23
do sentido moral desses camponeses poloneses": "Uma psicose se apoderou deles e, como os alemães, eles não vêem mais o judeu como um ser humano, mas apenas um animal pernicioso, que deve ser destruído por todos os meios, comocães ou ratos loucos de ”. Para tornar o distrito de Lublin definitivamente "livre dos judeus" (judenfrei) , aqueles que forem descobertos errantes no país tiveram que ser, a partir de outubro de 1942, massacrados no local, sem qualquer tipo de procedimento administrativo. “No jargão oficial, o batalhão fazia 'patrulhas florestais' em busca de 'suspeitos'. Mas como os judeus sobreviventes estavam a ser caçados e tiro como animais, os homens da 101 reserva batalhão de polícia preferido para vestir esta fase da Solução Final chamado Judenjagd , a "caça aos judeus" . As vítimas dessas operações de busca também podem ser guerrilheiros ou prisioneiros de guerra fugitivos. Para fazer isso, oficiais da 101 teceu uma rede de informantes poloneses, caçadores e outros denunciantes, especializada na busca de esconderijos. No momento do assassinato, os assassinos ainda podem recorrer a outra retórica para entender o que estão fazendo. O uso de certas palavras e expressões visa mascarar e banalizar a realidade do massacre. Em Ruanda, isso é muitas vezes assimilado a um determinado tipo de "trabalho", o que lhe confere um aspecto banal, senão indeterminado, em todo o caso útil para a comunidade, uma forma de "roçada" das colinas, como se fosse 'era uma atividade agrícola. O massacre ainda é muitas vezes apresentado como uma iniciativa de "limpeza", palavra que se encontra na expressão "limpeza étnica", mas também na linguagem militar: "limpar a zona". Portanto, a realidade do massacre desaparece por trás da noção positiva de limpeza, até mesmo saúde. Além disso, palavras desvinculadas de seu contexto, que antes evocam operações técnicas ou a movimentação de pessoas ou mercadorias, também são utilizadas para qualificar os assassinatos. Sabemos que os nazistas inventaram um vocabulário eufemístico para especificar o assassinato de judeus, utilizado em diversos relatórios administrativos, por meio de expressões como "tratamento especial", "reassentamento" ou a infame "Solução Final" . O protocolo da conferência de Wannsee fala, portanto, de judeus a serem “reassentados” ou “evacuados”. Para realizar o massacre dos homens de Srebrenica, oOficiais políticos e militares sérvios da Bósnia inventaram um código para se comunicarem, designando grupos de homens a serem executados como “pacotes”. No entanto, esse termo não carrega o mesmo significado desumanizador que nas expressões usadas pelos nazistas. Mas pelo menos permite que os nacionalistas sérvios bósnios encobram o que estão fazendo. Assim, em 14 de julho de 1995, o Coronel Ljubisa Beara comunicou ao seu superior que “ainda tinha três mil e quinhentos pacotes para distribuir ” . Observe que essas diferentes formas de nomear as vítimas sofrem contradições: como se pode ser ao mesmo tempo um animal a ser caçado e um pacote a ser entregue? Mas o universo léxico dos assassinos não se preocupa com essas inconsistências. Não importa, desde que cumpram sua missão. A formação dessas linguagens de massacre, portanto, parece diretamente associada ao desenvolvimento dessas práticas. Essas expressões permitem criar uma "cultura comum" para os assassinos, favorável ao estabelecimento de uma dinâmica de grupo. Mas como podemos acreditar que palavras simples, fórmulas simples podem esconder os horrores do assassinato, mesmo dos olhos dos próprios assassinos? Quem pode realmente pensar que esses indivíduos a serem massacrados não são seres humanos como os outros? Na realidade, as matanças de seres humanos supõem, em quem as realiza, um investimento físico e sobretudo mental muito exigente. Para assumir a responsabilidade pelo que fazem, os artistas devem se convencer de que estão servindo 24
ª
25
ª
26
27
a um interesse superior, seja de seu grupo de escolha, de sua nação ou mesmo de toda a humanidade. Em suma, o horror de suas ações os obriga a se projetar em uma certa transcendência. Isso é apresentado como uma "Lei" superior, um imperativo categórico, ditado pelo sentido absoluto do dever. Em vez de pensar: “Quantas coisas horríveis eu fiz! ", Os assassinos devem saber dizer:" Que coisas horríveis eu devo ter feito ! " Da mesma forma, a corrida está" desconectada "de si mesmo, tendo agido por dever. Entende-se: ele fez um “trabalho sujo”, mas sai crescido aos seus olhos e aos olhos dos outros. Tinha que ser bem feito e foi até necessário para a sobrevivência de seu grupo, para o bem de todos. Finalmente, ele pode se orgulhar do que fez! De qualquer forma, se ele tivesse recusado, outras pessoas além dele não teriam hesitado. Então, qual é o ponto de se exibir? Que inversão de valores impressionante! Na realidade, isso é apenas o reflexo da inversão das normas na sociedade que recompensa os indivíduos que matam em vez de puni-los. Essa inversão também funciona como um mecanismo de defesa para muitos artistas. Porque para se livrar da ideia de que estão fazendo o mal, eles não têm escolha a não ser acreditar que esse mal está precisamente corporificado em suas vítimas. Esse mecanismo de projeção, bem identificado na psicologia, é devastadoramente poderoso. Essa ancoragem do assassinato em massa ao lado da moralidade dá a ela toda sua força destrutiva, a longo prazo. Este outro para destruir é mau, senão o diabo. A vítima pode perfeitamente ter um rosto humano: como o diabo. Essas representações diabólicas do Outro a ser destruído, portanto, parecem muito mais poderosas do que suas representações animais. Eles permitem que os artistas matem esses seres humanos malignos sem escrúpulos. E de repente, o carrasco reivindica sua inocência. Essa "boa consciência" dos assassinos não é tanto um pré-requisito para agir, mas sim uma consequência dela: uma falsa postura moral à qual eles são cada vez mais acuados à medida que afundam. na repetição do assassinato. Legitimações divinas Na encosta dessa suposta inocência, o carrasco tem um encontro com o sagrado. Porque brincando com a vida e a morte dos homens, os executores do massacre quase podiam acabar acreditando que são os instrumentos da mão de Deus. A necessidade de justificativa moral para o massacre pode de fato levar alguns à sua legitimação religiosa. Já estão convocando este Deus para abençoar seus assassinatos, como em Ruanda onde “a Virgem Maria é convidada a apoiar a guerra, em maio de 1994, durante uma“ aparição ”apresentada na rádio ”.Na Croácia, as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje parecem provar que ela também está do lado dos combatentes nacionalistas croatas; “A Virgem está envolvida numa guerra de independência” e torna-se “curadora de todos os males da Croácia” . Lado sérvio, sem dúvida para um dos policiais Brana Crncevic, "Os crimes sérvios são de Deus, aqueles outros Diabo ". Na Alemanha nazista, é Hitler absoluto que é apresentado como o novo Deus. Como a análise de Omer Bartov, "os dois fatores que operam nas representações dos soldados são a desumanização do inimigo e a desumanização do Führer ". Como podemos nos surpreender com esta fórmula divulgada por Friedrich-Wilhelm Krüger, Comandante-em-Chefe das SS e da Polícia da Galiza, que supervisiona o massacre dos judeus em Stanislau? Em 12 de outubro de 1941, não tendo conseguido assassinar o número esperado de judeus naquele dia, ele disse: “Quem vive ainda pode ir para casa, foi o Führer que você doou sua vida . »No final dessa lógica de divinização, o carrasco 28
29
30
31
32
pode até acabar se considerando por Deus. Afinal, não foi isso que os poetas da Grécia antiga nos ensinaram desde Homero? Ao dar a morte, o herói corre o risco de se acreditar imortal. É a sensação de onipotência que sente logo depois de ter assassinado os homens de Srebrenica? É este o vestígio de sua megalomania, ou mesmo de uma loucura possível e temporária? Ainda assim, quando chega à frente dos muçulmanos de Zepa, que também planeja executar (depois dos de Srebrenica), o general Mladic declara a eles: "Nada e ninguém, nem Alá nem as Nações Unidas, podem Socorro. Eu sou o seu Deus . " No entanto, nem todos os organizadores e executores do massacre experimentaram tal evolução. Descrevi aqui uma série de representações entre os algozes que vão desde as mais comuns (o massacre vivido como uma operação de guerra) até as mais excepcionais (a da divinização do algoz). Assim que eles estão engajados emmassacre, os perpetradores necessariamente experimentam uma convulsão psíquica considerável e os quadros de significado que constroem são um compromisso permanente entre o discurso da propaganda que os ataca de fora e as imagens que eles têm de si mesmos em seus para o interior. Vimos isso com o SS Landau: embora tendo perfeitamente compreendido que pode matar os judeus à vontade, ele sente essa atividade como inglória, inconsistente com seu ego, e aspira muito mais ao "combate real". Os custos psicológicos, decorrentes da prática de homicídios, podem, assim, levar vários executantes a não quererem mais participar. Mas esse cenário raramente ocorre porque os performers são atraídos para uma dinâmica coletiva que lhes deixa pouco espaço para recusa. Junto com esses ajustes semânticos que justificam o massacre, agir de fato supõe a criação de um dispositivo de transição organizacional e técnico. Este dispositivo não tem outra função senão aliviar a carga psíquica dos executores para que se acomodem permanentemente na matança. Este dispositivo basculante é composto por duas “molas” complementares, uma vertical e outra horizontal, cuja dinâmica de funcionamento será agora apresentada. 33
O dispositivo alternativo no assassinato em massa Dentro do grupo, o indivíduo é de fato submetido a uma dupla pressão que o precipita para a ação de matar. O primeiro é exercido por aqueles que têm autoridade, enquanto o segundo vem dos próprios "pares", isto é, aqueles que, como ele, estão em condições de realizar o assassinato. As duas dinâmicas se cruzam e se complementam: a primeira atua sobre um eixo vertical, o da obediência às ordens, a segunda, sobre um eixo horizontal, o da conformidade com o grupo. Desse modo, o indivíduo é inserido permanentemente em um dispositivo que o desequilibra, sendo seu comportamento definido não tanto por ele quanto por seus líderes, espelhando ao mesmo tempo o de seus companheiros assassinos. Isso significa que o indivíduo é então “pego” por essa dinâmica infernal que ele realmente não queria? Isso então o colocaria um pouco rápido demais em uma situação de total irresponsabilidade. Ele não deu seu consentimento inicialmente? Certamente ele se encontra preso em umengrenagem que ele mal consegue controlar e que, em alguns casos, o levará mais longe do que ele teria imaginado. Quanto mais envolvido ele está, mais difícil é para ele se livrar disso. O fato é que ele inicialmente concordou em se envolver. Vamos examinar brevemente os dois eixos
desse dispositivo de inclinação por meio do qual esse grupo primário de assassinos é construído, qualquer que seja a história dos indivíduos que o compõem. O crime de obediência O eixo vertical do dispositivo basculante equivale a avaliar o papel da hierarquia de comando na passagem para o ato. Dependendo da natureza dos grupos considerados, é mais ou menos estruturado. Assim, dentro de uma unidade militar, a disciplina é geralmente muito mais desenvolvida do que em um grupo de milicianos . Mas como o massacre quase sempre assume um impulso central, é raro que não haja, mesmo em tais grupos, um líder a quem os executores obedecem mais ou menos formalmente. É precisamente argumentando a partir dessa posição dos subordinados que os executantes pretendem ser exonerados do que fizeram. É comum ouvi-los dizer quando chamados a se defender durante o julgamento: “Eu só obedeci ordens. O subordinado, portanto, teria se encontrado em uma situação de restrição absoluta: ou para executar as ordens, ou para fazer-se executar; ou matar, ou ser morto. Esta linha de defesa parece imparável. No entanto, ele esbarra em uma objeção séria, como Christopher Browning observou no caso da Alemanha nazista: “Em quarenta e cinco anos e centenas de julgamentos, não houve um único advogado ou acusado capaz. para produzir um único caso em que a recusa em matar civis desarmados resultou na terrível punição que supostamente atingiu os rebeldes . "Mesmo dentro do 101 Batalhão, alguns homens se recusam a participar na missão tão logo eles são informados por seu comandante e não são fornecidos sancionado. Na Iugoslávia, sabemos quemuitos jovens se recusaram a ingressar no exército de Milosevic. Também não há casos conhecidos em que aqueles que se recusaram a participar nos massacres foram mortos por esse motivo. Em Ruanda, recusar-se a participar das matanças parece mais arriscado, de acordo com Jean Hatzfeld. Os hutus que desejam proteger as vítimas são executados imediatamente. Mas ele não cita casos em que hutus são mortos porque se recusam a matar. As estratégias alternativas parecem ser possíveis, sob o pretexto do dia de "trabalho", por exemplo, que você tem algo urgente para fazer para sua família ou em seu campo, etc. Esta questão de obediência às ordens desafia a todos nós. Tendo abordado o assunto com frequência com meus alunos, percebi o quanto eles tendem a se perguntar espontaneamente. O que teríamos feito no lugar desses policiais alemães, desses soldados sérvios e croatas ou desses camponeses hutus? Depois, pode-se julgar seu comportamento abstratamente e concluir que sempre foi possível recusar. Mas nossa posição é, no entanto, muito confortável, pois, sabendo o final da história, sabemos que alguns disseram não e não foram necessariamente punidos por isso. Mas se, em termos concretos, nos encontrássemos mergulhados numa situação semelhante, sob pressão das lideranças e medo de sanções, qual seria o nosso comportamento? É compreensível que os algozes digam que foram "treinados", como argumentou, por exemplo, um jovem oficial da polícia croata, Darko Mrdja, que acredita, durante o seu julgamento em Haia, não ter tido a escolha de recusar . Essa impressão é bem fundada porque há algo na lógica de ação de um grupo de assassinos que é engrenado, senão um comportamento que se torna quase viciante. Voltarei a isso mais tarde. Isso significa que todos os intérpretes devem ser considerados como tendo agido contra sua vontade, como muitas vezes alegam perante seus juízes? Certamente não. Obediência não é uma atitude puramente passiva. Implica, exige um consentimento inicial voluntário. E as razões para 34
35
36
º
esse consentimento em obedecer são múltiplas, como vimos anteriormente. Razões ideológicasprimeiro: o indivíduo concorda em matar porque realmente "acredita" nisso, porque pensa sinceramente em servir a sua nação, porque está convencido de que é urgente se livrar de seus "inimigos". Ainda há razões econômicas: quando ele vê como pode tirar benefícios materiais da situação para sua própria conta. Ambos são perfeitamente compatíveis. O modo de consentimento da maioria para obedecer ainda é diferente: é a convicção, para a maioria dos executantes, de servir a uma autoridade legítima. O pensamento de Max Weber permanece aqui incontornável para compreender como um poder, marcado com o selo da legitimidade, desperta a fidelidade dos indivíduos e a adesão de quem o serve para cometer violência em seu nome. Experimentos de psicologia social trouxeram à luz os efeitos devastadores desse processo de obediência. O mais famoso deles é o do americano Stanley Milgram, desenvolvido na década de 1960 na Universidade de Yale . Reúne, em sua variante principal, um experimentador e um monitor que são solicitados a administrar choques elétricos de intensidade crescente a um "aluno" que deve aprender pares de palavras (na verdade, os choques são fictícios, l aluno simula dor). Na realidade, o verdadeiro sujeito do experimento é o monitor, sobre o qual é exercida a autoridade do experimentador. Essa experiência tem sido criticada por ser artificial e, portanto, por não refletir a complexidade da situação histórica. Como duvidar disso? É sempre assim: uma experiência de laboratório, quando consegue evidenciar a importância de certos fenómenos, é apenas uma fonte de inspiração para uma melhor compreensão da complexidade da realidade, dos factos históricos ou sociais. . Nesse caso, essa experiência de Milgram, reproduzida em vários países, permite destacar aspectos centrais do processo de obediência. A primeira é, portanto, que o instrutor aceita administrar choques elétricos no aluno apenas se perceber que o experimentador realmente representa a autoridade científica. Se, por exemplo, este último não usar jaleco branco, o instrutor não concorda em seguir suas ordens. Portanto, oA legitimidade científica que ele incorpora é a única capaz de obter o consentimento do instrutor para seguir suas instruções; consentimento inicial que, à medida que o experimento continua, vinculará cada vez mais o monitor ao experimentador. O instrutor tem a convicção de operar dentro de um “marco de sentido”, que é o da ciência, dentro de um laboratório de uma prestigiosa universidade americana. Foi isso que o levou a concordar em apoiar tal experiência. Segundo ponto essencial: toda a dinâmica dessa experiência vem do experimentador que segue dando instruções ao instrutor, que sempre vão no sentido de aumentar os choques elétricos para "punir" o aluno por não ter sucesso na sua. tarefa. É por meio da influência desse experimentador que ocorre o movimento de balanço vertical. É ele quem, por sua pressão constante, nunca cessa de "enquadrar" o monitor naquilo que deve fazer. Tudo se passa como se o experimentador, investido de autoridade científica, ocupasse a função de supervisor, previamente observada durante o massacre, dizendo quem matar ou não matar. Notemos de passagem a importância deste modelo de três partes: experimentador-instrutor-aluno. Também parece definir a estrutura elementar do massacre: enquadrador-performer-vítima. Pena que Milgram não pensou em construir uma variante do experimento apenas com o instrutor e o aluno: é provável que esse tivesse dado resultados muito inferiores, senão zero. Esta pressão constante do experimentador no monitor entra muito rapidamente em conflito com o sofrimento perceptível do aluno. Aqui chegamos ao cerne do que Milgram deseja testar: como o monitor vai sair dessa situação? Como ele vai se comportar? Os resultados da experiência ainda são ricos em ensino para aqueles que estudam os fenômenos do massacre; na verdade, a 37
resposta dominante dos monitores (entre 60 e 80% dos casos) é continuar o experimento enquanto se colocam sob a responsabilidade total da autoridade científica. Desde o início, o instrutor já aceitou o princípio, nem que seja dando seu apoio ao experimento. Mas neste ponto de tensão, confrontado com o sofrimento simulado pelo aluno, ele dá um passo adiante nessa fidelidade, acreditando que não pode mais ser responsabilizado pelo que possa acontecer. Consequentemente, o monitor entra em “estado de agente”, para usar a expressão de Milgram, respeitando escrupulosamente as instruções do experimentador, concentrando-se nas alavancas de controle.a máquina. De certa forma, ele obedece à "lei" do experimentador que lhe diz para aumentar sempre os choques elétricos. Ao fazer isso, ele se coloca a uma distância completa do aluno, parecendo não perceber mais nada de seu sofrimento. Assim, vemos um duplo processo de identificação total com a autoridade e desligamento emocional da vítima sendo armado, o monitor se esforçando para fazer seu "trabalho" bem. No entanto, o motivo desta experiência não é tanto estudar obediência, mas desobediência. Mais exatamente, trata-se de saber em que proporção e em que momento o monitor vai querer deixar de seguir as instruções do experimentador. Se nenhum sujeito se recusa a participar do experimento, eles ainda são 20 a 40% não querendo administrar as cargas mais perigosas. Na maioria dos casos, essas recusas não assumem a forma de uma rebelião aberta contra o experimentador. Os monitores param principalmente porque não suportam mais os gritos e apelos dos alunos. Mostrando-se sensíveis ao sofrimento deste último, não conseguem se desvencilhar emocionalmente daquilo que o experimentador lhes pede para fazer. Tal observação é mais perto de deserções por Christopher Browning em 101 dos homens batalhão. Na recusa de 10 a 15%, eles não pretendem bater de frente com seus líderes. Eles apenas declaram que não são "fortes" o suficiente para cumprir a missão que lhes é pedida. É, portanto, confessando a sua “sensibilidade”, ou seja, a sua suposta “fraqueza”, que conseguem não se ver envolvidos nas matanças. Essa sensibilidade ao sofrimento, desencadeando a recusa, revelaria, na verdade, personalidades mais "fortes", neste caso mais autônomas, ou seja, menos aptas a se submeter a um comando autoritário .
th
38
Conformidade do grupo A conformidade com o grupo constitui o segundo eixo fundamental do movimento de balanço em direção ao massacre. As observações sociológicas e históricas também permitem apreendê-lo. Também tem sido objeto de pesquisas em psicologia social. além daPor pressão dos líderes, o grupo pode, sim, ser considerado por si mesmo uma fonte de poder sobre o indivíduo. Essa pressão, tanto psíquica quanto física, vem do medo de ser rejeitado por esse grupo e, de forma mais ampla, de ser banido da sociedade. Esta tendência ao conformismo resulta antes de tudo da pressão social generalizada que se desenvolve num país em crise, devendo cada um escolher o seu campo: estar "conosco" ou "eles". Em 1994, em Ruanda, essa polarização política e identitária atingiu um ponto de incandescência. A atmosfera social é violenta e é muito difícil sair desse estado de espírito coletivo. "Estar sozinho é muito arriscado para nós", disse Alphonse, um ex-assassino. Então a pessoa corre até o sinal e dá a sua contribuição, mesmo que a contraparte seja o maldito livro que você conhece . " A busca pela conformidade também decorre dessa tendência que pode ser observada em muitos assassinatos em massa: o desejo de envolver o maior número possível de pessoas no 39
massacre, para que a responsabilidade pelos assassinatos seja compartilhada coletivamente. “Acredito que aquele que foi obrigado a matar, diz Christine, uma menina de tutsi e hutu, queria no dia seguinte que seu vizinho fosse obrigado por sua vez, que fosse considerado da mesma forma [...], mas você tinha que se mostrar merecedor corar as mãos em uma ocasião . " Dentro de um grupo de assassinos, essa pressão coletiva torna-se particularmente poderosa. Na Bósnia, "os milicianos não eram necessariamente fanáticos cheios de ódio", observa Anthony Oberschall. Na verdade, os jovens sérvios foram empurrados para as milícias por causa da pressão dos colegas, do medo dos muçulmanos (mas também dos extremistas sérvios) que poderiam a qualquer momento acusá-los de serem “traidores”. Assim que um jovem se integrou a um grupo de milícia, viu-se “encapsulado” em uma unidade quase militar e sujeito à solidariedade de seu grupo e à lealdade para com sua etnia ”. Em Ruanda, redes de afinidades nas colinas ajudam a formar grupos locais de assassinos. Assim, para fazer o "trabalho" nos pântanos, os homens se reúnem em grupos de conhecidos. Este último não gosta dos milicianos Interahamwe de fora da região, que vêm saquear os bens das vítimas. Para criar um verdadeiro espírito de corpo, o grupo às vezes dá a si mesmo ritos de iniciação por meio dos quais o recém-chegado é convocado a provar sua lealdade matando pela primeira vez, à vista de todos. Na região de Musebeya, ainda poupada, Alison Des Forges conta que os hutus que ainda não haviam matado os tutsis foram tratados como "cúmplices" (ibyitso) . Eles foram ameaçados: "Venha com a gente, senão vamos matar você!" Aí um grupo capturava um tutsi e dizíamos a eles: "Mate-o para mostrar que você realmente está conosco!" " No entanto, esses ritos de iniciação nem sempre são necessários, pois a tendência de se comportar como os outros pode ser dominante e, portanto, prescritiva do comportamento individual. O que conta acima de tudo é a vontade de não perder prestígio, ou seja, de não parecer um "covarde". É muito difícil ir sozinho quando os principais demandas de seus homens que eles "exceder", como neste 13 de julho de 1942 o comandante do 101 expõe batalhão que ele espera de seus homens. “Deixar as fileiras naquela manhã em Jozefow significava abandonar seus companheiros e admitir que você era 'fraco', até mesmo 'covarde' . Neste preciso momento, os executores já não podem dizer a si próprios: «Porque é que tenho de matar esta gente que não me fez nada? ", Mas sim:" Vou deixar meus camaradas ir, deixando-os fazer esse trabalho sujo? Sua participação se torna muito mais uma questão de orgulho pessoal, senão de coragem, em seguir os outros; que ofusca seu possível sentimento de culpa em matar indivíduos indefesos. Diante da parede, os membros do grupo se sentem compelidos a agir, todos juntos. Para parecerem "fortes" e responder a um chamado ideal de masculinidade sinônimo de brutalidade, eles se tornarão assassinos. Neste momento, as representações ideológicas das vítimas parecem pouco determinar seu comportamento. Tudo se desenrola na maneira como esses homens se olham. Tudo se desenrola no orgulho de não mostrar pena daqueles que estão prestes a matar. Tudo se desenrola no sentido de solidariedade, logo reunidos nesta viril e sinistra fraternidade do massacre. Neste grupo, nem todos os assassinos são iguais: seu comportamento pode ser diferente depois que a ação é iniciada. Nesse ponto, outro experimento de psicologia social, o de Philip Zimbardo, nos ajuda a aguçar nosso olhar. Ele teve a ideia de simular uma situação de prisão pedindo aos alunos da Universidade de Stanford que desempenhassem os papéis de guarda prisional e prisioneiro, respectivamente. Essa situação, embora artificial, induz efeitos espetaculares nos indivíduos. Os alunos entram no “jogo” e realmente começam a se comportar como guardas e prisioneiros. Segundo Zimbardo, eles passam por um processo de desindividualização que os treina para se conformarem ao papel de prisioneiro passivo e guardião 40
41
42
º
43
brutal. Essa polarização de papéis tende a se radicalizar com o tempo: à medida que os guardas começam a se tornar violentos com os presos, a experiência deve ser interrompida. Um dos resultados mais espantosos de Zimbardo é mostrar que indivíduos que não podiam ser qualificados de forma alguma como sádicos antes do experimento, na verdade adotam comportamentos cada vez mais sádicos. No entanto, ele distingue três tipos de comportamento entre os goleiros. Quase um terço deles acaba sendo cruel e severo. Eles usam a imaginação para humilhar os prisioneiros e parecem ter prazer em inventar esses "jogos". Outros (quase metade) se concentram em fazer cumprir as regras, que podem ser difíceis e leais. Eles não parecem querer aproveitar a situação para maltratar os presos. Por fim, alguns (menos de 20%) acabam por ser “bons” guardas, não procurando brutalizar os detidos e mesmo podendo conceder-lhes pequenos favores. Segundo Christopher Browning, essa experiência da psicologia social é ainda mais relevante do que a de Milgram para a compreensão do comportamento dos "perpetradores". A gama de comportamentos identificados por Zimbardo na verdade apresenta semelhanças com as atitudes dos policiais alemães de 101 batalhão. Em primeiro lugar, há um núcleo de performers “zelosos” entre eles, assassinos cada vez mais entusiasmados, que se voluntariam para as execuções. Em segundo lugar, existem os “seguidores” mais numerosos que disparam quando solicitados, mas que não procuram oportunidades para matar. Eles podem até se abster de fazê-lo se os líderes não estiverem lá para vigiá-los. Finalmente, um punhado de "reticentes" ou "refratários" (menos de 20%) se recusam a matar ou tentam evitá-lo. Apesar desta repulsa, mesmo da resistência de alguns, a dinâmica geral dos membros do grupo é, portanto, aceitar a execução do assassinato. Eles então se parecem com aquele pacote de aniquilação de que fala Elias Canetti? Eles avançam em formação cerrada como se fossem enfrentar um exército? Para vê-los passar, eles já são assustadores. Em geral, usam trajes ou uniformes específicos, para significar o pertencimento comum a um grupo, à mesma polícia ou unidade militar: a sinistra "caveira" usada pelos SS; a tatuagem mais discreta dos nacionalistas sérvios, em forma de slogan: "Só a solidariedade salva os sérvios"; as folhas de bananeira usadas por certos atacantes hutus. Às vezes ainda, eles encapuzam ou escurecem seus rostos para não serem reconhecidos. De repente, a carnificina começa: corpos desabam, sangue jorra por toda parte, cérebros explodem. Os performers não têm necessariamente a prática da coisa. Pode ser uma experiência totalmente nova para eles. Nesse caso, a situação é necessariamente um teste psicológico, uma espécie de "batismo de sangue": como eles podem se proteger psicologicamente dos efeitos da matança? Ao mesmo tempo, eles devem ser eficientes, acabar com isso o mais rápido possível para se livrar dessa missão. A passagem para o ato implica um duplo aprendizado no próprio terreno da ação: um esforço de adaptação psicológica ao mesmo tempo que o recurso a vários métodos de matar, mais ou menos eficazes. º
A dupla aprendizagem do massacre Além da construção de estruturas significativas, além do estabelecimento desses dispositivos de inclinação, o que pode realmente preparar os performers para o choque da carnificina? Muito poucas coisas. O ato de massacre implica um duplo treinamento psicológico e técnico: os homens devem "se acostumar" com sua profissão de assassinos em massa. E para melhor se apoiarem no
exercício dessa atividade macabra, tendem a adquirir cada vez mais reflexos profissionais, a "rotinizar" seu comportamento destrutivo. Do ponto de vista psíquico, participar de um massacre está longe de ser uma experiência trivial. A prática coletiva de matar dá aos executores acesso imediato ao universo da onipotência. De repente, eles entram em outro mundo, que só o terror de suas armas ajuda a criar, um mundo em que os seres humanos, inteiramente em suas próprias mãos.obrigado, já não são nada, a ponto de, no momento, virarem cadáveres. Sobre o universo dos campos de concentração nazistas, David Rousset falou desse mundo como o de “tudo é possível ”, frase que Hannah Arendt colocou em primeiro plano no primeiro capítulo de seu grande livro Le Systèmetotalitaire . Em sua assustadora brevidade, essa fórmula também caracteriza, no mínimo , a própria dinâmica do massacre. Assim que um massacre começa, tudo é possível, tudo se torna possível. Quais serão as reações psicológicas e as modalidades de adaptação dos executores a este universo de impunidade? Alguns deles parecem se adaptar imediatamente com prazer. Eles experimentam uma forma de prazer indisfarçável. Eles atacam suas presas como feras. Parece que eles estão esperando por este momento há muito tempo. Eles literalmente afundam na violência, tornando-se um com o que fazem. O sociólogo alemão Wolfgang Sofsky descreveu com complacência esse tipo de artista: o assassino "quer vadear no sangue, escreve ele, sentir com a mão, na ponta dos dedos, o que está fazendo". A faca dá uma sensação direta e tátil. A violência que comete reage sobre ele, seus músculos, seu braço, sua mão. Ao esmagar, cortar, massacrar, ele atinge sua própria violência. É seu corpo que concebe o mal que está praticando, é sua mão que sente a força da destruição. Quanto mais o assassino entra na carne do outro e o tamanho em pedaços, mais seu triunfo toma uma consistência corporal, uma evidência física ”. Mas o que Sofsky considera ser THE psicologia do assassino é na verdade apenas um dos lados. Sua abordagem é, em minha opinião, muito sistemática. Outros performers, ao contrário, podem sentir uma profunda inquietação ao mergulhar na matança. Eles vivem issoexperiência como particularmente perturbadora, senão traumática. Browning também nos dá alguns depoimentos oficiais de 101 batalhão que indicam que eles dificilmente apoiar o que eles são forçados a. Não se engane sobre o significado de tal observação. Seria impróprio "ter pena" do carrasco, embora ele esteja matando indivíduos indefesos. É exatamente porque tal ato é moralmente escandaloso e psicologicamente difícil que é muito provável que tenha um efeito traumático sobre quem o comete. Na verdade, o performer se depara com este problema: como fazer o seu “trabalho”, e até mesmo fazê-lo bem, protegendo-se psiquicamente do universo da morte que ele mesmo contribui para criar? Para fazer isso, ele deve recorrer a meios ou procedimentos que lhe permitam sair desta situação ... enquanto permanece ativo nela. 44
45
46
º
O "eu assassino" Duas “soluções” estão disponíveis para os performers, uma e a outra podendo complementarse. A primeira é “artificial”: consiste no consumo de drogas ou álcool, frequentemente autorizados pela gestão, antes de entrar nas operações e mesmo durante as mesmas. Aqueles que comandam esses homens estão realmente cientes de que precisam ser encorajados a serem diligentes na tarefa. Muitos relatos de massacres atestam que os assassinos operam sob o efeito
desses estimulantes. E com razão: têm a vantagem de suspender as inibições do indivíduo e de o mergulhar num estado artificial de bem-estar, até euforia, que o ajuda a operar na paisagem de sangue e morte. dentro do qual ele evolui. Como o que, no momento decisivo, para facilitar a passagem ao ato, ainda é necessário um fator adicional para "empurrar" os indivíduos a cometerem o irreparável. O consumo desses adjuvantes e de outras drogas psicotrópicas, que agem quimicamente no cérebro, permite que eles acessem esse segundo estado a partir do qual podem fazer o que lhes é pedido. No entanto, nem todos os performers fazem uso dele, e não necessariamente de forma sistemática. A segunda rota de fuga disponível para eles é puramente psíquica. Este não é o resultado de uma decisão voluntária, mas sim depende de uma reação muitas vezes observada em humanos porsituação estressante intensa. Para se proteger de um universo de morte, o indivíduo se fabrica como uma espécie de entorpecimento psíquico em relação a esse mundo externo: está aí, mas não está mais. Ele está realmente agindo, mas é apenas seu corpo, ele está em outro lugar. Soldados no campo de batalha ou prisioneiros de um campo de concentração podem, portanto, “se separar” para escapar do ambiente de destruição que os assalta, a visão de cadáveres, seu cheiro pestilento, etc. ; em suma, para sobreviver. Essa capacidade humana de "separar-se de si mesmo" pode ser igualmente útil para se sustentar no processo de massacre. Assim, provavelmente seria impossível matar outro ser humano, estima o psicólogo americano Robert Lifton, sem "entorpecer" em relação a sua vítima. Quanto mais o indivíduo se afunda no assassinato, mais ele cria um outro eu, que se desprende do primeiro eu e que até assume o controle dele. O governo desse “eu assassino” sobre todo o indivíduo permite-lhe cada vez mais “desrealizar” seu comportamento assassino, libertando-o, em princípio, de qualquer sentimento de culpa . Haveria então uma espécie de dissociação da personalidade, única forma de se aceitar no processo de matar. Robert Lifton acredita que esse processo de duplicação, a serviço de uma obra de destruição, repousa na assinatura de um “contrato faustiano” entre esses dois eus, referindo-se assim à obra de Goethe: “Duas almas, ai de mim, resida em meu peito, diz Fausto, e cada uma se afasta de sua irmã e a empurra. E o diabo responde: "Não estou trazendo nada de novo, mas simplesmente fortalecendo e exagerando o que já está em você." " O artista então atingiu um ponto sem volta? Mergulhando na prática da mais abjeta violência, não terá mais saída? Seria esquecer que alguns ainda nessa fase, coibindo a dinâmica coletiva, conseguem se desvencilhar do processo. Essas atitudes de recusa, mesmo quando o indivíduo já começou a matar, se forem raras, também fazem parte das possíveis reações dos assassinos in situ . Embora sua margem de iniciativa seja muito pequena, os indivíduos conseguem dizer não. Um policial de101 Batalhão, Georg Kageler, decidiu tomar a mergulhar se encontra eles estão matando judeus alemães. Este alfaiate de 37 anos, depois de ter participado de um primeiro massacre, disse: “Notei, no ponto de desembarque, entre as vítimas do lote seguinte, uma mãe e sua filha. Comecei a conversar com eles e descobri que eram alemães de Kassel. Decidi não participar mais das execuções. Essa coisa toda agora me enojou tanto que voltei ao chefe da seção e disse a ele que estava doente e pedi isenção . " Na Bósnia, no primeiro dia do massacre de Srebrenica, Drazen Erdemovic, um croata casado com um sérvio, decide fugir. “Disseram-nos que os ônibus vinham com civis de Srebrenica”, disse ele durante seu julgamento em Haia. Eu disse imediatamente que não queria fazer parte disso e disse: “Você é normal? Você sabe o que está fazendo? ” Mas ninguém me ouviu. Disseram-me: “Se você não quiser, pode simplesmente ir e alinhar com eles. Você pode nos dar sua arma. ” Durante aquele dia, ele estima que participou sob coação da execução de cem prisioneiros. Mas 47
º
48
chamado a outro local para matar outras quinhentas pessoas, ele se recusa a continuar, obtendo o apoio de parte de sua unidade . Para aqueles que permanecem, existem mil e uma maneiras de suportar o outro no processo de matança. E depois desse momento do primeiro choque, os performers conseguem se acostumar com a matança. Eles adquirem reflexos e técnica. Resumindo, eles aprendem sozinhos sobre assassinatos coletivos, tornando-se profissionais da violência contra civis. A historiadora Natalija Basic identifica várias fases desse desenvolvimento a partir de suas entrevistas com veteranos na Bósnia: “Primeiro, uma fase de radicalização cumulativa em que o artista aprende a matar. Numa segunda fase, a violência cometida é reinterpretada como sendo ações “morais” [Umdeutung der Gewalt in moralisch richtiges Handeln] . Em seguida, vem a fase de habituação ao homicídio. Finalmente, o ato de matar é definido como um “trabalho”, uma profissão como tal;uma profissão que tem rotinas próprias. Nesse ponto, o cometimento da violência torna-se "banal" e o ato de crueldade é desmistificado . " No caso do 101 Batalhão Browning aproximadamente enfatiza a mesma tendência. Ele observa a crescente brutalização dos homens e o estabelecimento de procedimentos de assassinato cada vez mais rotineiros. Não eram necessariamente brutos antes da ação, mas, à força de matar, tornam-se: “Como na guerra real, o horror do primeiro encontro acaba virando rotina e matança de gente. o ser humano ficou cada vez mais fácil [...]. A brutalização dos homens não foi a causa, mas o efeito de seu comportamento . Mas essa habituação dos performers ao massacre não significa que eles se adaptaram a ele. Se o processo de falta de empatia para com as vítimas estagnar ou parar sub-repticiamente, esses homens podem experimentar patologias traumáticas, cujos primeiros sintomas costumam ser a repetição de pesadelos e / ou insônia. Junto com esses esforços para se adaptar psicologicamente às práticas de massacre, eles podem experimentar simultaneamente evoluções técnicas em função do tempo e da experiência adquirida. Este know-how, que se desenvolve através de tentativa e erro, visa desenvolver métodos que atendem geralmente a três objetivos: facilitar a atuação dos performers, protegê-los da exposição traumática e permitir que sejam eficazes. . Assim, os performers sempre preferem atirar em uma pessoa por trás ou que esteja com os olhos vendados, para que não encontre seu olhar. “Por sorte, comecei matando várias pessoas sem olhar na cara [...]. Os olhos do morto, para o assassino, são sua calamidade se ele olhar para eles. A culpa é de quem mata ”, diz o agricultor Pancrace Hakizamungili a Jean Hatzfeld. E se for para cortar a garganta de sua vítima, os algozes sabem que é melhor fazer a pessoa se ajoelhar e cortar a garganta estando atrás dela, como se fosse um animal. 49
50
º
51
52
A jornada de Poniatowa “Himmler não tinha esperança de exterminar os campos de trabalho de Lublin gradualmente, um por um, sem provocar novos movimentos de resistência nascidos do desespero. Os prisioneiros nesses campos deveriam, portanto, ser mortos em uma única operação em grande escala, que os pegaria de surpresa. Esta foi a gênese do Erntefest . "[...] a noite de 2 de Novembro, Sporrenberg traz, além de seu próprio pessoal, comandantes das várias forças - Waffen SS distrito de Cracóvia e Varsóvia, 22 Polícia Regimento de Cracóvia, 25 Regiment polícia Lublin (cujo 101 batalhão de reserva) e da polícia de segurança Lublin - bem como os comandantes do campo de Majdanek, Trawniki e Poniatowa. A sala de reuniões estava th
th
º
cheia de pessoas. Sporrenberg comunicou aos oficiais presentes as ordens contidas no arquivo especial que trouxera da Cracóvia. “A operação de extermínio foi iniciada na manhã seguinte. "Os homens do 101 batalhão de reserva policiais estavam envolvidos em praticamente todas as fases de Erntefest na região de Lublin. Chegando à capital do distrito em 2 de novembro [Trapp teve que comparecer à reunião em Sporrenberg], eles passaram a noite lá e assumiram seus cargos na madrugada de 3 de novembro. Um grupo do batalhão dá uma mão à unidade encarregada de levar os judeus de vários pequenos campos de trabalho ao redor de Lublin para o campo de concentração de Majdanek, localizado na estrada principal que leva ao sudeste, a poucos quilômetros do centro da cidade. O corpo principal do batalhão se posiciona dois metros de cada lado da esquina que parte da estrada principal e passa em frente à casa do comandante, terminando na entrada do acampamento interior. Uma coluna interminável de judeus de vários locais de trabalho em Lublin passa por eles. “Guardas femininas em bicicletas escoltam de 5.000 a 6.000 mulheres do 'antigo acampamento do aeroporto', onde eram empregadas na separação de roupas coletadas nos campos de extermínio. Outro lote de 8.000 homens judeus chega durante o dia. Como 3.500 a 4.000 judeus já estão no campo, o número de vítimas aumentará para cerca de 16.500 a 18.000. À medida que os judeus marcham em direção ao campo entre duas linhas de polícia, alto-falantes montados em dois caminhões música ensurdecedora. Em vão ; a música não consegue abafar o som dos tiros. “Os judeus são levados para a última fila do quartel, onde se despem. Braços levantados, mãos cruzadas na nuca, completamente nus, eles são conduzidos em grupos através de um buraco na cerca até as trincheiras recém-cavadas atrás do acampamento. Este caminho é guardado por homens do 101 batalhão de reserva polícia. "Enviada a metros dez das sepulturas, Heinrich Bocholt, o 1 empresa, testemunhando o massacre: “'Da minha posição pude ver como os judeus foram trazidos, nus, dos quartéis, por membros do nosso batalhão [...]. Os atiradores do pelotão de fuzilamento, que estavam sentados na beira dos boxes bem na minha frente, faziam parte do SD [...]. Atrás de cada atirador havia vários outros homens da SD, que constantemente enchiam os carregadores com as submetralhadoras e as entregavam ao atirador. Vários atiradores foram designados para cada poço. Hoje não posso mais fornecer detalhes sobre o número de fossas. É possível que houvesse muitos, onde estávamos atirando simultaneamente. Lembro-me muito bem que os judeus nus foram levados diretamente para os fossos e forçados a deitar-se bem em cima da pilha daqueles que haviam sido baleados antes deles. O atirador então pulverizou as vítimas mentirosas com balas [...]. “'Quanto tempo durou essa ação, eu não poderia dizer com certeza. Provavelmente o dia todo, porque me lembro de ter sido dispensado do cargo uma vez. Não posso dar detalhes sobre o número de vítimas, mas foram muitas. ” "[...] Na memória de muitos polícia 101 batalhão, os dois massacres Majdanek e Poniatowa irão se fundir em um - uma única operação de dois ou três dias, realizado em um campo ou outro. No entanto, algumas testemunhas - pelo menos uma de cada empresa - se lembrarão dos dois assassinatos como operações separadas conduzidas nos dois campos. Parece óbvio que os homens do 101 Batalhão da Polícia reserva fez bem no início de 4 de novembro, o curso Poniatowa. “Desta vez o batalhão não se dispersa. Os homens são postados entre os barracões de striptease e os poços em zigue-zague do local da execução, ou no próprio local. São eles que formam a sebe dupla através da qual os 14.000 “judeus trabalhadores” de Poniatowa, completamente nus e com º
º
st
º
º
as mãos atrás do pescoço, marcham para a morte enquanto os alto-falantes rugem sua música em uma vã tentativa de encobrir o barulho Tiros. A testemunha mais próxima é Martin Detmold: “'Eu e meu grupo estávamos de serviço bem em frente à vala comum. Era uma série de grandes trincheiras dispostas em zigue-zague, com cerca de três metros de largura e três a quatro metros de profundidade. Da minha postagem pude ver como os judeus [...] foram forçados a se despir no último quartel e colocar tudo o que tinham sobre eles, depois foram conduzidos através de nossa cerca em direção às trincheiras. Os homens do SD estavam empurrando os judeus em direção ao local da execução, onde outros policiais do SD, armados com metralhadoras, atiraram contra eles da borda da trincheira. Como era o líder de um esquadrão, conseguia me mover com mais liberdade do que os outros. Uma vez fui ao local da execução e vi como os judeus recém-chegados deviam colocar sobre os corpos dos que já haviam sido baleados. Eles foram então crivados por balas de metralhadoras. Os homens do SD tiveram o cuidado de atirar nos judeus de tal forma que as pilhas de cadáveres se conformassem ao formato das trincheiras, permitindo assim que os novos se deitassem em pilhas de corpos de três metros de altura [...]. Foi o espetáculo mais horrível que já vi em minha vida; só os judeus feridos foram mais ou menos enterrados vivos sob o peso dos cadáveres do último tiro, sem que esses feridos tivessem recebido o que se chama de golpe de misericórdia. Lembro-me que da pilha de cadáveres ergueram-se as vozes dos feridos que amaldiçoaram as SS. ” "
De Christopher R. Browning, Ordinary Men. A 101 reserva batalhão da polícia alemã e a Solução Final na Polônia , traduzido do Inglês por Elias Barnavi. © Les Belles Lettres, 1994, p. 184-188. Em Ruanda ou na Bósnia, esses métodos de matar são emprestados do comércio da fazenda ou dos campos. Na Europa nazista, eles vieram mais claramente da experiência da guerra, seja através da "aglomeração" de indivíduos ou do uso da construção de fossos antitanque, à beira dos quais as vítimas eram enfileiradas antes de morrer. 'ser morto. O simples fato de reunir futuras vítimas para formar "massas" permite sua desindividualização. A quantidade despersonaliza e, por consequência, nos entorpece. Assim, a maneira de reagrupar e deportar os judeus prepara para sua destruição. E matar duas pessoas é mais difícil do que matar duas mil. Durante a entrevista notável que o jornalista húngaro Gitta Sereny conduziu com Franz Stangl, o ex-comandante dos campos de extermínio de Sobibor e Treblinka, ele reconheceuque viu os judeus chegando como “carga”. E para acrescentar: “Raramente os via como indivíduos. Ainda era uma massa enorme [...]. Eles estavam nus, uma enorme inundação que correu levou a chicotadas ... ” A experiência acumulada pelos Einsatzgruppen levou ao que Christian Ingrao chamou de “invariantes” das práticas de extermínio por tiro, observadas em todos os comandos das unidades móveis SS. Essas invariantes são a “dissociação entre os assassinos e os guardas responsáveis pelo transporte, o fuzilamento coletivo, as valas previamente cavadas, as vítimas executadas por trás para cair na cova sob o impacto do projétil ou mortas deitadas e alinhadas em fileiras sobreposto na cova. Eles aparecem como [...] um know-how empírico de matar desenvolvido pelos próprios assassinos ”. Nestes procedimentos de assassinato em massa, é importante que todo o grupo esteja envolvido. Assim, “quase todos os comandantes das unidades obrigavam todos os seus homens, qualquer que fosse a sua função, a participar pelo menos uma vez numa execução e disparar, obviamente com o objetivo de distribuir a carga psíquica por toda a tropa. Certos quadros militarizaram o procedimento formando pelotões disparando por ordem; outros tinham dois ª
53
54
atiradores designados por vítima, regulavam a distância de tiro, automatizavam as ações de recarregar as armas para evitar que os algozes se confrontassem com a vista da fossa; outros, por fim, usaram milícias indígenas para realizar execuções de mulheres e crianças ”. 55
Especialização de tarefas e profissionalização de homicídios Assim que as práticas de massacre se prolongam no tempo e no espaço, tendem a uma certa especialização das tarefas, como acontece com qualquer outra atividade humana. Browning observada na evolução do 101 Batalhão, durante esses dezesseis meses de operaçõesPolônia. Depois de terem assumido diretamente a execução dos judeus, seus líderes apelam aos grupos ucranianos, letões e lituanos reunidos em campos de prisioneiros de guerra (escolhidos por seus sentimentos anticomunistas e anti-semitas), que são obrigados a cumprir as tarefas mais nojento. Portanto, oficiais do 101 deixa de ser responsável são apenas para a prisão dos judeus e seu transporte aos seus locais de execução, que é muito menos doloroso para eles. O mesmo é verdade quando eles têm de levá-los à estação ferroviária local (de onde os judeus partem para um centro de extermínio). Na Bósnia, o massacre é muitas vezes o resultado da coordenação entre vários tipos de atores: o exército que realiza um bombardeio preliminar da cidade ou da aldeia, depois a entrada em ação de unidades policiais ou grupos de paramilitares. , que prendem, matam, queimam, violam, expulsam, etc. Essas operações podem ser acompanhadas por civis locais, que vêm dar uma mão. Em Ruanda, os papéis distintos dos militares, gendarmes e milícias devem ser estudados região por região, mesmo que seja apenas para avaliar o envolvimento preciso da população local nos massacres. Mas, na mente dos organizadores dessas mortes, a divisão do trabalho não parece muito procurada. Nesse sentido, o extermínio de tutsis ruandeses e judeus europeus é baseado em duas dinâmicas completamente diferentes. Em Ruanda, os tomadores de decisão dos massacres encorajaram a população Hutu a se envolver massivamente. Muitas vezes, essa tendência pode ser observada em muitos assassinatos em massa: quanto mais se baseiam na participação coletiva, mais a responsabilidade é compartilhada. Em Ruanda, esse desenvolvimento é particularmente acentuado. A participação de todos os hutus nas matanças é totalmente dramatizada, apresentada como uma questão de sobrevivência do grupo diante da progressão dos Inyenzi ("baratas"). Conseqüentemente, cada hutu é chamado para matar os tutsis em uma emergência. Em suma, em vez de caminhar para a divisão do trabalho, esse “modelo” de assassinato em massa é baseado no envolvimento “espontâneo” de todos na matança, onde vivemos, já que os Inyenzi estão por toda parte. E, nessa mudança coletiva, a população assassina mantém totalmente sua identidade. É mesmo apoiando-se em suas práticas e valores que seu compromisso coletivo com o assassinato em massa é necessário. Esta é a razão pela qual os assassinos hutus sobem às colinas para matar como se fossem fazer seu trabalho comunitário. No entanto, eles vão cantando canções tradicionais para animar o ânimo. No final do dia, os homens podem retomar a tradição Ibyivugo nos cabarés (equivalentes aos nossos cafés) . Isso permite a cada homem declinar e proclamar seus grandes feitos: "Eu sou aquele que ... eu fiz ... eu realizei ..." Durante o período dos massacres, durante essas reuniões, os camponeses falam assim. por sua vez, ritual das cerimônias festivas. A sequência de Ibyivugo leva a uma escalada na denúncia da violência cometida: "Eu sou fulano e matei fulano com este clube ...", "Eu, matei dez ...", "Eu, eu tenho matou vinte ... ”. “Mais do que orgulho em participar de um genocídio, comenta º
e
Pierre-Antoine Braud, essas declamações fazem parte do contexto local de redefinir a influência de cada um, reativando os registros do ataque e de uma sociedade. monarquia fortemente militarizada . " Por outro lado, os nazistas raramente convocavam as populações locais para massacrar “seus” judeus. Sob a influência de Himmler e Heydrich, uma visão mais “fria” e “racional” do massacre é implementada, baseada no sigilo e em uma divisão de trabalho cada vez mais sofisticada. Sabemos que, depois de ter testado a eficácia de outras técnicas de homicídio, eles adotaram o método de gaseamento com Zyklon B, sendo o procedimento particularmente adequado para um desempoderamento generalizado dos executores (cf. capítulo IV ). O que atua, na verdade, é o gás, e não o homem que puxa o gatilho de sua metralhadora. Além disso, a câmara de gás permite não ver as vítimas moribundas, o que é impossível para o atirador que deve necessariamente olhar para o seu alvo para o matar e, portanto, testemunhar o momento da sua morte. Esta é uma das razões pelas quais este método de gaseamento se estende ao extermínio de judeus, além ou ao invés do bombardeio, este último afetando os executantes muito mais no nível psicológico. De certa forma, o processo de gaseamento permite "desaparecer" o carrasco, sendo este reduzido ao ato de um técnico introduzindo Zyklon B no sistema sem ter que se preocupar com mais nada. Assim, a técnica de gaseamento parece ser um meio “limpo”, higienizado, não produzindo atrocidades, mais “humano” para a vítima ... mas também para seu algoz. É o próprio processo de civilização, ao atribuir a este termo um sentido oposto ao que lhe foi conferido por Norbert Elias, que então se dedica a um empreendimento de destruição. Para o italiano Enzo Traverso, esta concepção do massacre se situa no longo tempo da história europeia, através da invenção da guilhotina e da prisão: “O paradigma da guilhotina - execução mecânica, morte serializada, matança indireta, a ética disempowerment do carrasco, o processo matando como "não assunto" comemorou seus triunfos em massacres de tecnologia do XX século ", escreveu ele. A isso se soma o “paradigma da prisão - princípio do fechamento, desumanização dos presos, estigma e disciplina dos corpos, submissão às hierarquias, racionalidade administrativa - [que] encontrou seu apogeu no sistema de campos de concentração dos regimes totalitários". E o autor conclui: “Os campos de extermínio nazistas provocam a fusão desses dois paradigmas, dando origem a algo assustadoramente novo e historicamente sem precedentes [...]. Eles criaram um sistema de matança industrial no qual a tecnologia moderna, a divisão do trabalho e a racionalidade administrativa foram mutuamente integradas como em um negócio. Suas vítimas não eram mais “detidos” propriamente ditos, mas uma “matéria-prima” composta por seres vivos da humanidade desativados, necessária para a produção em massa de cadáveres . " Outra característica do sistema de extermínio estabelecido pelos nazistas demonstra ainda mais sua engenhosidade perversa. Isso não apenas visa fazer o algoz "desaparecer", mas se resume a despertar a participação da vítima em sua própria destruição, e isso em ambas as extremidades da cadeia: de colocar os judeus sob controle (dentro dos países que caiu sob o domínio nazista) até que eles entraram na câmara de gás. Na verdade, desde o início, essa cooperação foi forçada através do estabelecimento de conselhos judaicos, seja na Europa oriental ou ocidental. A criação de tais órgãos era de interesse prático imediato para os nazistas, uma vez que eles não tinham recursos de pessoal administrativo suficientes para "administrar" as comunidades judaicas. O papel desses conselhos judaicos gerou polêmica acalorada,principalmente do livro Eichmann de Hannah Arendt em Jerusalém , no qual se argumenta que os judeus cooperaram com os nazistas e que essa cooperação, muitas vezes voluntária, ao invés de suavizar o destino dos judeus piorou . Ressalte56
°
57
58
se, entretanto, que essas organizações têm conseguido servir de estrutura para assistir e organizar a vida das comunidades, em condições cada vez mais desastrosas. Mas é claro que, em muitos casos, os Juden räte foram forçados a fazer o jogo das autoridades nazistas, por exemplo, garantindo a própria polícia nos guetos e, mais ainda, recebendo ordens de entregar os judeus. quem iria morrer. Essa posição insustentável levou alguns de seus líderes ao desespero, senão ao suicídio, como Adam Czerniakov em Varsóvia em 23 de julho de 1942, quando percebeu que esse corpo havia se tornado um instrumento da política nazista de extermínio. E o pior ainda está por vir: no final do processo de deportação, mesmo dentro dos centros de extermínio. Lá, os nazistas criaram os Sonderkommandos , esses grupos de prisioneiros responsáveis por manter a ordem antes que os recém-chegados entrassem na câmara de gás, extraindo os cadáveres, arrancando os dentes de ouro, corte de cabelo feminino, etc. O destino desses prisioneiros-guardas também está selado: eles servem no trabalho sujo da câmara de gás por algumas semanas, alguns meses, depois são executados e substituídos por recém-chegados que, um pouco depois, sofrem o mesmo destino. Ninguém deve ser capaz de testemunhar sobre o que viu ou fez. Dentro desses Sonderkommandos são "passados" alguns prisioneiros alemães, russos ou poloneses. Mas a maior parte de sua força de trabalho é composta de judeus. Em outras palavras, os executores do massacre são as mesmas que serão as vítimas! Tal situação é verdadeiramente assustadora: a criação desses Sonderkommandos parece ser a evolução mais monstruosa do assassinato em massa: aquela em que a vítima, pela dinâmica do sistema, é forçada a participar de sua própria destruição. Não apenas o carrasco parece ter desaparecido, mas a vítima o substituiu. "Continuamos atordoados por este paroxismo de perfídia ede ódio, escreve Primo Levi. Cabia aos judeus colocá-los nos fornos. Era preciso demonstrar que os judeus, uma sub-raça, sub-homens, se submetiam a todas as humilhações: chegar a ponto de se destruir . " 59
Os perfis dos assassinos: revisitando a noção de "banalidade do mal" Muitas vezes nos perguntamos se aqueles que se tornam assassinos em massa têm um perfil psicológico particular que explicaria seu ato de violência. Alguns autores exploraram essa via, como o psiquiatra inglês Henry Dicks, cujo livro agora esquecido explorou as histórias pessoais de vários nazistas, incluindo Rudolf Hess, ex-comandante de Auschwitz, para interpretar seu comportamento fanático e violento. Dicks, portanto, acredita ter identificado na infância dos criminosos nazistas as tendências comuns que o regime de Hitler teria permitido que eles desenvolvessem e satisfizessem . Conhecemos melhor a pesquisa do filósofo Theodor Adorno sobre a personalidade autoritária, que estaria na base de todo o poder fascista e totalitário . Mas esses estudos mostraram seus limites. É difícil identificar na primeira infância e na educação dos indivíduos, e mesmo nos traços de suas personalidades, predisposições suficientemente convincentes para explicar sua subsequente mudança para a violência em massa. A principal razão para tal fracasso é simples: uma vez que o assassinato em massa é acima de tudo o produto de um processo sociopolítico, qualquer tipo de indivíduo, qualquer que seja sua personalidade ou status social, pode envolva-se nisso. Certamente, personalidades particularmente perturbadas e perversas podem estar muito mais à frente do palco, com a cumplicidade dos poderes que as instrumentalizam. 60
61
Na Bósnia, Goran Jelisic, um guarda sérvio do campo de Luka, é provavelmente um desses casos patológicos. Durante sua primeira apresentação no Tribunal Criminal Internacional em Haia em 26 de janeiro de 1998,ele se apresenta a seus juízes como "o Adolf sérvio"; o que ele já estava dizendo aos seus prisioneiros muçulmanos para dizer-lhes que logo os mataria. De acordo com uma testemunha, Goran Jelisic teria dito que antes de seu café todas as manhãs ele tinha que executar de vinte a trinta pessoas . As condições de impunidade em que tais indivíduos são colocados permitem-lhes dar rédea solta às suas fantasias assassinas. No entanto, como Bruno Bettelheim já observou há mais de sessenta anos em suas observações sobre a conduta dos guardas SS, quando, como um jovem psiquiatra, foi internado nos campos de Dachau e Buchenwald, “essas personalidades sádicas ou perversas são um Uma pequena minoria em comparação com o polivalente dos executantes, sejam eles guardas ou assassinos ”. 62
63
Artistas comuns Quem são eles? O estereótipo do "bom pai carrasco", herdado do período nazista, não corresponde bem ao que conhecemos. Além da diversidade de perfis, a maioria dos assassinos tem alguns traços em comum: eles são jovens, se não adolescentes, solteiros e homens. É na faixa etária de 13 a 25 anos que o recrutamento de torturadores em potencial é mais problemático. Nesta fase da vida, os humanos são psicologicamente maleáveis e fisicamente fortes. Ele é prontamente idealista, procurando pontos de referência que uma autoridade que sabe como controlá-lo possa fornecer. Ele também pretende se integrar à sua faixa etária para ser como os outros. Em suma, as principais características que acabam de ser expostas dão conta da passagem para o ato no ato de matar, seja do ponto de vista das estruturas de sentido (bom / mau) ou dos dispositivos de inclinação (obediência / conformidade), são ideais durante este período da vida humana. Portanto, não é surpreendente que todos os poderes do planeta recrutem seus executivos lá. As organizações juvenis constituem o principal viveiro de onde as autoridades retiram aqueles que se tornarão seus servidores dedicados. Não há necessidade de insistir aqui no papel das organizações juvenis de Hitler, nem mesmo no desviocriação de associações esportivas do regime nazista. Na exIugoslávia, o antropólogo Ivan Colovic mostrou como ocorreu o recrutamento de jovens lutadores paramilitares entre os grupos de torcedores dos times de futebol da Sérvia e da Croácia . Em Ruanda, as milícias Interahamwe também encontraram voluntários entre torcedores do time de futebol de Kigali. Um ex-assassino, de 17 anos em 1994, disse: “Por muito tempo, apreciamos os comentários das partidas de futebol de Ferdinand Nahimana no rádio. Quando vimos que ele queria salvar o país apoiando o presidente Habyarimana, todos nos juntamos à Interahamwe. Divertia-os muito e ao mesmo tempo protegia a República contra o Inyenzi . A milícia Interahamwe recrutou primeiro entre os "muitos jovens que perambulavam pelas ruas de Kigali, ou em pequenos centros comerciais, e que não tinham esperança de adquirir a terra ou o trabalho que lhes permitiria ganhar a vida. casar e criar filhos ”. Devemos concluir que os assassinos são todos jovens marginalizados e pobres, pertencentes a uma espécie de Lumpenproletariado ? Isso reforçaria então outro clichê nessa área, na medida em que outros estudos mostram que eles também podem ter um bom nível de escolaridade. Eles são graduados, mas sem trabalho. Em outras circunstâncias econômicas e sociais, eles teriam feito outra coisa se tivessem perspectivas de emprego. Com a guerra que eclodiu em seu país, eles se viram recrutados como milicianos, policiais ou soldados; e é assim que eles se tornarão assassinos. 64
65
66
Mas não acredite que quem tem diploma e emprego está, portanto, fora dos caminhos sociais e políticos quelevar indivíduos ao massacre. Professores, advogados, médicos podem participar, supervisionar esses jovens desempregados, oferecer-lhes um futuro empolgante ... Em Ruanda, um professor tutsi sobrevivente, Jean-Baptiste Munyankore, fala de alguns de seus colegas nos seguintes termos: “Essas pessoas pessoas bem educadas eram calmas e arregaçavam as mangas para segurar um facão com firmeza. Então, para aqueles que, como eu, ensinou humanidades para a vida, esses criminosos são um mistério terrível . Mais uma vez, devemos admitir que a educação não é em si mesma um freio ao massacre, assim como a cultura não é um fator diferenciador para a ação. Esteja você na Europa, África ou Ásia, poderá encontrar o perfil desses jovens que se tornam assassinos. Por convicção, por oportunismo, por acaso, eles se vêem envolvidos, em pequena ou grande escala, na execução do massacre. 67
O envolvimento de mulheres e crianças No entanto, a gama de artistas às vezes tende a se ampliar. Este é especialmente o caso em Ruanda, onde toda a população hutu é obrigada a participar das matanças. Acontece também que as mulheres estão envolvidas nos massacres. Seu envolvimento nas matanças, ainda pouco estudado, não deve ser exagerado. Isso provavelmente varia de apoio indireto massivo a um ato assassino excepcional . Apoio indireto quando as mulheres hutus, em solidariedade com os homens, os encorajam a ir “trabalhar” na serra. E uma vez que esse "trabalho" é feito, eles se erguem em colunas para saquear as propriedades das vítimas. As mulheres também podem se juntar ao grupo de assassinos, seja para testemunhar passivamente o massacre ou para incitá-lo. Em outros casos, eles desempenham o papel de "supervisores" de jovens milicianos, chegando até a incentivá-los a estuprar meninas tutsis. Este incitamento por parte das mulheres para cometer violência sexual contra outras mulheres parece incompreensível. Aqueles que participaram ativamente das mortes são geralmente administrativos, comerciais,professores. Outros fatos são igualmente impressionantes: as mulheres são acusadas de terem matado seus maridos ou filhos porque nasceram de um pai tutsi. O mesmo acontece quando freiras prestam assistência ao massacre, como a superiora do convento de Sovu (Butare), Gertrude Mukangango, julgada na Bélgica por ter ajudado milicianos de Interahamwe a queimar os tutsis que se refugiaram em um edifício no convento. Tais exemplos, mesmo que raros, atestam que a violência em massa em Ruanda atinge um nível de radicalidade raro na história, praticamente desconhecido, inclusive dentro dos chamados regimes “totalitários”. Esta violência assenta numa dupla transgressão: a da proibição do homicídio no seio da família, que consegue explodir literalmente o núcleo familiar; e a da lei fundamental do “Não matarás”, que leva os religiosos a não mais serem defensores da vida do próximo, mas sim arquitetos de sua morte. A participação de jovens adolescentes nas mortes também é um indicador dessa destrutividade social total. Na Alemanha nazista, às vezes as crianças eram levadas a denunciar um membro de sua família. Em Ruanda, as crianças também são usadas para denunciar “inimigos”. “É comum neste país mandar seu filho aos vizinhos para pedir sal, água ou fogo”, diz Annick Kayitesi. Durante o genocídio, os adultos usaram essa forma de solidariedade para permitir a expulsão dos tutsis escondidos por membros de suas famílias ou por vizinhos hutus que vieram em seu auxílio . As crianças parecem ter muito raramente participado ativamente nos assassinatos. 68
69
Mas como as escolas estavam fechadas de maneira incomum, eles passavam a maior parte do tempo seguindo os assassinos. As fileiras de cadáveres ao lado das estradas eram tantos playgrounds que essas crianças estavam ansiosas para conquistar. Sem força física para matar adultos, eles deram principalmente facões à direita e à esquerda. “AB me disse: 'Nos divertimos melhor do que em casa ou nas colinas desertas. Aqui tínhamos inimigos para lutar. Todos os dias diferentes inimigos. Eles eram maiores e mais fortes do que nós, estávamos muito orgulhosos ” . »Em Ruanda, é por volta de 14-15 anos que se deixa a tradiçãoescola para trabalhar no campo; podemos, portanto, supor que esse ingresso na vida agrícola ativa também corresponde à idade em que essas crianças-adolescentes foram autorizadas a juntar-se a adultos na matança. No entanto, suas práticas assassinas provavelmente diferem de acordo com sua classe social. Assim, os jovens de origens abastadas ocultaram seus atos dos olhos da maioria, enquanto poucos nas áreas rurais conseguiram fazê-lo. Para esses jovens muito pobres, assassinato muitas vezes significava uma pequena recompensa em espécie. Uma camisa, um par de sapatos e até mesmo um relógio representavam um butim de escolha. A esperança de ganho material alimentou seu zelo pela tarefa. Essa implicação das mulheres, mesmo das crianças, nos massacres é sem dúvida o indicador social mais significativo, e o mais surpreendente, da profundidade da inclinação de uma população no assassinato em massa. Isso não significa, porém, que cada um de seus membros se transforme em um assassino. Como em qualquer comunidade, alguns são mais motivados pela tarefa, veem mais benefícios do que outros, não necessariamente têm escolha, etc. Por outro lado, isso significa que a norma social fundamental dessa população não é mais a proibição do homicídio, mas a autorização do homicídio. E neste momento tão especial de impunidade para matar, todos podem entrar nessa dança macabra buscando encontrar seus próprios interesses. 70
Da ambigüidade do mal Nesse sentido, para compreender os motivos da passagem ao ato individual no massacre, supõe-se levar sempre em conta pelo menos dois registros, distintos mas cruzados. O primeiro diz respeito à cena oficial e pública: a da ideologia, da segurança e da imaginação. Não há porque duvidar que alguns executantes "acreditam" nisso: que estão convencidos de cumprir uma missão civilizadora, de defender o seu país num momento crítico em que o "inimigo" está por toda a parte, de participar na um trabalho coletivo estimulante, etc. Portanto, se matam em massa, é porque julgam necessário. Essas razões coletivas para o massacre são o produto de paixões (instrumentalizadas pelas autoridades) e de um contexto favorável (ajudando a dar-lhes mais ressonância histórica). O segundo registro ocorre em uma etapa mais oficiosa, uma etapa privada, composta pelas mil e uma razões pelas quais e pelas quais os indivíduos agirão. Também aqui paixão e interesse podem estar juntos. Primeiro no sentido de inveja e lucro, como já vimos. Em outros casos, a isca do assassinato é puramente financeira: o indivíduo simplesmente se torna um mercenário, concordando em ser pago para matar, sem que motivos ideológicos desempenhem qualquer papel em seu comportamento destrutivo. Da mesma forma, as motivações de carreira e ascensão social devem ser levadas em conta, especialmente nos órgãos constituídos, com vistas à ascensão na polícia ou no exército. Ser intratável na execução de ordens é atrair a consideração de seus líderes. Mas esse carreirismo, que desempenha um papel, por exemplo, na promoção de oficiais durante a guerra na Bósnia, é apenas um fator entre outros. Em outras circunstâncias, o que prevalecerá será
uma lógica de urgência ditada pelo dilema da segurança: matar ou morrer. No caso de massacres de vizinhança, antigos ressentimentos também podem explicar em parte uma mudança local na violência. Quer estejam ligadas aqui ou ali ao sucesso material disso ou daquilo, a conflitos de propriedade ou mesmo a disputas românticas, essas brigas não resolvidas do passado podem levar os vizinhos a participar da matança por ciúme ou vingança. . Essas múltiplas intrusões de microguerras privadas, mesmo dentro da macro-guerra pública, são frequentes e muitas vezes perceptíveis nas chamadas “guerras civis” . Portanto, se os indivíduos, sem dúvida, são levados pela dinâmica do assassinato em massa, eles sabem muito bem como lucrar com isso. Não faltam oportunismo e cálculo para instrumentalizar os efeitos por conta própria. É por isso que, no nível individual, as razões para agir são múltiplas. O que é verdade para um indivíduo em um momento não será verdade para outro. Mas é precisamente essa variabilidade de motivos privados que contribui para dar ao assassinato sua dimensão maciça. Os indivíduos entram na dinâmica assassina não como autômatos entoando o mesmo discurso ideológico estereotipado, mas com histórias diferentes e, portanto, com expectativas e motivações pessoais. Seu envolvimento comum em causar a morte resulta de comportamentos plurais e ambíguos. Nesse mosaico de comportamentos, há ainda espaço para certos procedimentos de resgate. Às vezes é difícil entender que certos assassinos podem salvar vidas ao mesmo tempo em que matam. Mas não podemos imaginar que eles precisam justamente se dar, secretamente, essa imagem positiva de salvadores? Além disso, essa dupla face é perfeitamente compatível com o fenômeno da duplicação da personalidade, descrito por Robert Lifton. Enquanto o “eu assassino” opera em plena luz do dia, um “eu clandestino”, salvando este, age sem o conhecimento de todos. Porque um executor pode muito bem continuar a participar das mortes enquanto corre riscos para salvar uma vida. A ação de destruir se desenvolve contra um Outro total e desumanizado, enquanto a ação de proteger se concentra em uma pessoa específica, muito humana e respeitável. Os motivos desses conduítes de proteção também são muito variados. Em Ruanda, Jean Hatzfeld relata, por exemplo, a história dessa mulher tutsi, Marie-Louise, uma comerciante em Nyamata, cujo marido e toda a família foram massacrados pela Interahamwe. Tendo escapado por pouco, ela se refugiou com seu vizinho, Florian, um hutu que é o chefe da inteligência militar na região. Antes da guerra, as duas famílias mantinham boas relações. Florian, que no entanto participa dos massacres na cidade, não quer matar a esposa de seu ex-amigo. Ele fará de tudo para salvá-la, fazendo-a escapar para o Burundi. Em outro lugar, um jovem miliciano hutu mostra grande zelo em matar o Inyenzi ... para que sua mãe tutsi seja poupada. E, novamente, um soldado hutu esconde uma jovem tutsi em sua casa, desde que ela aceite fazer sexo com ele, etc. Note que neste caso a noção de “resgate” é muito relativa, pois se baseia em uma relação de chantagem: “Sua vida contra o seu sexo. Em Ruanda, existem centenas dessas histórias nas quais violência, amor e interesse se misturam. Na Bósnia, também acontece que os combatentes sérvios vêm em auxílio de membros da outra comunidade, croata ou muçulmana. Da mesma forma, Christopher Browning acredita que entre a polícia alemã de 101 batalhão, "piedade e brutalidade podem coexistir no mesmo indivíduo e, ao mesmo tempo ". Esse entrelaçamento, observa ele, é muito difícil de aceitar. Na verdade, temos muita dificuldade em não ver o carrasco como composto de um único blocomonstruoso, a personificação do mal. Mas estamos errados: é aqui que reside nossa maior resistência para compreender o mal. Para nos tranquilizar, gostaríamos que as coisas fossem organizadas, bem definidas. Essa convicção é tanto mais forte quanto vem direto da infância, onde reinavam então - acreditávamos duro como ferro 71
º
72
o bom e o mau. Mas não, não é bem assim que os seres humanos se comportam. Até os algozes podem se comportar de maneira inesperada, comportamentos duplos nos quais, por um instante, uma centelha de humanidade surgirá. Por outro lado, mesmo aqueles que parecem estar do lado do bem, que salvaram vidas, podem - em outro momento de suas vidas - ter tido atitudes condenáveis. A natureza moral de um ato nunca define totalmente a identidade moral do autor desse ato. Foi sobre Kurt Gerstein, o engenheiro de minas alemão que testemunhou o gaseamento dos judeus e transmitiu a notícia aos Aliados, que Saul Friedlander falou da "ambigüidade do bem". Em certas circunstâncias, escreve ele, "o resistente pode aparecer perto do carrasco" . Pode-se inverter a fórmula e também argumentar que, em certas circunstâncias, o carrasco pode ter limitado a prática de resgate. Nesse caso, convém falar da "ambigüidade do mal", tendo em vista esse resíduo de humanidade que permanece na psicologia do carrasco quando o assassino passa a ser protetor, ainda que de um vida. 73
Retorna sobre a "banalidade do mal" Nesse sentido, a noção de "banalidade do mal" proposta por Hannah Arendt, a partir de seu estudo de Adolf Eichmann, não parece suficientemente relevante para apreender todas essas diferentes figuras. aqueles que realizaram o massacre. Examinando a conduta dos Einsatzgruppen na Polônia, da milícia Interahamwe em Ruanda ou dos grupos paramilitares que operam na Bósnia, estamos longe desse modelo de "crime de escritório" pelo qual funcionários zelosos e obedientes são responsáveis, operando longe do teatro. operações. Uma dessas deficiências se deve aos limites de sua abordagem: Hannah Arendt não aborda a questão dos “assassinos diretos” do massacre; o que, para dizer a verdade, não se pode censurá-la na medida em que se limita ao estudo de um homem na situação de seu julgamento, um homem que, no seio da administração nazista, esteve a cargo de "Transporte" de judeus para centros de extermínio. Além disso, Hannah Arendt nunca negou que possa haver outras figuras dos performers. Por outro lado, é possível criticá-lo assim que generalizar - a partir do caso único de Eichmann - comentários sobre o mal. Tendo adoptado um ângulo de observação mais amplo e sobretudo comparativo, fui levado a “revisitar” esta expressão da “banalidade do mal”. Antes de escrever estas páginas, portanto, tive o cuidado de reler as passagens de seu livro onde ela oferece uma definição do conceito ... para perceber que quase não havia nenhum ! A expressão é certamente destacada, pois nada mais é do que o subtítulo do livro; o que certamente contribuiu para o seu sucesso. Mas seria difícil encontrar uma definição bem definida. As poucas linhas em que se refere a ele, localizadas no pós-escrito, são aquelas em que considera que Eichmann não é um "monstro louco", mas um indivíduo que se caracteriza sobretudo por uma "ausência de pensamento". “Ele não era estúpido”, escreveu ela. Foi a pura falta de pensamento o que não é nada igual a estupidez - que permitiu que ele se tornasse um dos maiores criminosos de seu tempo. E se isso é “banal” e até cômico, se, com omelhor vontade do mundo, não conseguimos descobrir em Eichmann a menor profundidade diabólica ou demoníaca, não dizemos, longe disso, que isso é comum . " Mas “os crimes de Eichmann”, acrescenta ela, “não eram crimes comuns”, e ele próprio “não era um criminoso comum”. Nesse sentido, o que impressiona muito Arendt durante o julgamento de Eichmann é o senso de dever excepcional deste, sem nenhuma reflexão real sobre o sentido desse dever. Eichmann “afirmou com orgulho que sempre 'cumpriu o seu dever', obedeceu a todas 74
75
as ordens exigidas pelo seu juramento ”. Tal comportamento está além do problema da existência ou não de ordens: havendo ou não ordens, nota Arendt, Eichmann sentiu a necessidade de remeter cada um de seus atos a uma lei superior: aquela expressa por O próprio Hitler. Observe que não se trata mais de um caso "simples" de submissão à autoridade, no sentido de Milgram: obedecer ou não a ordens e instruções externas a si mesmo. Adolf Eichmann preferia ser o exemplo de um servidor que internalizou a "lei de um sistema", uma lei não escrita que equivale a identificar-se com a vontade daquele que é a sua encarnação: o Führer. Foi apenas vários anos após a publicação de seu ensaio que Hannah Arendt apresentou uma definição de sua noção de “banalidade do mal” na revista Social Research : “Por“ banalidade do mal ”, ela especifica, j 'não significam uma teoria ou uma doutrina, mas algo completamente factual, um fenômeno de crimes cometidos em escala gigantesca e impossível de relacionar a alguma maldade particular, a alguma patologia ou convicção ideológica do agente, que é distinguido talvez apenas por uma superficialidade extraordinária . Por mais monstruosos que fossem os fatos, o oficial não era monstruoso nem demoníaco, e a única característica detectável em seu passado, como em seu comportamento durante o julgamento e o interrogatório policial, era algo totalmente negativo: isso não era estupidez, mas uma curiosa e genuína incapacidade de pensar . »Estes váriosas citações mostram que o filósofo coloca sob a expressão "banalidade do mal" várias coisas. Por "banal", ela quer dizer um indivíduo "normal", nem uma figura de Satanás, nem um monstro psicopata. Consequência imediata: o carrasco pertence de fato à nossa humanidade comum, o que implica que ele pode ser responsabilizado criminalmente por seus atos. No entanto, Arendt destaca o abismo que existe entre esse artista comum e a natureza extraordinária de seu crime. Por isso, ela insiste em sua “falta de pensamento”, sendo este último traço realmente o centro de sua definição de banalidade. Para ela, de fato, Eichmann não pensa: ele se faz instrumento zeloso de uma ideologia, isto é, de uma "lógica da ideia", da qual Hitler é a própria expressão. Como ele mesmo disse em seu julgamento: “No III Reich, a palavra do Führer era a lei . Podemos sentir aqui a influência de seu trabalho sobre o totalitarismo e sobre o papel do "espírito" em subjugar todas as algemas totalitárias. Para ela, de fato, pensar serve para "desconstruir" qualquer ideologia, o que é, por definição, a marca de uma ausência de pensamento. Assim, um performer como Eichmann não faz perguntas: ele trabalha de maneira rotineira, não se questionando sobre as consequências de seus atos. Os efeitos deste “não pensamento” residem na relação cada vez mais “desrealizada” do intérprete com o mundo e na sua ausência de culpa pelos atos cometidos. Essas observações convergem aqui com o estudo de performers diretos. Na verdade, essa descrição corresponde em parte ao que Browning nos diz sobre esses "homens comuns" que também se afundam na rotinização de suas ações. Alguém ficaria tentado a dizer que existem milhares de pequenos executores eichmannianos, inclusive entre aqueles que executaram diretamente o massacre. Como também não aplicar essa noção de banalidade do mal ao caso de Ruanda? Em certo sentido, parece ainda mais relevante, porque, ao contrário dos assassinos da SS que operavam longe da normalidade social, os próprios assassinos Hutu "trabalhavam" em plena luz do dia, cercados pelos aldeões, eram encorajados e às vezes até celebrados. . O fenômeno de banalizar o extraordinário estava no auge. Mas as observações do filósofo americano são questionáveis em vários pontos importantes. Primeiro, no próprio terreno em que ela se encontra, a partir do qual estuda Eichmann: o do papel do funcionário público em uma sociedade de massa. Certamente, o protótipo desse agente do Estado que não pensa, aplicando-se a seguir a vontade de seus chefes, certamente parece existir. No entanto, há que ter presente que as administrações, nas quais trabalham agentes deste tipo, são 76
77
e
78
dirigidas por pessoas que, por sua vez, têm um projecto para a Alemanha e para a Europa. Colocados nessas posições-chave pelo poder nazista, não podemos afirmar que eles não pensam, mas sim que “pensam mal” ou que “pensam mal”. É por isso que historiadores alemães como Christian Gerlach ou Dieter Pohl, ao descrever esses guerreiros ideológicos, questionaram a interpretação de Hannah Arendt, no mínimo a consideraram muito insuficiente. Em segundo lugar, este corre o risco de generalizar suas afirmações sobre o mal, quando na realidade raciocina apenas sobre um único indivíduo. Como resultado, ela está presa em seu método de observação, que perde fatores importantes que nos permitem entender melhor por que um indivíduo "comum" pode se transformar em um assassino em massa, mesmo que apenas através o papel do grupo em tal metamorfose. Quanto ao cerne de sua tese, a saber, que a banalidade do mal é sinônimo de ausência de pensamento, ela só pode mergulhar em certa perplexidade aqueles que procuram seguir mais adiante nessa linha de pensamento. Na verdade, Hannah Arendt tem o cuidado de apontar que todos nós somos propensos a essa ausência de pensamento ", tão comum na vida cotidiana, onde mal temos tempo, e não mais o desejo, de s. 'pare para pensar' . Enraizar o comportamento rotineiro de Eichmann dessa forma em nosso próprio comportamento como "pessoas normais", realizando atividades mecânicas da vida cotidiana, é o resultado de uma conexão ousada e assustadora, sem dúvida em parte bem fundada. Mas, felizmente, nossa própria disposição para essa "falta de consideração" não nos leva necessariamente ao assassinato em massa de nossos semelhantes! O que falta então para Arendt, é principalmente uma reflexão sobre a questão da passagem ao próprio ato , ou seja, sobre como vai a banalidade, após um processo complexo, a serviço de uma monstruosidade coletiva. Finalmente, o reflexo de Hannah Arendt sur le mal não se concentra em sua dimensão mais enigmática e incômoda: a da crueldade, muitas vezes associada ao ato de massacre. 79
Violência sexual e outras atrocidades A análise dos fenômenos das atrocidades, muitas vezes associados à prática do massacre, constitui um dos desafios mais exigentes nas ciências sociais, a começar pelo próprio investigador. Na verdade, ele não é um ser desencarnado: como qualquer outro ser humano, ele sofre todo o impacto da história de atrocidades. Embora tenha recolhido várias histórias nesta área, cada uma mais horrível do que a outra, ainda me surpreendo ao ouvir certos testemunhos, como o de Révérien Rurangw, este jovem tutsi de 12 anos. anos em 1994, único sobrevivente de uma família de 42 pessoas . Nesse caso, o efeito de espanto e repulsa é total. No entanto, não há razão para ter medo: é "apenas" um testemunho. Mas você é dominado por uma sensação de pavor que causa, sim, como uma suspensão das faculdades intelectuais, mais, uma espécie de tetania psíquica; no entanto, o processo de compreensão da passagem para o ato não poderia ser considerado completo se se recusasse a "apreender" esses fenômenos de crueldade. Não estaria disposto a ir até o fim, quando os efeitos traumáticos de tais práticas são consideráveis. Não há masoquismo nem voyeurismo por parte do pesquisador, mas apenas a intuição de que no ato atroz está certamente uma das chaves, senão a chave, para o poder explosivo do massacre. É o horror do gesto cruel que muito provavelmente ficará para sempre na memória da vítima sobrevivente e que pode alimentar de forma sustentável um desejo vertiginoso de vingança. Notemos primeiro duas posturas muito diferentes, que chegam a iludir a análise nas ciências sociais. O primeiro é simplesmente esconder sua importância. Objeto de pesquisa muito “sujo”, agimos como se atrocidades não existissem ou devessem ser consideradas totalmente secundárias. Número de teóricosas relações internacionais, em suas análises da guerra, ignoram assim completamente esta questão, inclusive aquelas pertencentes às escolas ditas “realistas”. Essa tendência também existe na história: relatos de batalhas podem dar visões estratégicas, mesmo épicas, sem realmente restaurar o centro: a violência e suas atrocidades. Por outro lado, a outra postura consiste em deixar-se dominar pela força simbólica do ato cruel para colocá-lo no centro, senão na frente da história do massacre. O resultado é uma narração quase estetizante de atrocidades, alimentada pela atenção aos detalhes e encenação. O Tratado sobre a Violência , do sociólogo Wolfgang Sofsky, composto por pequenas ficções imaginárias, adota esse estilo quase literário, do qual emerge uma espécie de deleite muito ambíguo pela violência. Estas duas posturas, que se fundamentam uma na negação das atrocidades e a outra na sua exposição, não nos ajudam a analisá-las. Agir como se não existissem equivale a cometer o erro de não querer apreender o estudo de um fenômeno central em muitos conflitos contemporâneos. Por outro lado, olhando-os de perto, corre-se o risco de ficar paralisado por sua contemplação macabra. De minha parte, peço a busca de uma boa distância, absolutamente necessária para proceder à análise deste objeto hediondo. Isso supõe forjar estruturas intelectuais que possam nos levar, tanto quanto possível, à compreensão dessa monstruosidade. Nessa perspectiva, trabalhos recentes de historiadores da guerra como John Horne e Alan Kramer são de ajuda definitiva, justamente porque procuram encontrar atrocidades na guerra . E estes não são, é claro, o fato apenas de “hordas nazistas” ou “selvagens africanos”, mas também de representantes do Ocidente “civilizado”: como aqueles soldados americanos estudados por John Dower que, durante o Guerra do Pacífico, não hesite em tirar do corpo de seus inimigos japoneses uma orelha, um couro cabeludo, um pênis ... como troféu . No entanto, o estudo do massacre de populações não combatentes, se se pretende enraizar no trabalho da guerra, coloca também questões específicas 80
81
82
que vão para além deste "delírio do campo de batalha". A este respeito, estenão é apenas a disciplina histórica que deve ser evocada, mas todas as ciências sociais para buscar compreender esses fenômenos intrigantes. Interpretações plurais e incertas Em geral, dois tipos de questionamento permeiam o trabalho sobre atrocidades. O primeiro se resume a questionar seu significado . Primo Levi apresenta esse problema de maneira poderosa em um de seus mais belos textos. Se o objetivo é destruir em massa os civis, ele comenta, por que então, além de fazê-los sofrer, humilhá-los, mutilá-los antes de matá-los? Daí a pertinência de sua pergunta: "Por que essa violência inútil ?" Por que então o massacre produz crueldade antes, durante e mesmo depois? Isso levanta a distinção entre a violência instrumental destinada a atingir um objetivo específico e a violência aparentemente gratuita - sem objetivo específico -, freqüentemente chamada de "crueldade", na qual a antropóloga Véronique NahoumGrappe se baseou em seu trabalho. Bosnia . De maneira mais geral, é uma questão de saber se esses atos de crueldade fazem sentido ou não e, em caso afirmativo, qual. O segundo tipo de questionamento diz respeito à intencionalidade de tais práticas. Mesmo que estes não tenham um objetivo aparente, sempre tendemos a considerar que eles são desejados, ordenados, senão orquestrados. Por exemplo, a descoberta em 1992 dos centros de estupro durante a guerra da Bósnia imediatamente fez algumas pessoas dizerem que havia uma verdadeira política de crueldade, incorporada em medidas planejadas de estupro em massa. Em retrospectiva, entretanto, tal afirmação parece exagerada. Em vários lugares da Bósnia, é indiscutível que as práticas de estupro foram incentivadas, até mesmo organizadas, especialmente do lado sérvio e principalmente contra as mulheres muçulmanas . Este papel de supervisão também é sempre decisivo no campo, seja para encorajar o estupro ou para proibi-lo. Nesse sentido, o caso de Ruanda oferece múltiplos exemplos de incitação ao estupro, ou mesmo incentivado por mulheres hutu . Ao contrário , na Europa nazista, o estupro de mulheres judias pelos alemães é estritamente proibido por causa da proibição absoluta de todo contato entre os “arianos” e a “raça amaldiçoada” dos judeus. Mas é necessário para tudo isso, no caso da Bósnia, afirmar que os líderes sérvios implementaram uma política concertada de estupro sistemático, como vários textos militantes sustentaram durante a guerra? A sentença do Tribunal Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia, que, em 22 de fevereiro de 2001, qualificou pela primeira vez o estupro como um "crime contra a humanidade" no caso Kunarac (conhecido como "campos de estupro") , é muito cauteloso a esse respeito. Ao proferir a sentença, o juiz Mumba disse: “Dizer que o estupro sistemático foi usado como uma 'arma de guerra' pode ser um pouco confuso. Isso pode significar que houve algum tipo de abordagem combinada ou que as forças armadas sérvias da Bósnia receberam ordens de estuprar mulheres muçulmanas como parte de suas atividades de combate mais amplas. As provas não são suficientes para que o Tribunal de Primeira Instância chegue a tal conclusão […]. Mas foi estabelecido que membros das forças armadas sérvias da Bósnia usaram o estupro como instrumento de terror. Um instrumento que eles podiam usar livremente contra qualquer pessoa e quando quisessem . " Como então distinguir entre o que é claramente uma abordagem calculada e o que é uma iniciativa livre tomada no terreno, devido ao clima geral de impunidade? O cientista político 83
84
85
86
87
americanoTim Judah defende sua parte a favor de um desenvolvimento descontrolado de atrocidades. Ele cita, por exemplo, as palavras do Dr. Milan Kovacevic, um dos responsáveis por estabelecer o campo sérvio em Omarska, que ele disse ter sido originalmente projetado para servir como um centro de recepção para pessoas deslocadas. . Mas, com o rápido desenvolvimento da guerra, descobriu-se que sua função mudou e o campo tornou-se um campo de concentração. Sem dúvida, esta afirmação deve ser tomada com cautela, uma vez que seu autor procura se proteger de procedimentos legais. Mas talvez contenha um elemento de verdade quando Milan Kovacevic admite que não pode explicar totalmente esta perda de controle. Segundo ele, "mesmo os historiadores não conseguirão encontrar uma explicação para os próximos cinquenta anos ". Nessas escalas de significado e absurdo, intencional ou não intencional, as interpretações das atrocidades são plurais e hesitantes . No entanto, alguns autores são categóricos e muitas vezes propõem uma leitura unilateral. A monstruosidade do objeto estudado exige julgamentos sem nuances. Na minha opinião, isso é um erro. Porque mesmo no que diz respeito ao que parece impensável de compreender, é, pelo contrário, necessário variar os ângulos de análise, para multiplicar as abordagens analíticas. Esta é precisamente a contribuição possível e a riqueza das ciências sociais. Na verdade, é impossível decidir a favor de uma única posição intelectual, considerada a mais relevante. A única de nossas certezas é, portanto, querer recusar o confinamento em um modelo explicativo. Portanto, tentarei sintetizar várias estruturas interpretativas, especificando a cada vez que elas nunca podem ser exclusivas de outro tipo de abordagem. 88
89
Um cálculo racional O primeiro tipo de interpretação é, portanto, uma questão de cálculo racional entre os tomadores de decisão políticos e militares, que tomam medidas específicas destinadas a desenvolver a ferocidade dos homens que os servem no campo. Como resultado, esses performers são levados a adotarcomportamento cada vez mais brutal e cruel em ação. O mais importante entre essas disposições é, naturalmente, a garantia de não se preocupar com seus superiores caso cometam abusos. Garantir a impunidade é a condição prévia para as práticas de crueldade. Somase a isso o papel incisivo e incisivo da propaganda destilada a esses servidores do poder. Essa famosa propaganda! Já a vimos em ação logo no início do conflito, quando, com suas palavras simples e terríveis, ajudou a cristalizar representações odiosas do inimigo. Nós a encontramos, logicamente, no campo de batalha, no exato momento do ato, desta vez como uma operadora mental do ato cruel. O processo é sempre o mesmo, quer estejamos na África, na Europa ou em qualquer outro lugar - denunciamos o perigo do que estamos prestes a cometer: "Eles estripam nossas mulheres e matam nossos filhos?" Bem, sem piedade para esses valentões! Vamos fazer exatamente o mesmo com eles! Como já explicamos, essa instrumentalização de um imaginário de medos, alimentado por imagens emocionais poderosas, tanto chocantes quanto revoltantes, permite literalmente que os performers passem da fantasia à ação: do medo de para ser destruído dolorosamente com a ação concreta de destruir dolorosamente. Os soldados da Wehrmacht são inundados com esse discurso apocalíptico que descreve para eles o que as hordas judaico-bolcheviques asiáticas estão prestes a fazer, se algum dia forem pegos em suas garras. E Roy Gutman, que descobre no início da guerra da Bósnia um folheto que circula no exército de Milosevic, descrevendo todos os horrores pelos quais os sérvios supostamente estão
passando, compreende imediatamente que provavelmente estão fazendo o que 'eles denunciam. Essas acusações recíprocas, que funcionam como "espelhos de destruição", para usar a frase de Omer Bartov, sejam verdadeiras ou não, são certamente eficazes para alimentar a ferocidade dos assassinos. Já nas guerras dos Bálcãs anteriores, um oficial grego declarou com simplicidade brutal contra os turcos: "Quando você está lidando com bárbaros, a única linguagem que eles entendem é a barbárie . " O estudo específico da violência contra as vítimas ainda permite detectar a intenção estratégica contida nas práticas de crueldade. Análise das práticas de estupro durante a guerra Bosnega precisamente tal abordagem. O estupro não é visto então como uma consequência da guerra, mas como uma tática de guerra que, para além das mulheres, antes de tudo suas vítimas, visa o grupo a que pertencem. A socióloga croata Jadranka Cacic-Kumpes observou com frequência a extrema crueldade e perversidade dos estupradores, podendo o estupro chegar a ser cometido na presença dos pais ou filhos da vítima que é penetrada por vários agressores . Resta ver como decifrar o significado de tais atos. Alguns analisam os estupros na guerra da Bósnia como uma prática de demarcar o território e humilhar a comunidade contrária, a fim de fortalecer a separação e a territorialização das comunidades. Outros viram isso como um desejo de destruir a identidade e a sustentabilidade dessa comunidade e, portanto, descreveram os estupros como um ataque à filiação. Esta segunda posição é, entretanto, criticada por aqueles que apontam que na sociedade bósnia uma criança nascida de estupro não é considerada uma criança sérvia (como esta posição afirma), mas sim um bastardo . De qualquer forma, o cometimento intencional de atrocidades é uma maneira segura de causar traumas duradouros não apenas para as vítimas, mas também para as testemunhas e, além disso, para todos os membros de seu grupo comunitário. Nesse sentido, as atrocidades estão voltadas para o futuro, já que fazem parte desse projeto deliberado de separar para sempre os grupos em conflito. Ao tornar qualquer perspectiva de reconciliação impossível por pelo menos várias gerações, eles atendem perfeitamente ao projeto político de divisão e “limpeza étnica” . No entanto, essa abordagem instrumental das atrocidades está longe de capturar toda a sua complexidade. Devem ser estudados também "de baixo", nem que seja a partir da análise de boatos que circulam em uma região assolada pela violência. Na verdade, o que acaba de ser dito sobre o papel da propaganda poderia primeiro ter sido formulado sobre os rumores espalhados sobre o inimigo. Desse ponto de vista, o papel deles em tempos de guerra e / ou massacres de civis é realmente diferente? Um medo imaginário se espalha muito rapidamente e afeta tanto os exércitos no campo quanto as populações. Na época da invasão alemã de 1914 ao norte da França, rumores começaram a circular, como aquele que afirmava que "os boches cortaram as mãos das crianças". O historiador francês Marc Bloch se interessou depois da guerra pelo estudo desse tipo de boatos. Os soldados alemães cometeram atrocidades contra civis, mas não este. Foi um dos mais horríveis, senão o mais horrível, que foi realizado pela população. Agora estava errado. Como entender sua propagação e significado? Tudo se passa como se a população, em um contexto intenso de guerra e insegurança, "inventasse" quadros interpretativos, tão plausíveis quanto delirantes, do que está acontecendo com ela ou do que tem tanto medo. Os boatos fazem parte, em grande parte, desses modos de "explicar" a crise: eles dão uma leitura muitas vezes ultrajante, baseada na demonização do inimigo. E, ao mesmo tempo, eles podem ter uma substância de verdade. Mas como eles nascem? Quem os inventa? As origens de um boato são sempre difíceis de identificar. No entanto, é certo que este terreno fértil para rumores constitui um pano de fundo particularmente rico, do qual a 90
91
92
93
propaganda pode extrair "argumentos de choque" e parecer "crível" para uma população desorientada e traumatizada. O julgamento de Milosevic, por exemplo, permitiu identificar melhor a gênese de um boato que circulou em Kosovo após o massacre perpetrado pelos sérvios em Racak em fevereiro de 1998. Com base no depoimento de um sobrevivente desse massacre , foi alegado que os agressores arrancaram os olhos de uma de suas vítimas. Na verdade, essa interpretação estava errada. De facto, a investigação do Tribunal Internacional demonstrou que a dita vítima foi morta por uma bala na cabeça, que foi, portanto, o impacto do projéctil que provocou a "saída" dos globos oculares. Em outras palavras, de boa fé, a testemunha sobrevivente propagou uma falsa interpretação (a de umatroz mutilação cometida por sérvios em um albanês) com base em sua exata - mas muito traumática - percepção do cadáver . 94
Em direção à violência orgiástica Isso mostra que a abordagem inicial das atrocidades, por cálculo, não leva em conta os possíveis efeitos de outro fenômeno: o da própria dinâmica do conflito induzido pela perpetração dessas atrocidades. Muitas vezes, há uma escalada de represálias e contra-represálias que faz com que o conflito perca seu sentido. Em outras palavras, a racionalidade primária, detectada no ato do massacre, tende a "escorregar" e a criar o irracional. Para aterrorizar ainda mais o outro lado, será uma questão de fazer pior do que ele no registro da crueldade. Resta saber com qual grade de leitura decodificar o que é percebido como "irracional". Nós chegaremos lá. A essência do boato é que ele mistura inextricavelmente o que pode ser verdadeiro e o que é definitivamente falso. Como o clichê de “crianças com mãos decepadas”, o da “mulher grávida estripada” circula com demasiada frequência nos Balcãs para ser verdade. Mas isso não significa que os grupos em conflito não cometam abusos hediondos contra pessoas inocentes, incluindo mulheres grávidas. Da mesma forma, quando o RPF retomou as hostilidades em Ruanda, os rumores mais selvagens circularam sobre as atrocidades pelas quais os tutsis foram responsabilizados. Verdadeiro ou falso, eles se combinam para aterrorizar os hutus e, portanto, colocá-los em posição de agir imediatamente contra seus vizinhos tutsis, para fazê-los sofrer o que os hutus acreditam que eles querem fazer com eles. Mas as próprias condições do massacre local, que de facto implicam a reaproximação física entre os algozes e as suas vítimas, não conduzem necessariamente ao desenvolvimento de atrocidades? Matar ao encontrar o olhar do outro, ao contemplar o rosto do outro, parece quase impossível. A prática do massacre confirma a contrario uma das afirmações mais fortes do filósofo Emmanuel Levinas, a saber, que o reconhecimento da nossa humanidade comum passa necessariamente pelo encontro com o rosto dos outros. Embora o inimigo seja retratado na propaganda como hediondo e perigoso, ele mantém um rosto terrivelmente humano.Conseqüentemente, esta seria a razão pela qual o executor do massacre deve “desfigurar” o mais rápido possível este próximo para evitar qualquer risco de identificação. Poder matá-lo implica desumanizá-lo, não mais "apenas" com a imaginação da propaganda, mas agora, com atos: cortar-lhe o nariz ou as orelhas é certificar-se de que não o fez. rosto mais humano. A prática cruel é verdadeiramente uma operação mental no corpo do outro com o objetivo de destruir sua humanidade.
E por que parar no caminho? Por que não continuar a desmembrar esse corpo, a cortar os seios da mulher, o sexo do homem, a quebrar os membros? A vertigem da impunidade precipita o carrasco no poço sem fundo da crueldade. Essa espiral de destrutividade corporal pode continuar mesmo após a morte. Embora desprovidos de vida, os corpos ainda podem se parecer com os dos vivos. Portanto, ainda é uma questão de escalpelá-los, de encolhê-los, de amassá-los, para que não se pareçam mais com nada. A menos que sejam colocados em posições grotescas, cada um mais abjeto do que o outro, que os cadáveres sejam cortados em pedaços, para fazer lixo, se não lixo. Em tudo isso, é o carrasco quem se protege por meio dessas várias operações de corte ou dilaceração. Entendida desta forma, a perpetração de atrocidades seria, portanto, o meio para os executores criarem por si próprios uma distância psíquica radical com as vítimas, para se convencerem de que não o são, de que já não são seres humanos. Observe a esse respeito que os líderes nazistas desenvolveram uma metodologia mais sofisticada de desumanização, pode-se dizer. Nos casos anteriores, é o carrasco que é de fato o arquiteto direto dessa desfiguração do inimigo. O performer é de certa forma constrangido a produzir, por si mesmo, o ato atroz que o "separará" de sua vítima. No entanto, os nazistas foram capazes de passar da fase desse "método artesanal" para a criação de um sistema que produziu ela própria essa desumanização. Conhecemos bem os seus elementos constituintes: a viagem numa carroça de gado, a tatuagem, a ceifa, etc. Esse distanciamento psíquico é produzido por um dispositivo operando a montante do ato. É precisamente neste ponto que Primo Levi vê a única utilidade da violência inútil: fazer com que as vítimas sejam animais para facilitar o trabalho dos executores. É baseado nas palavras de Franz Stangl, o comandante daSobibor e Treblinka. À pergunta feita a ele: "Já que você teria matado todos eles, qual foi o significado dessas humilhações?" ", Franz Stangl responde:" Para condicionar aqueles que tinham que executar fisicamente as operações, para que eles pudessem fazer o que estavam fazendo . Em outras palavras, as atrocidades têm um uso claramente funcional aqui: colocar os futuros performers em condições de fazer o que é exigido deles. Mas querer buscar "racionalidade" no que parece ser o fundo do fundo do horror, não é errado? Ainda estamos nos esforçando para encontrar "significado" onde não existe, onde não existiria mais, onde somente existiria tolice. Afinal, o que acaba de ser chamado de "irracional" não é apenas loucura? Primo Levi, precisamente, não pode se desviar dessa trilha: "Não consigo me livrar da impressão de uma atmosfera geral de loucura descontrolada que me parece única na História ", escreve em Se for um homem . Em Ruanda, Jean Hatzfeld também usa por vezes a metáfora do "vento da loucura" que varreu o país, como se os seus habitantes tivessem sido apanhados numa "confusão", esta imagem do "vento" (Umuyaga) já aparecia durante os massacres. de 1959. “Era uma loucura que rolava sem ser mais dirigida”, disse Joseph-Désiré, aquele que jogou o facão em sua mão, ele não ouvia mais nada [...]. Nossos braços comandaram nossas cabeças de qualquer maneira nossas cabeças não lhes disseram a palavra . Tudo pode acontecer, incluindo atrocidades. Os indivíduos parecem ter entrado em estado de transe. Na psiquiatria, a expressão “puff delirante” é usada para designar um estado de loucura temporário que pode se apoderar de qualquer indivíduo normal em um determinado período de sua vida. Em geral, este último não se lembra mais do que aconteceu no momento em que ficou “louco”, quando recuperou o comportamento normal. Pode-se dizer que os perpetradores de atrocidades caem nesse estado de baforada delirante, e que essa metamorfose foi tanto mais possível do que a sociedade permite, na medida em que assassinatos e transgressões de todos os tipos são incentivados. A esse respeito, a abordagem do filósofo Eric Voegelin sobre o nazismo é 95
96
97
muito mais geral quando ele escreve que este "regime explora os instintos baixos dos seres humanos, nãosó porque elevam a escória a posições de poder, mas porque o homem simples, que é um homem honesto, enquanto a ordem reinar na sociedade como um todo, enlouquece sem saber o que está fazendo quando a desordem surge em algum lugar e a sociedade perde sua coesão ”. Nesse caso, a ruptura social é propícia ao desenvolvimento da violência orgíaca: o tempo da loucura é também o da celebração. Roger Caillois já havia explorado essas relações entre guerra e celebração, essa “convulsão paralela” da derrubada das normas: “Ambas aparecem como uma grande e longa devassidão”, escreve ele, o que naturalmente leva a um clima de mudança. 'ultrajante, superação, onde as regras da civilização são temporariamente abolidas: beber e festejar, estupros e orgias, vanglória, caretas, obscenidades e maldições, apostas, desafios, brigas e atrocidades estão na agenda . "Quanto ao historiador francês Alain Corbin, ele notavelmente descreve a história de um" pequeno massacre "cometido por agricultores, um parque de diversões dia, em uma vila em Perigord no XIX século . Encontramos vestígios dessa dimensão festiva da violência em Ruanda: “Massacre após massacre, os assassinos voltaram para suas casas à noite para festejar com as comidas e bebidas que saquearam ou que lhes foram dadas, prontas para retornar à noite. na manhã seguinte descansou e estava pronto para "trabalhar" . "Esta descrição irresistivelmente pensar bebedeira falado oficiais Browning de 101 Batalhão que se reúnem à noite para ficar bêbado, reuniram-se em uma espécie de fraternidade viril. É para elesuma forma de "esquecer" as cenas de terror da época e os abusos que elas infligiram pessoalmente? É também uma forma de se dar coragem para recomeçar no dia seguinte? Ainda assim, a perpetração de atrocidades também resulta desse desbridamento coletivo, sinônimo de embriaguez e desinibição. A noção de intoxicação contém aqui um significado muito mais amplo do que o simples abuso de álcool, ou mesmo drogas, que os assassinos podem consumir antes, durante e depois de terem agido. A embriaguez é também a própria violência, por meio da qual o intérprete experimenta uma sensação de onipotência por poder dar a morte sem restrições. A passagem ao ato, uma vez instalada, sempre recomeçada, parece induzir a formas de comportamento compulsivo, próximo à drogadição. Há uma verdadeira embriaguez aqui, ao mesmo tempo perversa e encantadora, em poder brincar com os corpos, com a vida e com a morte: fazer sofrer, humilhar, torturar, gozar, cortar, matar e matar, depois recomeçar. 98
99
th
100
101
th
Do gozo da crueldade No entanto, temos demasiada tendência de designar como "louco" o que nos parece estranho e incompreensível. A suposta loucura assassina pode não ser tão irracional. As atrocidades fariam sentido quando adotássemos outros ângulos de análise, em particular da obra de certos historiadores da Antiguidade ou antropólogos. Esquecemos, por exemplo, o horrível tratamento dado aos corpos, como nos foi dito na Ilíada ? Em seus comentários ao grande poema de Homero, o historiador helenista Jean-Pierre Vernant distingue, entre os gregos, as noções de "bela morte" e "cadáver indignado" . A "bela morte" recompensa o herói e, mais geralmente, o bravo guerreiro. Heitor sabe que vai morrer, mas não quer morrer sem luta e sem glória, sabendo que a memória do herói e suas façanhas serão cantadas depois de seu desaparecimento; que anda de mãos dadas com o ritual de embelezar o corpo, antes de queimá-lo, para salvar o que caracterizou o defunto: sua juventude, seu heroísmo e sua beleza. 102
Ora, é precisamente desta bela morte que o adversário vitorioso quer privá-lo. O primeiro tipo de abuso é sujar, poeirae a terra, o corpo ensanguentado, para rasgar sua pele para que perca sua figura singular, sua nitidez de feições, sua cor e seu esplendor. Quando o vitorioso Aquiles tenta insultar Heitor, ele o amarra em sua carruagem para arrancar toda a sua pele, deixando seu corpo, especialmente sua cabeça e cabelo, jogado na poeira. Ao reduzir o corpo a uma massa informe que não se distingue mais da terra sobre a qual permanece esticado, observa Jean-Pierre Vernant, não apenas apagamos a figura distinta do falecido, mas eliminamos a diferença que separa a matéria inanimada da a criatura viva. Um segundo tipo de abuso consiste em desmembrar o corpo, cortálo em pedaços. Tiramos a cabeça, braços e pernas e cortamos em pedaços. Ajax em fúria corta a cabeça de Inbrios e a manda rolar na poeira. Ao perder sua unidade formal, o corpo humano é reduzido ao estado de coisa ao mesmo tempo que se desfigura. A fragmentação do cadáver, cujos destroços se espalham, culmina na prática evocada nos primeiros versos da Ilíada e relembrada ao longo do poema: a de entregar o corpo como alimento a cães, pássaros e peixes. Em vez de queimar o corpo, para devolvê-lo à vida após a morte na integridade de sua forma, ele é devorado cru por feras. É assim dissolvido na confusão, enviado de volta ao caos, à desumanidade completa. O último modo de ultraje é deixar o cadáver privado de sepultamento para se decompor e apodrecer por conta própria, para ser destruído pelos vermes e moscas que entrarão por suas feridas abertas. O corpo abandonado à decomposição é a reversão completa da "bela morte", seu reverso. Como não pensar aqui em todos esses cadáveres que, em nossos massacres contemporâneos, estão privados de sepultamento, deixados à beira da estrada ou amontoados em valas comuns, como um monte de lixo, privados de qualquer rito fúnebre? Essas várias formas de ultrajar cadáveres, encontradas entre os gregos, parecem terrivelmente modernas. Nossas diferenças com eles seriam mais quantitativas do que qualitativas? O que os gregos fizeram em pequena escala há vinte e cinco séculos, conseguimos fazer de uma forma muito mais sistemática centenas de milhares de vezes, senão milhões. Outras perspectivas de análise são apresentadas por antropólogos. Na verdade, se as práticas de crueldade estão enraizadas na psique dos algozes (como foi dito acima), então elas são caracterizadas por traços culturais específicos. Jeitos deapreender corpos, torcê-los, cortá-los, constituem atos culturais próprios, por meio dos quais o performer expressa algo de sua própria identidade. Tal é, por exemplo, o ponto de vista do antropólogo indiano Arjun Appaduraï: “É claro que a violência infligida ao corpo humano em um contexto étnico nunca é totalmente perigosa, escreve ele, nem desprovida de forma cultural. [...], Que mesmo os piores atos de degradação - [...] decapitação, empalamento, evisceração, serrar, estuprar, queimar, enforcar, sufocar - têm formas macabras que não são alheias à cultura, e sua violência é previsível . Essa violência da crueldade, se surpreende a testemunha, não seria, portanto, aleatória. Em um momento de intensa crise e incerteza, esses atos de barbárie provocam, paradoxalmente, certezas, por meio de marcas culturais irreversíveis, que se inscrevem nos corpos das vítimas. No caso de Ruanda, o antropólogo americano Christopher Taylor propôs uma leitura antropológica dos massacres de 1994 (que ele testemunhou parcialmente) . Segundo ele, a anatomia do inimigo é equiparada à anatomia animal. Assim, uma prática muito comum é a secção do tendão de Aquiles, geralmente realizada em bois de um inimigo em retaliação. Além de animalizar o homem, esse processo se refere a um simbolismo ruandês do corpo. A cosmologia ruandesa do corpo reconhece neste último uma característica muito precisa: a circulação. Um corpo obstruído representa um perigo para si mesmo e para a sociedade. A seção do tendão de Aquiles, imobilizando o inimigo, refere-se à obstrução do caminho e reconhece a posteriori a 103
104
natureza obstrutiva do inimigo pronto para ser sacrificado. Da mesma forma, os hutus jogaram os cadáveres dos tutsis nos rios e, ao fazer isso, começaram a eliminar os elementos que obstruíam todo o corpo hutu. A ontologia ruandesa segundo a qual o corpo político está em relação com o corpo individual seria expressa aqui claramente. O corpo político é o país, tendo como órgão de evacuação o rio através do qual rejeita os elementos "indigestos". Assim, Taylor nota que, na perpetração dos massacres, muitos atos estão em conformidade coma um modelo cultural, a uma lógica estruturada e estruturante, a violência aparece culturalmente ou simbolicamente determinada: “Os torturadores não só mataram as suas vítimas, como transformaram os seus corpos em signos que faziam sentido no habitus ruandês, transformando um todo grupo como inimigo do estado . Essa leitura dos acontecimentos de 1994 em Ruanda, no entanto, desperta ceticismo entre outros autores mais acostumados a raciocinar com as categorias de análise da história ou da ciência política. O fato é que a abordagem antropológica dos massacres oferece novas perspectivas, como o americano Alexander Hinton defende em seu trabalho sobre o Camboja . Nosso questionamento das atrocidades não deveria levar-nos finalmente a considerar uma abordagem mais geral e um tanto perturbadora: a do prazer que a crueldade pode proporcionar ao algoz? Nós o sabemos, o admitimos: se as práticas de violência são tão difundidas que parecem inerentes à condição do homem, é também porque lhe dão prazer, mesmo que pareça insalubre e ambíguo. Humilhar o outro e ainda mais fazê-lo sofrer pode trazer uma forma de gozo: seja dispor sexualmente de seu corpo, seja martirizá-lo de várias maneiras antes de destruí-lo. Como já sublinhamos: a situação de impunidade cria as condições para uma possível intoxicação de violência. É aqui que o executor pode sentir prazer genuíno - não apenas em causar dor, mas em desfrutar de sua posição de onipotência sobre uma vítima completamente à sua mercê. Aqueles que sobreviveram a tais provações às vezes dão testemunho dessa transformação particular do carrasco. Em seu belo texto sobre a tortura, o ex-resistente e deportado Jean Améry não hesita em escrever no sentido de que a compreensão profunda do que ele mesmo viveu (tendo sido torturado pelos nazistas) não é dele não fornecido pela psicologia ", mas de acordo com as categorias ... bem, sim: da filosofia do Marquês de Sade ". Essa referência pode surpreender e chocar. Mas nossa pesquisa em história, sociologia ou ciência educadaSerá que eles não atingem por vezes trazendo a perguntas de luz que a literatura e mais geralmente a arte já exploraram ? Não seria este o caso aqui com a maldita obra de Sade? A observação de Jean Améry nos convida a explorar mais esta avenida. Por exemplo, em Justine ou os infortúnios da virtude , Sade descreve com eficácia essa embriaguez da violência que vem do prazer de sofrer infligido às vítimas: daí a necessidade de começar de novo a gozar de suas humilhações e de seus gritos antes mate. Em seguida, comece novamente em outros corpos, em outras presas. Considerar este livro como um tratado sobre erotismo ou pornografia seria lê-lo de forma muito restrita e, em última análise, errado. Certamente há em Sade uma grande complacência em contar cenas de sexo, nas quais ele de fato retrata a corrupção de certos círculos sociais. Este livro é, nesse sentido, um afresco particularmente ácido dos costumes a que, segundo ele, eminentes representantes das elites estão engajados, sejam eles dos círculos da justiça, da polícia ou da Igreja. Mas o que exatamente ele descreve? O comércio clandestino de meninas muito novas, vários casos de pedofilia ou incesto, práticas sexuais coletivas, homossexuais ou não, etc. De fato, Sade revela comportamentos mais ou menos marginais, mais conhecidos hoje, sobre os quais falamos abertamente em nossas próprias sociedades. 105
106
107
108
No entanto, além de seu prazer em recontar vícios e quebrar tabus, sua obra é, na verdade, um discurso muito bem argumentado sobre violência e morte. Na realidade, Justine certamente não é um romance que defende a liberdade da moral, mas que defende a destruição do Outro. É um livro sobre a violência na sua forma mais pura, dir-se-ia, uma violência total que desce sobre quem está do lado da virtude, encarnada na personagem de Justine, figura emblemática da vítima, ainda humilhada e perdida. Porque todos os carrascos de heróis de Sade dizem: devemos nos render ao crime, é a lei da natureza e não adianta nos opormos. E Sade para citar La Fontaine: "A razão do mais forte é sempre o melhor"! Agora, ao se deixar ser levado a esta ladeira natural de destruição,o homem vai ao encontro do prazer: um prazer muito intenso, pois o sublime do crime é gozar o sofrimento de sua vítima, do Outro humilhado. Temos que admitir: o poder da literatura sádica atinge o assunto deste livro. Ao longo destas páginas, e mais particularmente neste capítulo, tenho procurado saber o que sentem os algozes, o que pensam os algozes no momento de sua passagem para o ato. Bem, Sade gasta longas passagens, além de repetitivas, para expor seus argumentos, para descrever suas emoções no momento fatídico. À sua maneira, é claro: cada cena de tortura, estupro e assassinato é precedida ou acompanhada de longas explicações que o carrasco dá à vítima antes de infligir o abuso. O que ainda é notável nos retratos de seus personagens é que nenhum deles parece louco. Certamente, Sade às vezes nos diz que eles são monstros, mas nunca que são anormais. Eles são principalmente movidos pelo egoísmo e ganância. Assim, a maioria dos temas aqui explorados já está aí: o sentimento de impunidade, a embriaguez da violência, a marcação dos corpos, o desejo de quebrar todas as proibições, de quebrar todas as barreiras sexuais e geracionais. Nesse sentido, Sade surge como um explorador da transgressão total, de situações de extrema violência em que acampa seus personagens. Quando ele chega a descrever uma suposta experiência médica a ser realizada por um médico no corpo de sua própria filha de dezoito anos, essas linhas aparecem após o fato quase premonitório do que fará, quase dois séculos depois, Médicos nazistas como Josef Mengele em Auschwitz; e mesmo este último não se entregará a seus "experimentos" com seus próprios filhos, mas com os filhos de outros. Para além da descrição desta ou daquela situação, Sade diz-nos que o que conta antes de tudo é a fantasia do carrasco, a sua faculdade de imaginação, os seus caprichos para gozar plenamente da sua omnipotência sobre a sua vítima. Sade é baseado aqui na história de Gilles de Rais, Marechal da França e ex-companheiro de guerra de Joana D'Arc, que, após se retirar da corte, capturou mais de cem meninos em seu castelo. abusar sexualmente deles e depois matá-los. Aquele que hoje poderia ser descrito como pedófilo e serial killer também fascinou Georges Bataille , assim como WolfgangSofsky. Esses autores concordam em afirmar que o poder absoluto não tem outro objetivo senão ele mesmo, a não ser o gozo da violência pela violência. O poder absoluto tende à ação absoluta sobre suas vítimas. E para que esse prazer dure o máximo possível, é uma questão de conter a morte da vítima. Fazer durar os seus sofrimentos, vê-la sangrar aos poucos por todos os lados, ouvi-la gritar tanto quanto possível para implorar a graça do carrasco, é assegurarlhe um sentimento de gozo absoluto: o êxtase do seu todo. -poder. 109
O abismo da "zona cinzenta" Por mais impressionante que seja essa abordagem, ela não é simplesmente baseada na pura fantasia? As realidades da atuação são muito mais complexas do que o que esses autores nos dizem.
O que aprendemos com a psicologia dos performers não confirma a visão sádica e exclusiva do prazer de destruir o Outro. Sem dúvida, é uma das dimensões da passagem ao ato, que pode até ser predominante em alguns indivíduos. Mas em nenhum caso pode se impor como única grade de leitura. O que Sade absolutamente não fala, não mais do que Bataille ou Sofsky, é - ousamos dizer - o sofrimento do próprio carrasco. Obviamente, é de natureza muito diferente da vítima. E o executor não vai perder a vida. No entanto, é provável que a natureza transgressora dos atos perpetrados pelo carrasco induzam nele uma forma de trauma profundo e duradouro. Para aqueles que estupraram mulheres ou homens, estupraram barrigas ou crânios, cortaram cadáveres, nada mais será o mesmo. Tornar-se um assassino em massa, seja você um líder ou um executor, também é passar por um intenso processo de degradação psíquica, comparável a uma forma de desumanização. Os executores também são vítimas de um sistema de coerção que, no entanto, concordam em servir. Nesse sentido, a noção de “zona cinzenta”, proposta por Primo Levi em sua famosa análise das relações entre guardas e prisioneiros dentro de Auschwitz, é de alcance muito mais geral . Considerando que algozes e vítimas são esmagados pelo mesmo sistema que destrói sua humanidade comum, Primo Levi nos convida a quebraras representações congeladas e maniqueístas que podemos ter dele. Tal perspectiva desestabiliza profundamente todas as certezas que gostariam de congelar de uma vez por todas as posições da “boa” vítima e do “mau” carrasco. Mas não, as realidades dos relatos de violência são, mais uma vez, cada vez mais complicadas e flutuantes, e constantemente nos convidam a examinar essas duas questões muito preocupantes: como as vítimas às vezes podem se identificar com seus torturadores? E também: como os algozes podem se aproximar de suas vítimas? Por exemplo, alguns performers, no momento do ato ou depois, às vezes expressam sinais manifestos de intolerância ao massacre de indivíduos indefesos, como os membros do Einsatzgruppen acometidos de vômitos ou ataques de choro incontroláveis, vencidos por um estado depressivo tornando-se incompatível com o exercício de suas funções. Outros podem ter cometido suicídio ou enlouquecido, como este assassino hutu que enterrou seu colega tutsi vivo em um buraco atrás de sua casa: “Oito meses depois, ele se sentiu chamado pela vítima durante um sonho. Ele voltou para o jardim, ele ergueu a terra, ele soltou o corpo, ele foi preso. Desde então, na prisão, anda dia e noite com a caveira deste colega num saco plástico que tem nas mãos. Ele não consegue largar o saco nem para comer. Ele é assombrado ao extremo ." Muitos assassinos, entretanto, não reagem dessa forma e conseguem manter a razão após o fato. Ao fazer isso, na maioria das vezes eles permanecem em silêncio. Eles não querem falar sobre o que podem ter feito, procurando enterrar bem no fundo de si mesmos o que concordaram em fazer um dia, de boa vontade ou contra sua vontade. O seu silêncio vem acompanhado das mais diversas racionalizações, assim que se procura interrogá-los para saber mais sobre o seu passado: "Foi guerra", "Os nossos inimigos fizeram o mesmo connosco", "Não fizeram. tiveram o que mereciam ”, etc. Mas não espere que eles falem com você sobre eles, pessoalmente: será um silêncio absoluto. Muitas vezes esse silêncio é a marca de uma negação profunda, ou seja, de uma incapacidade total de assumir a posteriori as realidades de seu comportamento anterior, no momento do ato. Diante do excesso de seu crime, o perpetrador não o “vê” mais: é literalmente incapaz de reconhecê-lo. Se ele realmente pegarciente da extensão de sua transgressão, ele corre o risco de simplesmente entrar em colapso psíquico, sendo aniquilado. É por isso que o perpetrador se comporta como se seu crime não existisse, como se nunca tivesse existido. A imagem de honra 110
111
que pretende dar de si mesmo está em total contradição com seu passado sanguinário. É assim que as memórias antagônicas e paralelas nascem entre algozes e vítimas, o que torna sua reconciliação muito improvável. É também por meio disso que se constroem discursos negacionistas francos, por meio dos quais os massacres do passado são politicamente negados. Quer se perceba significado ou absurdo na perpetração de atrocidades, quer se considere que o carrasco sente prazer nelas ou é psiquicamente afetado por elas, em qualquer caso não pode haver uma leitura unívoca das atrocidades. manifestações de violência extrema. Sem dúvida, o leitor que esperava uma resposta definitiva e sistemática ao porquê de nossa barbárie ficará desapontado. No entanto, o pesquisador deve mostrar modéstia. As ciências sociais podem certamente ajudar a entender melhor o como agir. Eles também podem lançar luz sobre as razões por que . Mas sempre permanecerão importantes áreas cinzentas, resistentes a qualquer abordagem analítica. Esses limites de conhecimento são específicos para o estudo do massacre e suas atrocidades? Provavelmente não. Dediquei vários anos de pesquisa ao estudo da resistência, que, afinal, é outra forma de . Porém, ao estudar esse "tema resistente", ganha-se a mesma perplexidade. Por que tal e tal indivíduo, e não outro, sofrerá resistência em um determinado momento de sua vida? Muitas vezes, não sabemos como dizer com certeza. Da mesma forma, por que esse indivíduo, e não outro, se torna um carrasco? Também nos perdemos em hipóteses. Como disse Raymond Aron, "sempre permanecerá o mistério da decisão da pessoa ". Essas dúvidas, essas hesitações mostram claramente que o projeto de construção de um sistema explicativo da passagem para o ato repousa necessariamente em um questionamento aberto, sempre renovado. Certamente é melhor assim. Porque é a provaaquele homem, apesar das restrições que pesam sobre ele, retém uma margem de liberdade através da qual sua conduta permanece imprevisível. É toda a grandeza da sua condição, que lhe oferece a possibilidade, a qualquer momento, de mostrar coragem… ou de correr para o abismo. atuação
113
1. Pierre Legendre, The Factory of Western Man, seguido por L'Homme en meurtrier , Paris, Mille et Une Nuits, 1996, p. 22 2. Ibid. , p. 15 3. George Devereux, Ethnopsychoanalysis. Psychoanalysis and Anthropology as Complement Frames of Reference , Berkeley, University of California Press, 1978. 4. Como parte de seu doutorado em história, ela entrevistou vinte e cinco veteranos envolvidos nas guerras na Croácia e na Bósnia, em 1997 e 1998, em Belgrado, Banja Luka, Bratunac, Crikvenica, Sarajevo, Split, Sremska Mitrovica e Zagreb. A maioria dos entrevistados vem dessas cidades da Croácia, Bósnia e Sérvia. Note que Natalija Basic prefere o termo “combatentes” ao de “milicianos”, sendo o primeiro mais apropriado no âmbito da defesa do povo iugoslavo (cf. o que dissemos sobre isso no capítulo IV). 5. Chuck Sudetic pinta um retrato muito interessante de Milan Lukic em “O criminoso de guerra”, Postwar (s) , Autrement , n 199os
200, janeiro de 2001, p. 236-253. 6.
John Mueller, “The Banality of Ethnic War”, International Security , vol. 25, n ° 1, verão de 2000, p. 42-70. 7. Este papel do prefeito na organização do massacre deve ser comparado ao dos prefeitos em Ruanda (cf. capítulo IV). 8. Jan T. Gross, The Neighbours. 10 de julho de 1941, um massacre de judeus na Polônia , Paris, Fayard, 2002, p. 134 9. O autor especifica que outros pogroms ocorreram na região durante este mesmo período. Sobre a memória desses acontecimentos na Polônia, ver o artigo da antropóloga Joanna Tokarska-Bakir, precedido de uma apresentação de Jean-Charles Szurek, “Jedwabne et la Mémoire polonaise”, Plurielles , n ° 9, 2001, p. 72-73. 10 . Richard Rhodes, Extermination: The Nazi Machine. Einsatzgruppen in the East, 1941-1943 , Paris, Autrement, 2004. 11 . Entrevista com Christian Ingrao, 15 de março de 2004. 12 . Veja Michael Mann, “Os perpetradores do genocídio eram“ homens comuns ”ou“ nazistas reais ”? : Resultados de Quinze Cem Biografias ”, Holocaust and Genocide Studies , 14 (3), 2000, p. 331-366. Este artigo é o assunto do cap. VIII, "Quinze Cem Perpetradores", do último livro de Mann já citado. 13 . Citado por Christopher R. Browning, Ordinary Men , op. cit. , p. 102 14 . Contanto que você se certifique de que eles não procuraram deliberadamente encobrir certos fatos ou sentimentos devido a uma possível censura da correspondência - o que é outro problema. 15 . Felix Landau, "E também devo bancar o general dos judeus", trechos do diário de guerra de Felix Landau, cavaleiro da Blutorden (Grande Ordem Germânica), em Para eles, foi um bom momento . A vida comum dos algozes nazistas , testemunhos e documentos coletados e apresentados por Ernst Klee, Willy Dressen, Volker Riess, traduzidos do alemão por Catherine Métais-Bührendt, Paris, Plon, 1989, p. 83-104. 16 . Ex-carpinteiro austríaco que participou do golpe de estado de Viena em 25 de julho de 1934, contra o chanceler Dolfuss, ele posteriormente se candidatou à cidadania alemã. Ele então se juntou à SS. 17 . A tradução foi diluída: a expressão usada é knallen , que significa "explodir, explodir". 18 . Carta de Walter Mattner, de 5 de outubro de 1941, citada em Christian Ingrao, “Guerra violência, violência genocida ...”, art. cit., p. 231. 19 . Reconhecemos aqui o tema da propaganda nazista das "hordas asiáticas" que ameaçam varrer a Europa e destruir a civilização ocidental. 20 .
Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance , Stanford, Stanford University Press, 1957. Uma boa apresentação dessa teoria pode ser encontrada em francês em Gustave-Nicolas Fischer, La Psychologie sociale , Paris, Le Seuil, col. “Points Essais”, 1997, p. 160 sq . 21 . Charles Mironko, “ Igitero : Means and Motive in the Rwandan Genocide”, Journal of Genocide Research , vol. 6 (1), março de 2004, p. 47-60. 22 . Citado por Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie , op. cit. , p. 175 23 . Citado por Mirko Grmek (ed.), The Ethnic Cleanse , op. cit. , p. 320 24 . Citado por Jan T. Gross, Les Voisins , op. cit. , p. 200 25 . Christopher R. Browning, Ordinary Men , op. cit. , p. 165. 26 . Ver, por exemplo, Raul Hilberg, La Destruction des juifs d'Europe , op. cit. , t. II, p. 415-416. 27 . Conversa telefônica interceptada entre o coronel Ljubisa Beara (ex-chefe da segurança militar da Republika Srpska de 1992 a 1996) e o general Krstic. Essa conversa é um dos itens do arquivo de investigação de Milosevic no Tribunal Criminal Internacional de Haia. Ver “Srebrenica: quando os algozes falam”, Le Nouvel Observateur , 18-24 de março de 2004. 28 . Jean-Pierre Chrétien relata uma gravação feita pelo jornalista Dominique Makeli de um suposto "diálogo" com a Virgem da vidente Valentine Nyiramukiza. Ver Jean Pierre Chrétien, L'Afrique des Grands Lacs , op. cit. , p. 294. 29 . Élisabeth Claverie, As Guerras da Virgem , op. cit. 30 . Citado por Florence Hartmann, Milosevic , op. cit. , p. 208 31 . Omer Bartov, Exército de Hitler , op. cit. , p. 251. 32 . Citado por Dieter Pohl em Dominique Vidal (ed.), Os historiadores alemães releram o Shoah , op. cit. , p. 207. 33 . John Pomfret, "Serbs Drive Thousands from Zepa Enclave", The Washington Post , 27 de julho de 1995. 34 . Embora, em certos casos, uma disciplina de ferro pudesse caracterizar certos grupos de milicianos, como na Sérvia os Tigres de Arkan, que se gabavam de dar aos seus homens um nível de disciplina muito superior ao do exército iugoslavo. 35 . Christopher R. Browning, Ordinary Men , op. cit. , p. 223. 36 .
Ele escoltou com outros colegas da polícia, em 21 de agosto de 1992, um comboio de prisioneiros muçulmanos transportado em ônibus e caminhões. Mas, ao chegar ao rio Ilomska, eles receberam ordens de executá-los em uma ravina. Como guarda do comboio, ele foi forçado a se transformar repentinamente em um assassino. 37 . Stanley Milgram, Submission to Authority , Paris, Calmann-Lévy, 1979. Para uma discussão dessa teoria, consulte “Perspectives on Obedience to Authority: The Legacy of Milgram Experiments”, Journal of Social Issues , vol. 51, No. 3, 1995. 38 . Leonardo Ancoma e Rosetta Pareyson, “Contribuição para o estudo da agressão”, Boletim de psicologia , t. XXV, n ° 296, 1972, p. 5-7. 39 . Citado em Jean Hatzfeld, Une saison de machetes , op. cit. , p. 275. 40 . Ibid. , p. 271. 41 . Anthony Oberschall, "The Manipulation of Ethnicity ...", art. cit . , p. 997. 42 . Citado em Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 376. 43 . Christopher R. Browning, Ordinary Men , op. cit. , p. 99 44 . Na verdade, a citação completa é: “Os homens normais não sabem que tudo é possível. Mesmo que os depoimentos forcem sua inteligência a admitir, seus músculos não acreditam ”; David Rousset, The Concentration Universe , Paris, Éd. of Midnight, 1965; cana. Paris, Hachette, col. "Pluriel", 1998, p. 181. 45 . Hannah Arendt, The Totalitarian System , Paris, Le Seuil, col. “Points Essais”, 1972. 46 . Wolfgang Sofsky, Tratado de Violência , Paris, Gallimard, 1998, p. 163 47 . Robert Lifton desenvolveu suas análises a partir do estudo dos médicos nazistas. No entanto, parece-me que suas observações também são relevantes quando aplicadas a intérpretes em geral. Ver Robert J. Lifton, Les Médecins nazis. Assassinato médico e a psicologia do genocídio , Paris, Robert Laffont, 1989. 48 . Citado por Christopher R. Browning, Ordinary Men , op. cit. , p. 94 49 . Tendo se rendido voluntariamente ao Tribunal Penal Internacional de Haia, seu caso foi o primeiro a ser julgado por este. Veja o relatório de seu julgamento na Internet: http://www.un.org/icty. 50 . Veja a intervenção de Natalija Basic no CERI no grupo de pesquisa “Fazendo a paz. Do crime em massa à construção da paz ”, 15 de novembro de 2001: os relatórios do carrasco / vítima; disponível na Internet: www.ceri-sciences-po.org. 51 .
Christopher R. Browning, Ordinary Men , op. cit. , p. 212. 52 . Citado por Jean Hatzfeld, Une saison de machetes , op. cit. , p. 26 53 . Citado por Gitta Sereny, Au fond des ténèbres. Da eutanásia ao assassinato em massa: um exame de consciência , Paris, Denoël, 1974, p. 215 54 . Um saber que transmitem oralmente, às vezes no próprio momento das execuções. Para um exemplo de tais discussões sobre a melhor maneira de objetivar a morte instantânea, cf. Christian Ingrao, “Violência de guerra, violência genocida…”, art. cit., p. 237. 55 . Ibid. , p. 238. 56 . Veja a contribuição de Pierre-Antoine Braud, já citada, ao grupo de pesquisa do CERI na Internet: http://www.ceri-sciences-po.org. Os ataques contra uma região não pararam até a década de 1920, uma vez que toda a Ruanda atual foi submetida a poderes monárquicos e coloniais. 57 . Enzo Traverso, Nazi Violence. European Genealogy , Paris, La Fabrique, 2002, p. 54-55. 58 . Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Report on the banality of evil , Paris, Gallimard, 1966. A tradução deste ensaio foi revisada por Martine Leibovici em Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme , op. cit . 59 . Primo Levi, “A zona cinzenta”, em The Castaways and the Survivors. Quarenta anos depois de Auschwitz , Paris, Gallimard, 1989, p. 51 60 . Henry V. Dicks, Les Meurtres collectifs , Paris, Calmann-Lévy, 1973. 61 . Theodor Adorno, The Authoritarian Personality , Nova York, Norton, 1969. 62 . Veja a ata de sua sentença no site do Tribunal Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia: http://www.un.org/icty. 63 . Bruno Bettelheim, The Conscious Heart , Paris, Robert Laffont, 1972. 64 . Ivan Colovic, “Football, hooligans and war”, em Nebojsa Popov (ed.), Radiographie d'un nationalisme , op. cit. , p. 179-204. 65 . Citado por Annick Kayitesi, Children and the Rwandan Genocide. Implicações e problemas da reintegração , dissertação de mestrado sob orientação de Richard Banégas, Universidade Paris-I-Sorbonne, 2002-2003. Annick Kayitesi também é autora de We Still Exist , Paris, Michel Lafon, 2004, um livro comovente no qual ela relata sua luta como sobrevivente, quando era adolescente na época do genocídio e vários membros de sua família foram mortos, incluindo sua mãe. 66 . Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 306.
67 . Citado por Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie , op. cit. , p. 73 68 . Um dos primeiros relatórios sobre este assunto é o da associação de direitos africanos, Not so Innocent. Quando as mulheres se tornam assassinas , Londres, African Rights, agosto de 1995, das quais as linhas a seguir são apenas um breve resumo. 69 . Annick Kayitesi, Crianças e o Genocídio de Ruanda , op. cit. 70 . Ibid. 71 . Ver Jean-Clément Martin, La France et la Vendée , Paris, Le Seuil, 1987. 72 . Christopher R. Browning, Ordinary Men , op. cit. , p. 256. 73 . Saul Friedlander, Kurt Gerstein ou a ambigüidade do bem , Paris, Casterman, 1967, p. 191. Devido à sua formação técnica e médica, Kurt Gerstein trabalhou no Instituto de Higiene da Waffen-SS . Como parte de suas funções, ele viajou para a Polônia para avaliar a eficácia das operações de gaseamento de ações de Reinhardt. Ele subsequentemente procurou mitigar os efeitos irritantes associados ao uso de Zyklon B para tornar as mortes das vítimas mais "humanas". Sobre este ponto, ver o artigo de Florent Brayard, “Humanity versus Zyklon B. A ambigüidade da escolha de Kurt Gerstein”, Vingtième Siècle , n ° 73, janeiro-março de 2002, p. 1525. 74 . As seguintes falas devem muito à leitura muito esclarecedora de dois artigos de Geraldine Muhlman: “O comportamento dos agentes da“ Solução Final ”. Hannah Arendt diante de seus oponentes ”, Revue d'histoire de la Shoah , n ° 164, setembro de 1998, p. 25-52; e “Pensamento e não pensamento segundo H. Arendt e TW Adorno. Reflexões sobre a questão do mal, " Turmoil , n
os
17-18, 2002, p. 278-318. A leitura mais recente de uma nota sobre o significado da noção de "banalidade do mal", de Martine Leibovici (tradutora de Arendt para o francês), para as Encyclopédiedes massacres et génocides (em preparação), também foi muito útil para mim. rentável. 75 . Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém , em The Origins of Totalitarism , op. cit. , p. 1296. 76 . Ibid ., P. 156 77 . Id ., "Thinking and Moral Considerations: A Lecture", Social Research , No. 38, 1971; traduzido para o francês sob o título Considerations morales , Paris, Payot-Rivages, 1996 (extrato das págs. 25-26). 78 . Id. , Eichmann em Jerusalém , em The Origins of Totalitarism , op. cit. , p. 1160. 79 . Id ., A Vida do Espírito , t. I: La Pensée , Paris, PUF, 1981, p. 19 sq . 80 .
Veja o filme dirigido por Ibouka Belgium em 2002, do qual Joël Kotek disponibilizou um vídeo no Centre for Contemporary Jewish Documentation (Paris). 81 . John Horne e Alan Kramer, German Atrocities, 1914 , op. cit . 82 . John Dower, War Without Mercy. Race and Power in the Pacific War , Cambridge, Harvard University Press, 1988. 83 . Primo Levi, The Shipwrecked and the Survivors , op. cit. , p. 104-124. 84 . Véronique Nahoum-Grappe, “O uso político da crueldade: limpeza étnica (ex-Iugoslávia, 1991-1995)”, in Françoise Héritier (ed.), De la violência , op. cit. , p. 273-323. 85 . Ver, por exemplo, Alexandra Stiglmayer, Mass Rape. A Guerra contra as Mulheres na Bósnia-Herzegovina , Lincoln-Londres, University of Nebraska Press, 86 . Raphael Lemkin, Axe's Rule in Occupied Europe , Washington, Carnegie, 1944. 87 . Ted R. Gurr e Barbara Harff, "Rumo à Teoria Empírica de Genocídios e Politicídios: Identificação e Medição de Casos desde 1945", International Studies Quarterly , No. 32, 1988, p. 369-381. 88 . Eric J. Hobsbawm, The Age of Extremes. A History of the World (1914-1991) , Londres, Pelham Books, 1994. 89 . Ver Olivier Masseret, “O reconhecimento pelo Parlamento francês do genocídio armênio de 1915”, Vingtième Siècle , n ° 73, janeiro-março de 2002, p. 139-155; Vincent Duclert, “Historiadores e a destruição dos armênios”, ibid. , n ° 81, janeiro-março de 2004, p. 137-153. 90 . Declaração de Colin Powell em 9 de setembro de 2004 perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado, com base em uma investigação realizada pelos serviços do Secretário de Estado da Defesa (em julho e agosto) nos campos de refugiados do Chade. Horas depois, a Casa Branca emite um comunicado concluindo que o genocídio está ocorrendo em Darfur, com base na investigação do Departamento de Estado e outras informações. Esta é a primeira vez que um estado declara publicamente que o genocídio está sendo cometido em outro estado. 91 . Este relatório, apresentado ao Conselho de Segurança pelo Alto Comissariado para os Direitos Humanos e pelo Conselheiro Especial do Secretário-Geral da ONU para a Prevenção do Genocídio, conclui que "crimes contra a humanidade, crimes de a guerra e as violações das leis da guerra foram provavelmente perpetradas de forma sistemática e em grande escala ”(30 de setembro de 2004). 92 . Veja, por exemplo, o artigo de Jean-Hervé Bradol, presidente de MSF, “De um genocídio a outro”, Le Monde , 14 de setembro de 2004. 93 .
Relatório da Comissão Internacional de Inquérito sobre Darfur ao Secretário-Geral das Nações Unidas (Em conformidade com a Resolução 1564 do Conselho de Segurança de 18 de setembro de 2004) , Genebra, Nações Unidas, janeiro de 2005; disponível na Internet: http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf. 94 . Henry R. Huttenbach, “Localizando o Holocausto sob o Espectro do Genocídio: Rumo a uma Metodologia de Definição e Categorização”, Holocaust and Genocide Studies , vol. 3, No. 3, 1988. 95 . Israel W. Charny, "Toward a Generic Definition of Genocide", em George J. Andreopoulos (ed.), Genocide. Conceptual and Historical Dimensions , University of Pennsylvania Press, 1994, p. 64-94. 96 . Stephen Katz, The Holocaust in Historical Context , Nova York, Oxford University Press, 1994, t. 1 97 . Charles Louis de Secondat, barão de Montesquieu, De esprit des lois , Paris, Les Belles Lettres, 1950-1961, livro V. 98 . É notável que Lemkin não pareça duvidar desse ponto fundamental, embora tenha poucas informações confiáveis sobre a extensão e os métodos do extermínio dos judeus em andamento na Europa ao mesmo tempo em que escreve seu livro. . Na verdade, ele confia aqui "apenas" no pensamento de Hitler, expresso no Mein Kampf , e em suas conversas com Rauschning. 99 . Maxime Steinberg, “The Genocide. Histoire d'un imbroglio juridique ”, in Kathia Boustany e Daniel Dormoy (eds.), Génocide , Vitoria network,“ Droit international ”, Bruxelles, Bruylant-Éd. da Universidade de Bruxelas, 1999, p. 161 100 . A palavra Holocausto vem do grego e significa aquilo que é oferecido para ser queimado. Expressa a ideia de sacrifício, em hebraico Korban , e, portanto, não é realmente apropriado nomear o extermínio de seis milhões de judeus pelos nazistas. A palavra Shoah significa “Catástrofe” ou “Destruição”: é usada na França desde 1985, após o filme do diretor Claude Lanzmann, que deu o título de sua obra. O filósofo francês Alain Finkielkraut deplorou o uso da palavra Holocausto : "Agora evocamos o genocídio", escreve ele, "com uma palavra mistificadora, da qual só podemos esperar que seu significado tenha sido esquecido e que não desfigure completamente o realidade que ela designa ”(Alain Finkielkraut, L'Avenir d'une negation. Reflexão sobre a questão do genocídio , Paris, Le Seuil, 1982, p. 82). 101 . Irving L. Horowitz, Taking Lives. Genocide and State Power (1976), 4ª ed., New Brunswick: Transaction Publisher 1996. 102 . Aqui estão alguns títulos de livros que atestam esse desenvolvimento: David E. Stannard, American Holocaust. The Conquest of the New World , Nova York, Oxford University Press, 1992; Jeremy Silvester, Werner H. Illebrecht e Casper Erichsen, “The Herero Holocaust? The Disputed History of the 1904 Genocide ”, The Namibian Weekender , 20 de agosto de 2001; e novamente Laurence Mordekhai Thomas, Vessels of Evil. American Slavery and the Holocaust , Filadélfia, Temple University Press, 1993. 103 . Jean-Michel Chaumont, The Competition of Victims , Paris, La Découverte, 1997. 104 . Leo Kuper, Genocide , op. cit. 105 .
Israel W. Charny (ed.), Rumo à compreensão e prevenção do genocídio. Proceedings of the International Conference on the Holocaust and Genocide , Boulder-London, Westview Press, 1984. 106 . Frank Chalk e Kurt Jonassohn, A História e Sociologia do Genocídio , op. cit. 107 . “Uma ação proposital sustentada por um perpetrador para destruir fisicamente uma coletividade direta ou indiretamente, por meio da interdição da reprodução biológica e social dos membros do grupo, sustentada independentemente da rendição ou ausência de ameaça oferecida pelas vítimas” , Helen Fein, “Genocídio: A Sociological Perspective ”, Current Sociology , vol. 38, n ° 1, 1990, p. 24 108 . Yves Ternon, The Criminal State. Les génocides au XX siècle , Paris, Le Seuil, 1995. Antes deste trabalho (que começa com uma e
apresentação e uma discussão das contribuições do direito internacional), Yves Ternon já havia escrito, entre outros, em colaboração com Sócrate Helman, Le Massacre dos insanos , op. cit. , e também os armênios. História de um genocídio , Paris, Le Seuil, 1977, reed. em 1996. O trabalho de Yves Ternon foi para mim uma referência essencial para progredir em um campo de estudos pouco explorado na França e, portanto, contribuiu para o amadurecimento de minhas próprias pesquisas. 109 . Scott Strauss, “Significados Contestados e Imperativos Conflitantes: Uma Análise Conceitual do Genocídio”, Journal of Genocide Research , vol. 3, n ° 3, novembro de 2001, p. 349-375. 110 . Ted R. Gurr e Barbara Harff, "Genocídio e Politicídio em Perspectiva Global: O Registro Histórico e os Riscos Futuros", em Windass Stan (eds), Just War and Genocide. A Symposium , London, Macmillan's Foundation for International Security, 2001. 111 . Rudolph J. Rummel, Death by Government , op. cit. 112 . Arno J. Mayer, The "Final Solution" in History , Paris, La Découverte, 1990. 113 . Barry Weisberg, Ecocide in Indochina. The Ecology of War , San Francisco, Canfield Press, 1970.
CAPÍTULO VI Os usos políticos de massacres e genocídios Enquanto Auschwitz ainda funcionava e a Alemanha estava longe de ter perdido a guerra, do outro lado do Atlântico, um advogado americano de origem polonesa, Raphael Lemkin, professor da Universidade de Yale, cunhou a palavra "Genocídio". No entanto, ele tinha muito poucas informações confiáveis sobre o que estava acontecendo no coração da Europa nazista. Mas Lemkin teve a intuição de que algo completamente novo estava acontecendo ali, o que, em sua opinião, justificava a criação de um novo termo. Ele, portanto, dedicou um capítulo inteiro a isso no livro que publicou em 1944 . No entanto, apenas quatro anos depois, as Nações Unidas adotaram esse termo no âmbito da Convenção Internacional para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, aprovada em Paris em 9 de dezembro de 1948, um dia antes de sua aceitação. por esta mesma assembleia da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Que sucesso para um acadêmico ver uma palavra que ele mesmo criou tão rapidamente reconhecida em escala internacional! Os tribunais internacionais de Nuremberg e Tóquio, estabelecidos pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, haviam, no entanto, recorrido em novembro de 1945 e janeiro de 1946 a um novo conceito - o de "crime contra a humanidade" - para julgar seus funcionários alemães e japoneses. Mas a constatação, no período imediato do pós-guerra, da natureza dos crimes nazistas cometidos contra os judeus da Europa, provavelmente explica porque o "genocídio" também se impôs a toda a nova comunidade internacional. A partir de então, a palavra "genocídio" gradualmente se espalhou pelo mundo.compromisso atual de designar o mal absoluto, o crime dos crimes que atingem populações inocentes. O termo tem sido aplicado a todos os tipos de situações violentas, boas ou más. Se os jornalistas, ativistas, acadêmicos, alguns têm por sua vez, falou de "genocídio" em quase todos os conflitos da segunda metade do XX século tendo feito um grande número de vítimas civis no Camboja para a Chechênia, passando por Burundi, Ruanda, Guatemala, Colômbia, Iraque, Bósnia, Sudão, etc. O conceito também tem sido utilizado de forma retroativa para descrever o massacre dos habitantes de Melos pelos gregos ( V século aC.), A Vendée em 1793, índios da América do Norte, os armênios em 1915 , sem esquecer os casos de fome na Ucrânia, as várias deportações de populações da exURSS stalinista, bem como, é claro, o extermínio de judeus e ciganos europeus, mas também os bombardeios atômicos americanos de Hiroshima e Nagasaki. Esta lista, é claro, não é exaustiva ... A aplicação da noção de “genocídio” a essas situações históricas muito heterogêneas dá origem a inúmeras objeções e mantém debates acalorados. Há um problema aparentemente inextricável de taxonomia, relativo aos vários e imprecisos significados atribuídos a este termo. Estes vários trabalhos expressam a necessidade de um termo universal para descrever um fenômeno maciço no XX século: a destruição de populações civis. Posteriormente, surgiram outros termos, como o de “politicídio” criado por Ted Gurr e Barbara Harff em 1988 . No entanto, a 1
°
ª
º
2
palavra "genocídio" continua dominando o campo, a tal ponto que várias universidades ao redor do mundo estão criando estudos de genocídio . A idéia comum de que a XX século foi "o século de genocídio", mas merece ser questionada. Que esta foi a era dos extremos, segundo a excelente formulação do historiador inglês Eric Hobsbawm , e, portanto, a dos assassinatos em massa, uma série de observações históricas parecem atestar isso. Mas apoiar o XX século é que o genocídio constitui uma nova declaraçãoo que no mínimo exige uma nova demonstração - se, pelo menos, alguém admitir que o genocídio é apenas uma das formas possíveis de assassinato em massa. Na verdade, o sucesso do termo tem seus problemas para o cientista social. Quem quer construir uma figura de vítima hoje, aos olhos de todo o mundo, afirma ter sido vítima ... de genocídio. A palavra está, portanto, sujeita a todos os tipos de instrumentalização, identidade e ativistas, que devem antes de tudo ser decifrados. Cruzados por esses riscos morais e políticos, os pesquisadores dificilmente conseguiram dar uma definição comum. Na verdade, desde o trabalho pioneiro de Lemkin, os estudos sobre genocídio se desenvolveram principalmente na interseção do direito e das ciências sociais. Esse entrelaçamento constitutivo entre a normatividade do direito internacional e a análise sócio-histórica gera dificuldades conceituais que são fonte de inúmeras controvérsias. Podemos sair e como? A meu ver, é fundamental que a pesquisa sobre genocídio se emancipe da lei, para atingir sua própria maturidade no campo das ciências sociais. Para tanto, recomendo a utilização de um vocabulário não normativo, podendo a noção de “massacre” servir aqui como primeira unidade lexical de referência. Desvencilhar-se da lei é ainda mais buscar pensar os usos políticos dos massacres de acordo com sua dinâmica de destruição. Que é pré precisamente o objectivo deste capítulo, que se propõe a ler a história dos massacres em XX século (e antes) a partir de três configurações de tipo ideal: o da submissão , a erradicação eo insurreição . Veremos então como, apoiando-se na reflexão comparativa desenvolvida nos capítulos anteriores, torna-se possível redefinir a noção de “genocídio”, e mais genericamente de processo genocida , do ponto de vista das ciências sociais. ª
3
th
th
Instrumentalização de uma palavra impossível de definir? O primeiro problema colocado pela palavra “genocídio”, portanto, diz respeito às suas múltiplas instrumentalizações. Este termo agora faz parte de todos os tipos de retórica de identidade, humanitária ou política. Este é um tema de pesquisa por si só, o que revela as questões relacionadas ao seu emprego. Problemas de memória primeiro, para fazerreconhecer aos olhos de todos O genocídio de que um povo afirma ter sido vítima no passado. A luta mais emblemática nesta área é a da comunidade armênia. Mas podemos citar muitos outros: o dos gregos que também acreditam ter sido vítimas de um genocídio perpetrado pelos turcos entre 1915 e 1923, dos ucranianos que querem que a fome de 1932-1933 seja reconhecida como um genocídio, ou mais descendentes de aborígines na Austrália que buscam, após seu massacre pelos primeiros colonos e a assimilação forçada de seus filhos, obter reparação e um pedido de perdão da nação australiana. Na França, a lei de 18 de janeiro de 2001, em seu artigo único, reconhece oficialmente o genocídio armênio de 1915. É raro que os deputados de um país sejam assim levados a se pronunciar sobre a própria natureza de um acontecimento histórico, d 'na
medida em que este evento participa apenas muito indiretamente de sua história nacional. Essa forma de dizer oficialmente como nomear e pensar um acontecimento - pelo poder legislativo não deixa de despertar fortes críticas entre os historiadores; não que se recusem a reconhecer a realidade do fato genocida, mas muito mais porque consideram intolerável que a Lei possa assim qualificar a História, que ela promova de alguma forma A verdade histórica. Porque é abrir caminho a uma História oficial, uma História dogmática, os antípodas da profissão de historiador . O uso da palavra "genocídio" levanta outras questões relacionadas à ação imediata, quando uma população aparece - ou está mesmo - em perigo de morte. Nessas dramáticas circunstâncias, o uso da palavra “genocídio” constitui como o sinal definitivo dirigido a todos para prevenir a tragédia. Em 2004, o conflito em Darfur, Sudão, foi outra ilustração disso. Várias ONGs já haviam denunciado o genocídio em curso neste país, afirmação veiculada pelo Museu do Holocausto dos Estados Unidos em Washington, depois por Colin Powell (Secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos) , e novamente poro governo sueco e o Parlamento Europeu. Durante o mesmo período, no entanto, esta posição não foi compartilhada pela Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Louise Arbourg , ou mesmo por ONGs como a Human Rights Watch, que denuncia no Sudão em vez da perpetração de 'um “crime contra a humanidade”, ou Médecins sans frontières, o que obviamente não significa que essas organizações pretendam permanecer inativas em relação à tragédia . Em janeiro de 2005, a Comissão de Inquérito das Nações Unidas, chefiada pelo advogado Antonio Cassese, também concluiu que a violência cometida em Darfur era um “crime de guerra” e “crime contra a humanidade”, instando a comunidade internacional intervir para acabar com isso; uma chamada então retransmitida por Kofi Annan, que falou de Darfur como "o lugar do inferno na terra ". Justificado ou não o uso da palavra "genocídio", o termo visa atingir a imaginação, despertar consciências e suscitar mobilizações em favor das vítimas. O objetivo não é apenas alertar a opinião pública, criando um movimento de simpatia por ela, mas acima de tudo, legitimar de antemão uma possível intervenção internacional baseada na Convenção das Nações Unidas de 1948. Em nestas circunstâncias, qualquer pessoa que se atreva a afirmar que não é "realmente" um genocídio é imediatamente acusado de covardia ousimpatia pelos agressores. A moralidade sempre parece estar do lado daqueles que denunciam um genocídio em curso. E é verdade que o debate "genocídio ou não" parece indecente no momento em que seres humanos são ameaçados de morte ou estão mesmo morrendo. Consequência: terminamos em uma verdadeira escalada no uso do termo "genocídio" que obscurece completamente o seu significado. O historiador americano Henry Huttenbach observou isso já em 1988: “Muito frequentemente, a acusação de genocídio foi levantada simplesmente para um efeito emocional ou para atingir um objetivo político, com a consequência de que cada vez mais eventos foram acusados de genocídio, a ponto de o termo perder o sentido original . " Ao mesmo tempo que essas lutas pela memória dos povos ou por sua proteção imediata, o conceito de crime de genocídio tem sido objeto de uso estritamente legal, especialmente a partir da década de 1990, para processar perante tribunais internacionais tal ou tal líder político ou militar. . Essas incriminações, cujas apostas políticas são óbvias, ainda se justificam? Nós também podemos discutir isso. O fato é que o ex-ditador chileno Augusto Pinochet foi acusado de genocídio pelo juiz espanhol Baltazar Garzon, assim como o caso de Slobodan Milosevic e do exditador iraquiano Saddam Hussein. Muitas ONGs, como a Amnistia Internacional, baseiam as suas esperanças nesta luta para lutar contra a impunidade daqueles que decidiram e organizaram os massacres. E essas ONGs pretendem contar, para cumprir esta missão, com o Tribunal Penal 4
5
6
7
8
9
Internacional (que também ajudaram a criar, para desgosto de alguns Estados). Este novo tribunal entrou em vigor em 1 julho de 2002, de fato à sua disposição não só a Convenção de 1948, mas também os vários textos legais sobre conceitos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade (ver caixas p . 376 e 377). Finalmente, e este não é o menor aspecto, o termo "genocídio" pode servir como uma arma de propaganda ao se tornar a peça central de uma retórica venenosa contra um inimigo. Em vista da poderosa carga emocional contida na palavra "genocídio",pode ser usado e reciclado em todos os tipos de discurso de ódio, a fim de lançar estigma internacional sobre os acusados de intenção genocida. Assim, os sérvios do Kosovo declararam-se vítimas, nos anos 1980, de um novo genocídio em nome dos albaneses. Da mesma forma, durante a conferência de Durban (África do Sul) em setembro de 2001, delegados árabes acusaram Israel de cometer um verdadeiro genocídio contra os palestinos. Conclusão óbvia: a palavra serve tanto como escudo simbólico, para afirmar sua identidade como povo vítima, como espada erguida contra seu inimigo mortal. st
"Genocídio": um legado do direito internacional Podemos esperar alguns esclarecimentos conceituais dos pesquisadores? Observe que suas próprias obras são atravessadas por questões morais e lutas de identidade. Por um lado, o psicólogo Israel Charny considera qualquer massacre um genocídio, incluindo acidentes tecnológicos como o desastre nuclear de Chernobyl. Se adota assim uma definição extensa, é porque não quer excluir da definição de genocídio nenhum grupo humano vítima . Em contraste, o historiador Stephen Katz considera que houve apenas um genocídio na história: o dos judeus. Mas ele dá uma definição preliminar, tão restritiva e adaptada ao caso da Shoah que seu raciocínio necessariamente o leva à conclusão de que apenas os judeus foram vítimas de um genocídio na história . Entre esses dois extremos, o leque de definições propostas pelos pesquisadores é particularmente amplo e diverso. Deve-se notar que não há consenso entre eles sobre o que é ou não genocídio. Como explicar esse estado de coisas? Para entendê-lo, temos que refazer a evolução da noção e o que ela deve significar, desde os escritos fundadores de Raphael Lemkin, e até mais além. Porque este não foi realmente o primeiro aperguntar a questão do extermínio de um grupo como tal. Montesquieu já havia colocado a questão do genocídio como possível “tratamento” de um povo, mas sem ver a necessidade de forjar uma palavra para isso. Em O Espírito da Lei , ele observa que "um estado que conquistou outro trata-o de uma de quatro maneiras". Ele continua a governá-lo de acordo com suas leis e toma para si apenas o exercício do governo político e civil; ou ele lhe dá um novo governo político ou civil; ou ele destrói a sociedade e a espalha para outros; ou finalmente ele extermina todos os cidadãos. A primeira forma está de acordo com os direitos das pessoas que seguimos hoje. O quarto é mais de acordo com a lei de Romanos ”. No contexto da Revolução Francesa, o jornalista e polemista Gracchus Babeuf fala de um “sistema de despovoamento” (e “populicídio”) para caracterizar em particular o massacre dos Vendéens. A contribuição de Lemkin, portanto, reside mais na criação da própria palavra “genocídio”, para nomear especificamente esse processo de aniquilação de um povo, e aquele no contexto da Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, ele relaciona o plano de destruição dos judeus ao próprio projeto nazista, com base na análise do pensamento de Hitler expresso no Mein Kampf . Lemkin afirma que o conceito de genocídio tem primeiro uma base biológica, até mesmo genética, 10
11
12
ancorada na visão racial do Führer; o que explica a presença da raiz genos na palavra "genocídio". Diante da suposta "superioridade da raça ariana", o projeto nazista visa minar a capacidade reprodutiva biológica de outras raças. Nesse sentido, os assassinatos em massa são apenas um dos métodos de genocídio, que envolve, por exemplo, medidas de restrição à natalidade e tratamento desigual de outras pessoas em questões de alimentação e saúde. Para apoiar sua demonstração, Lemkin reproduz uma tabela que dá o "valor nutritivo" concedido pelos nazistas de acordo com sua concepção hierárquica dos povos. Ele conclui que a implementação de um genocídio supõe um plano concertado com a intenção de organizar tais arranjos (em matéria de sexualidade, saúde, etc.), e que essas medidas não se aplicam a indivíduos tomados isoladamente, mas por causa de sua identidade, real ou suposta, a um determinado grupo. O pensamento de Lemkin, no entanto, sofre de importantes ambiguidades. O primeiro decorre dessa concepção abrangente de genocídio. Na verdade, Lemkin concebe este último como uma forma geral de tratar os povos, que não se aplica apenas aos judeus (chamados a desaparecer) , mas também aos poloneses, tchecos, eslovenos, etc. Além disso, considera que as populações luxemburguesas, dos distritos de Eupen e Malmédy na Bélgica, bem como da região da AlsáciaLorena, são vítimas de um genocídio. Esse julgamento, que não pode deixar de nos surpreender, permanece, no entanto, consistente com o pensamento do autor na medida em que Lemkin estende a noção de genocídio à tentativa de destruição cultural da identidade dos grupos. Para ele, essas regiões anexadas ao Reich sofreram uma política forçada de desculturação identitária e reculturação germânica. Tais medidas, que visam quebrar a “reprodução cultural” dos povos (como as mencionadas acima) e que bloqueiam a reprodução biológica, são parte integrante de um plano genocida. Alguns chamariam de “etnocídio” essa política de destruição de grupos por meio da aniquilação de sua cultura. Mas Lemkin realmente não diferencia entre “genocídio” e “etnocídio”, como ele aponta imediatamente em uma nota de rodapé. Esse significado amplo e relativamente heterogêneo do conceito de genocídio resultou no fortalecimento da vontade daqueles que queriam deixar de lado o extermínio dos judeus europeus. Em si mesmo, esse desenvolvimento é um tanto paradoxal. Porque, como foi apontado acima, a adoção da Convenção de 1948 pela ONU só pode ser entendida no contexto do pós-guerra e da descoberta dos centros de extermínio nazistas. Mas o termo “genocídio”, assim como “confusão de conceitos”, para usar a fórmula brutal do historiador belga Maxime Steinberg, teve o efeito de “permitir que o objeto da história escape do que afirma contar” . Portanto, não é surpreendenteque aqueles que insistiam na “singularidade” da “catástrofe” judaica procuravam impor outras palavras: Holocausto nos Estados Unidos e Shoah na França . O livro de Irving Horowitz, publicado em 1976 (e republicado várias vezes), baseia-se nessa distinção, não hesitando então, de boa fé, em classificar a situação do genocídio na heterogênea categoria de "genocídios". apartheid na África do Sul ou suicídio coletivo da seita de Jim Jones e seus 910 seguidores na Guiana em 1978 . No entanto, o termo Holocausto está, por sua vez, se tornando cada vez mais inflacionário, como se fosse uma questão de não permitir que os judeus se apropriem do monopólio de uma palavra, para impedi-los de marcar a singularidade de sua destruição . Também aí, por meio desse uso de palavras, se trata de uma batalha política pela memória, o que o sociólogo belga Jean-Michel Chaumont chamou de “competição de vítimas ” . Os escritos de Lemkin levantam outro problema na própria base da palavra "genocídio", constituindo sua marca original, por assim dizer. Na verdade, o professor de direito da Universidade de Yaleobviamente não está satisfeito em observar que as formas de violência contra as populações civis na Europa nazista exigem a criação de um novo mandato. Ele imediatamente 13
14
15
16
17
18
pretende propor disposições legais concretas para combater este novo crime no futuro. Por isso, ele se preocupa em fazer uma lista de recomendações jurídicas nesse sentido. Em outras palavras, desde o seu nascimento, a palavra “genocídio” foi construída abrangendo as ciências sociais e o direito internacional. Possui, portanto, um caráter fortemente normativo, o que torna seu uso particularmente problemático para o pesquisador. Eu voltarei a isso. A essência da pesquisa sobre genocídio é precisamente a herdeira dessa abordagem jurídica: o campo dos estudos sobre genocídio nasceu por lei. Para se ter certeza disso, basta analisar as obras dos primeiros autores que, depois de Lemkin, procuraram desenvolver uma reflexão comparativa sobre o genocídio. Quase todos eles tomam a Convenção de 1948 como ponto de partida e referência principal. De certa forma, o texto da ONU deu-lhes um arcabouço para questionar a História. O que esta Convenção diz? Primeiro, insiste no fato de que o genocídio é parte de um projeto intencional para destruir um grupo enquanto tal (como tal) e especifica os critérios para identificar esse grupo. Dois elementos desse texto devem ser destacados: por um lado, não há genocídio sem seleção da população vítima, o que equivale a dizer que o genocídio supõe uma triagem ; por outro lado, apenas os grupos “nacionais, raciais, étnicos, religiosos” são legalmente protegidos contra o crime de genocídio por esta Convenção, o que equivale a dizer que outros grupos não o são, por exemplo aqueles definidos de acordo com critérios políticos, econômicos ou culturais. Assim, a Convenção da ONU dá ao genocídio uma definição ambígua, que é obviamente o resultado de um compromisso entre todos os Estados signatários. Alguns, como a União Soviética, se opuseram veementemente à inclusão do critério político por medo de serem acusados de crime de genocídio por suas ações passadas ... Ciências sociais: estudos pioneiros Apesar dessas limitações, a Convenção da ONU estimulou os primeiros estudos sóciohistóricos sobre o genocídio, como a obra de Leo Kuper. Baseou-se na definição da ONU para propor uma classificação de acordo com “processos genocidas” e “motivos para o crime” . Embora lamentando a exclusão do critério político, ele diferencia os “assassinatos políticos” apenas porque a Convenção da ONU não os mantém. Quanto a Israel Charny, ele corretamente considera que o critério da intencionalidade é amplamente insuficiente para qualificar o genocídio em sociedades de massa onde os níveis de responsabilidade são diluídos . Frank Chalk e Kurt Jonassohn criticam a definição da ONU por ser muito restrita (devido à exclusão do critério político) e ao mesmo tempo muito extensa, uma vez que um dos parágrafos do Artigo 2 estipula que o também se pode falar de genocídio no caso de "graves ataques à integridade física ou mental dos membros do grupo". Eles, portanto, defendem a integração deste critério político na definição de genocídio (rompendo com a relutância de Kuper) e excluem a noção de “ataques à integridade mental”. Para eles, o genocídio é, antes de tudo, a destruição física de seres humanos indefesos fora do exercício da guerra, o que eles chamam de mortes unilaterais . 19
20
21
Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio Resolução 230 da ONU de 9 de dezembro de 1948 Artigo 2
"Genocídio significa qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal: “( A) assassinato de membros do grupo; “ (B) danos físicos ou mentais graves aos membros do grupo; “( C) sujeitar intencionalmente o grupo a condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial; “( D) imposição de medidas destinadas a prevenir nascimentos dentro do grupo; “( E) transferências forçadas de crianças do grupo para outro grupo. " Artigo 3
“Os seguintes atos serão punidos: “( A) genocídio; “ (B) conspiração para cometer genocídio; “( C) incitamento direto e público para cometer genocídio; “( D) tentativa de genocídio; “ E) cumplicidade no genocídio. "
Definição do crime contra a humanidade em seu artigo 7. Tribunal Penal Internacional (Roma), 17 de julho de 1998 "Atos cometidos conscientemente como parte de um ataque sistemático ou em grande escala às populações civis: “( A) assassinato; “ (B) extermínio; “( C) redução da escravidão; “( D) deportação ou transferência forçada de população; “( E) prisão ou outra forma de privação séria da liberdade física em violação das disposições do direito internacional; “( F) tortura; “ G) estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada; “( H) perseguição de qualquer grupo ou coletividade identificável com base em motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, religiosos ou outros; “( I) desaparecimentos forçados; “( J) o crime de apartheid; “( K) outros atos desumanos de caráter semelhante. " Por sua vez, a socióloga norte-americana Helen Fein decidiu ficar muito próxima da definição da ONU enquanto se esforça para dar-lhe uma "tradução" sociológica. Assim, acaba definindogenocídio como “a ação determinada e duradoura de destruir fisicamente, direta ou indiretamente, uma comunidade por meio da proibição da reprodução biológica ou social de seus
membros, independentemente de sua submissão e da ausência de periculosidade apresentada pelas vítimas ”. Na França, o historiador Yves Ternon, pioneiro nos estudos do genocídio em nosso país, também se inspira nessa abordagem jurídica inicial em sua importante obra L'État criminal . Oferecer uma síntese dessas diferentes abordagens parece quase impossível. Em 2001, Scott Strauss tentou, por exemplo, comparar as diferentes definições formuladas por esses autores, com base nos seguintes pontos-chave: a questão da "intenção", os modos de aniquilação do grupo-alvo, a forma de definir tanto as vítimas quanto os agentes de sua aniquilação. Resultado: as diferenças estão longe de ser secundárias e dizem respeito à maioria das variáveis do processo de destruição . Em seguida, outros pesquisadores tentaram romper com a Convenção da ONU para explorar novos caminhos. Como "esqueceu" os assassinatos em massa de natureza política, eles simplesmente propuseram nomeá-los como tal. Sendo a palavra "genocídio" uma criação, eles consideravam legítimo fabricar outros termos adequados para designar diferentes fenômenos. É por isso que BarbaraHarff e Ted Gurr cunharam a noção de "politicídio" para se referir ao assassinato em massa de natureza política. De fato, sua abordagem segue modelada na da ONU, uma vez que essa noção de politicídio se apresenta como uma solução lexical para compensar a deficiência do critério político. Assim, consideram que genocídio designa casos de homicídios em massa que visam grupos de carácter “comunitário”, definidos por critérios étnicos e religiosos, enquanto o politicídio tem como alvo grupos cujas vítimas são apreendidas segundo a sua oposição. ao poder dominante. Esses autores vêem, portanto, um interesse analítico em diferenciar os dois conceitos, que consideram complementares em outros lugares. Daí sua tendência para falar em “genopolicídio” . Por sua vez, Rudolph Rummel relega a noção de “genocídio” para segundo plano em favor do termo que ele cunhou: o de “democídio”. Ele define Democídio como qualquer assassinato em massa perpetrado por um governo (tendo feito pelo menos um milhão de mortes), seja um genocídio, um politicídio ou qualquer outro assassinato em massa . Ao lê-lo atentamente, porém, descobrimos que ele propôs este termo por razões mais morais do que científicas, principalmente para incluir todas as vítimas dos Estados. Nesse sentido, ele está muito próximo da abordagem de Charny, exceto que, ao contrário desta, ele se recusa a dar uma definição ampla de genocídio. Além disso, sua definição é problemática porque, embora queira abranger todos os casos de massacres, não leva em consideração aqueles cometidos por atores não-estatais. Ainda surgiram novos conceitos que também não têm substância jurídica. Pensemos naqueles de "Judeocídio" para designar qualquer massacre de judeus , de "ecocídio" para qualificar a destruição de um ecossistema , de "feminicídio" para designar a destruição.menção específica das mulheres , de “libricídio” para a destruição de bibliotecas , de “urbicídio” para as cidades e de “elitocídio” para o das elites, e ainda de “linguicídio” e “culturicídio” , sem esquecer os de “fratricídio”, “classicídio” e “etnocídio” . Essa proliferação de termos, muitos dos quais surgiram após a Segunda Guerra Mundial, testemunha uma nova tendência nas ciências sociais, que tenta pensar o fenômeno da destruição como tal. A princípio, é como se as tentativas dos pesquisadores se concentrassem em saber como nomeá-los para poder pensar sobre eles . Na verdade, dificilmente existem tradições de pesquisa neste campo sobre as quais construir. Essa abundância de terminologia pode, portanto, ser interpretada como um indicador da riqueza de um campo de estudo em construção. Mas essa diversidade também atesta outra realidade: a enorme dificuldade de "apreender" o objeto estudado, de delimitá-lo, de "enquadrá-lo" bem nas definições. Isso resulta 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
em uma série de mal-entendidos e mal-entendidos entre os próprios pesquisadores, que, no entanto, muitas vezes trabalham nos mesmos casos históricos. Desengate da direita Ousemos fazer esta pergunta um tanto provocativa: ainda precisamos da palavra “genocídio” nas ciências sociais? Sendo o seu uso fonte de mal-entendidos, essa noção não representa mais problemas para o pesquisador do que o ajuda a resolver? Eu não estaria longe de pensar assim. Isso equivaleria a deixar o termo "genocídio" para sua identidade, ativismo e usos legais,descrito acima. Nas ciências sociais, as noções gerais de “violência em massa” ou “violência extrema” poderiam então parecer suficientes, desde que diferenciassem suas dinâmicas específicas (de acordo com seus objetivos políticos) e suas morfologias concretas. O historiador alemão Christian Gerlach é favorável a tal solução, tendo decidido banir em suas obras o próprio uso das noções de “crime” e “genocídio” . Mas alguns continuarão a objetar que embora a palavra “genocídio” tenha se tornado muito problemática, é difícil prescindir dela. É por isso que pretendo aqui fazer uma tentativa de continuar a defender a sua utilização nas ciências sociais, esclarecendo os problemaschave que determinam o futuro deste campo de investigação. O trabalho sobre o genocídio está hoje no cruzamento de dois caminhos muito diferentes. O primeiro leva a definição da ONU de 1948 como a principal categoria de análise do genocídio. A maioria dos estudiosos do genocídio pode ser reconhecida por essa abordagem, na qual o trabalho de Helen Fein continua sendo o mais influente. Sua posição não carece de coerência: observando que os pesquisadores não conseguem chegar a um acordo sobre uma definição comum de genocídio, consideram legítimo se ater à sua definição legal. Este é, por exemplo, o ponto de vista eloquentemente defendido pelos historiadores Robert Gellately e Ben Kiernan . Sua abordagem também se baseia em uma concepção do compromisso da universidade com os julgamentos dos “genocidas”. Para eles, o pesquisador não deve hesitar em se envolver e colocar-se a serviço do juiz para ajudá-lo a processar criminosos dessa natureza. E, acrescenta outro pesquisador americano, Eric Markusen, a Convenção de 1948 pode servir ainda mais como base de referência, pois provou sua flexibilidade por ser suficientemente geral e precisa para ser usada em ensaios internacionais tão diferentes quanto aqueles relativos à Iugoslávia ou Ruanda. Ainda é a abordagemsustentada no trabalho interessante de Eric Weitz, que também, parte da definição da ONU para conduzir sua pesquisa sobre o XX século, embora admitindo que a noção de "intenção" no coração do definição de 1948, não é muito fácil de validar na história . Mas essa corrente de pesquisa, que chamarei de “escola da ONU”, esbarra em uma questão formidável: em que medida é legítimo adotar um padrão jurídico internacional, resultante de um compromisso político entre Estados, como base para pesquisas em história, sociologia ou antropologia? Com efeito, passamos a utilizar uma norma que é, por definição, política, uma vez que o texto desta convenção é obviamente fruto de um compromisso internacional entre os Estados em 1948, no contexto do pós-guerra. No entanto, esta situação é verdadeiramente problemática. Assemelha-se a uma crítica desenvolvido por Durkheim no início do XX século, em relação ao uso normativo do conceito de 'crime' em sociologia. No início do XXI século, nós também temos que desenvolver crítica do uso normativa do termo "genocídio" nas ciências sociais. É libertando-se da lei e, portanto, da política, que a pesquisa sobre genocídio vai gradualmente adquirindo sua própria 33
34
th
35
°
th
autonomia. Não está necessariamente "na moda" numa época em que tudo está se tornando legal e quando, ao contrário, usamos a lei para fazer política, a própria lei sendo política. Obviamente, essa crítica não vale a pena questionar o direito internacional como tal. Sem dúvida, eu deveria levantar este importante risco de mal-entendido aqui. Não há dúvida de que a adoção da Convenção de 1948 representa uma melhoria considerável do direito internacional no XX século no reconhecimento do genocídio. E hoje temos excelentes trabalhos sobre as contribuições desse direito internacional, bem como sobre seus fundamentos filosóficos . Também não há dúvida de que os julgamentos dos responsáveis eOs perpetradores dos massacres são uma fonte de documentação muito importante para os investigadores, ainda que esta informação nem sempre seja fácil de explorar do ponto de vista da investigação: um julgamento é feito para julgar um criminoso, não para compreender um acontecimento histórico. No entanto, é precisamente aqui que a diferença é notável: como historiador, sociólogo ou antropólogo, o pesquisador simplesmente não faz o mesmo trabalho que o advogado. º
36
O "massacre" como unidade de referência Os primeiros autores que tentaram se distanciar da definição da ONU parecem-me o historiador Frank Chalk e o sociólogo Kurt Jonassohn . Se reconhecem a importância desta definição da ONU, procuram, no entanto, redefinir a noção de “genocídio” nas ciências sociais, propondo-se sobretudo a destacar dela a de “etnocídio”, ambiguidade que já existia nos primeiros escritos. de Lemkin e que se encontra no texto de 1948. O próprio historiador francês Bernard Bruneteau os segue . Os historiadores ingleses Marc Levene Martin Shaw ou trabalhando na mesma direção, embora ambos pareçam equiparar o genocídio a um grande massacre . Os pesquisadores americanos Norman Naimark e Michael Mann também se emanciparam da definição legal de genocídio (ou até mesmo a ignoraram) em seu trabalho sobre “limpeza étnica” e violência em massa . É novamente o caso do cientista político americano Benjamin Valentino, que prefere usar o termo geral de“Assassinato em massa” . Obviamente, subscrevo essa linha de pesquisa, que gostaria de contribuir para problematizar mais aqui . Na verdade, o desligamento da lei leva, em primeiro lugar, ao uso de um vocabulário não normativo e não jurídico para construir esse objeto de pesquisa. A noção de “crime em massa”, que uso há algum tempo, não atende a esse requisito . Sua vantagem é certamente apresentar-se como um conceito-ponte entre o direito e as ciências sociais. A palavra “massa” anuncia a dimensão excepcional do crime considerado, no sentido de que visa um grupo, uma massa de vítimas individuais. A expressão pode ainda sugerir que esse crime espetacular não é cometido por um único indivíduo, mas sim por um grupo que, muito provavelmente, conta com o apoio de uma massa. No entanto, a palavra “crime” marca seu caráter normativo, portanto legal e penal. Assim, passei a recomendar neste campo de estudo o recurso à noção de "massacre" como unidade lexical de referência. Muito menos geral do que a “violência”, dou-lhe em primeiro lugar uma definição empírica de natureza sociológica: uma forma de ação muitas vezes coletiva, de destruição de não combatentes, homens, mulheres, crianças ou soldados desarmados . Observe que esta palavra designatambém a matança de animais, desde a Idade Média européia. Além disso, esta aproximação imediata entre a matança de animais e a de seres humanos, nos planos histórico e semântico, não é insignificante. É certo que isso ainda não resolve a questão de uma definição de genocídio do ponto de vista das ciências sociais. Mas antes de chegar lá, ainda temos que 37
38
39
40
41
42
43
44
começar trabalhando no massacre; porque nem todo massacre pode ser considerado um genocídio, e um genocídio consiste, em primeiro lugar, em um ou mais massacres. É, portanto, simples bom senso metodológico que leva a favorecer este “massacre” como objeto de estudo, sendo a questão em particular saber quando e em que circunstâncias um massacre se transforma em genocídio. Várias morfologias do massacre devem ser distinguidas de acordo com a sua escala, a distância possível entre os assassinos e as suas vítimas e a estrutura dos conflitos que geram estas formas de violência extrema. A noção de massacre implica a morte de várias pessoas, sem poder dizer de que número preciso. No entanto, há uma diferença de escala entre a sucessão de “pequenos” massacres, como na Argélia ou na Colômbia, e um massacre muito grande, como o perpetrado na Indonésia em 1965 (em poucas semanas quase 500.000 mortos) ou em Ruanda. em 1994 (quase 800.000 mortes). No segundo caso, parece justificado falar de “massacre em massa” (ou “assassinato em massa”), da mesma forma que se distingue intuitivamente entre uma “manifestação” e uma “manifestação em massa” . Da mesma forma, é importante diferenciar massacres locais (que se baseiam no contato próximo entre algozes e vítimas), o que os anglosaxões chamariam cara a cara ,e um massacre remoto (como um bombardeio aéreo por um piloto que nem consegue ver as pessoas que sua bomba atingirá). O significado do massacre é ainda muito diferente dependendo se se está em uma situação de massacres bilaterais entre adversários em conflito (do tipo guerra civil) ou se é um massacre unilateral, perpetrado, por exemplo, por um estado contra sua própria população. Também é essencial saber se o massacre foi cometido por um estado ou uma organização militante e se os perpetradores concordam em morrer com suas vítimas, como no caso dos atentados suicidas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. (ver abaixo). Cada um desses diferentes casos requer estudos específicos. 45
Pensando em processos de destruição No entanto, o estudo do massacre deve necessariamente ser colocado no quadro mais geral de um processo de destruição , do qual é a expressão mais espetacular. Forma de violência extrema, o massacre deve ser entendido no contexto de uma dinâmica de violência mais global, que o precede e o acompanha. O exemplo do aumento da violência no Kosovo na década de 1990 é particularmente significativo a este respeito. Uma polêmica se desenvolveu na França sobre o número de mortes nesta província da ex-Iugoslávia, após operações de "limpeza étnica" realizadas pelo exército sérvio e várias milícias. Na altura da intervenção da OTAN em 1999, oficialmente destinada a pôr fim a ela, números de mortes muito diferentes foram apresentados por alguns e outros: 3.000? 10.000? 50.000? Essa contabilidade, por mais macabra que seja, é certamente necessária, mesmo que apenas do ponto de vista jurídico. Mas é muito redutivo considerar a destruição causada em Kosovo desde 1998 (se não desde 1990) em termos de pessoas desaparecidas, famílias deslocadas, mulheres estupradas, casas queimadas, etc. Isso mostra a importância de pensar no massacre como sendo "apenas" a forma mais espetacular e trágica de um processo global de destruição. O massacre pode “acompanhar” este processo ou ser o resultado. Nesse sentido, o psicossociólogo americano Ervin Staub propôs a interessante expressão de “continuum de destruição ” . O termo“Continuum” não parece muito adequado, entretanto, porque poderia sugerir uma continuidade inelutável que iria necessariamente do evento a ao evento b (por exemplo, da crescente perseguição de uma minoria ao seu massacre). Esta visão é certamente inspirada na história da Shoah. Mas sabemos que esta é uma interpretação errônea 46
reconstruída a posteriori (porque sabemos o fim da história): a perseguição aos judeus alemães no início da Alemanha de Hitler não implicava que o cenário de Auschwitz já foi escrito. É por isso que a noção de "processo" é preferível à de "continuum", porque implica a ideia de uma dinâmica de destruição que pode experimentar riscos, inflexões, acelerações - em suma, um cenário que não não é escrito com antecedência, mas é construído de acordo com a vontade dos atores e das circunstâncias. Esta é a abordagem adotada neste livro. Vamos tentar ser mais precisos: vamos falar de um processo organizado de destruição de civis, tendo como alvo pessoas e seus bens . Processo , porque a prática coletiva do massacre pode ser considerada o resultado de uma situação complexa, criada principalmente pela conjunção de uma história política de longa duração, um determinado espaço cultural e um contexto internacional. Organizado , porque não é uma destruição “natural” (do tipo terremoto) ou acidental (do tipo nuclear de Chernobyl). Este processo de violência, longe de ser anárquico, é canalizado, orientado, até construído, contra este ou aquele grupo. Ela assume a forma concreta de ação coletiva, na maioria das vezes impulsionada por um Estado (e seus agentes), que tem a vontade de organizar essa violência. Isso não impede uma possível improvisação, até espontaneidade, dos atores nas formas de causar sofrimento e matar. Destruição : o termo é mais amplo do que o de “assassinato”, pois inclui possíveis práticas de demolição ou queima de casas, edifícios religiosos, edifícios culturais, a fim de aniquilar a presença do “Outro-inimigo”. Isso também pode implicar em possíveis processos de desumanização das vítimas antes de sua eliminação. As marchas forçadas e outras técnicas de deportação, que muitas vezes resultam em uma alta taxa de mortalidade, também fazem parte desses métodos de destruição de populações. Na verdade, a palavra "destruição" não prejudica o método de assassinato: fogo, água, gás, fome, frio ou qualquer outro meio lento ou rápido de matar. Civis: porque é claro que se essa violência pode serinicialmente dirigido contra objetivos militares (ou paramilitares), tende a se separar deles para atacar principalmente, senão exclusivamente, não combatentes e, portanto, civis. Conhecemos a expressão "destruição de populações civis", familiar no vocabulário estratégico. Mas isso se refere muito à ideia de um bombardeio aéreo, portanto da morte provocada de toda uma comunidade (por exemplo, os habitantes de uma cidade). Porém, devemos pensar também em processos de destruição mais diferenciados, dirigidos contra civis “espalhados” dentro de uma mesma sociedade. A expressão “destruição de civis” é, portanto, preferível porque permite abarcar essas duas dimensões, que vão desde a eliminação de indivíduos dispersos até a de grupos constituídos, a populações inteiras. Em todos os casos, essas ações coletivas de destruição implicam uma relação totalmente assimétrica entre agressor e vítima. Na verdade, é uma destruição unilateral , visando indivíduos e grupos que não estão em posição de se defender. Mas isso em nada prejudica a posição anterior ou futura das vítimas, que podem ter sido ou podem por sua vez tornar-se algozes. Desvencilhar-se da lei é adotar mais uma perspectiva de análise: não tanto se situar do ponto de vista dos efeitos do ato violento sobre as vítimas mas buscar discernir, entre os autores dos massacres, os motivos de sua passagem para o ato. Esta mudança de perspectiva é decisiva: deixamos de ver o massacre com os “óculos” do advogado para tomar emprestados os do cientista político. Esta é novamente, em substância, a abordagem deste livro: examinar os diferentes usos políticos dos massacres, até mesmo dos genocídios. A perspectiva pode parecer chocante, já que equivale a supor que as mortes tenham uma boa "sensação" exatamente o "significado" para aqueles que as cometem. Mas situar-se do ponto de vista dos perpetradores do ato não implica em compartilhar sua causa. “Você não precisa ser César para entender César ”, Max Weber nos 47,
48
ensinou. Há, portanto, uma boa dose de racionalidade nas práticas de violência extrema, mesmo que essa racionalidade nos pareça delirante. NissoNesse sentido, a diversidade de situações históricas leva a distinguir pelo menos três tipos de lógica política dos massacres, ou seja, da vontade de destruição parcial e / ou total do grupo alvo, consoante o seu objetivo seja: - submissão; - erradicação; - a insurreição. Procuremos fazer uma breve síntese histórica, que permitirá definir melhor as possíveis definições de genocídio do ponto de vista das ciências sociais.
Destrua para enviar O objetivo aqui é matar civis para destruir parcialmente uma comunidade para subjugar totalmente o que resta dela. Por definição, o processo de destruição é, portanto , parcial , mas seu efeito se destina a ser global . Porque os responsáveis pela ação contam com o efeito do terror para impor seu domínio político aos sobreviventes. É por isso que o processo de massacre é particularmente adequado para tal estratégia: o massacre não precisa ser silenciado, mas conhecido , para que seu efeito aterrorizante se espalhe entre a população - um efeito aterrorizador que é aumentado ainda mais pelo práticas de pilhagem e estupro. Em alguns casos, este último pode assumir proporções incríveis, sendo um dos exemplos mais conhecidos o estupro em massa de mulheres chinesas na cidade de Nanjing, praticado por mais de seis semanas por soldados japoneses, de dezembro de 1937 a janeiro. 1938. Como já observamos, a guerra freqüentemente produz massacre (cf. capítulo III ). Esta dinâmica de destruição-submissão de civis pode, de facto, integrar-se perfeitamente numa operação militar para precipitar a capitulação do adversário, apressar a conquista do seu território e a sujeição das suas populações. É o que o filósofo americano Michael Walzer chamou de "guerra contra os civis", na qual inclui também as várias formas de cerco e bloqueio, que visam derrubar uma cidade ou um país . Tal praOs tiques da guerra são universais e independentes da natureza dos poderes políticos. Os Estados autoritários ou totalitários estão, de fato, longe de ter um monopólio. Os governos democráticos também podem recorrer a ela, como no decorrer da Segunda Guerra Mundial com os bombardeios anglo-americanos de cidades alemãs, sendo o mais famoso o de Dresden (13 a 14 de fevereiro de 1945). Os bombardeios atômicos das cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos (6 e 9 de agosto de 1945) também se enquadram nessa intenção de aterrorizar um país inteiro a fim de forçar a rendição de seus líderes - operações militares contra civis que foram consideradas imorais por Filósofo americano John Rawls . Em menor escala, essas práticas de destruição e submissão também são perceptíveis nas guerras civis contemporâneas, onde os atores tendem a não distinguir entre combatentes e não combatentes. Mesmo que as mulheres e crianças de uma aldeia não estejam armadas, podem ser suspeitos de ajudar os guerrilheiros adversários, fornecendo-lhes comida e munição. Como resultado, mulheres e crianças se tornam alvos potenciais para o lado oposto. Quando a aldeia cai sob o controle dessas forças inimigas, elas são sempre tentadas a "dar o exemplo" matando seus habitantes, a fim de enviar uma mensagem a toda a região por meio desse "castigo". O massacre é 49
50
então usado para ganhar a lealdade de todos aqueles que vivem ao redor. Algumas pessoas às vezes são poupadas para espalhar o horror do que aconteceu ao seu redor. Todos serão avisados sobre o que esperar se quiserem se opor ao vencedor. Mas se a população obedece com eficácia e se põe a serviço desta, corre o risco de ser alvo do campo que foi derrotado e que pretende vingar-se. Assim, as populações civis ainda são feitas reféns por grupos armados em conflito e o número de civis mortos está se tornando muito maior do que o dos próprios combatentes armados. Não podemos mais contar as guerras antigas ou novas em que tais práticas políticas de massacre são detectáveis, sejam aquelas no Vietnã, Líbano ou Guatemala, via Argélia, Moçambique, Colômbia, Serra Leoa ou Chechênia. Da guerra à "gestão" dos povos Essas práticas de destruição-submissão, forjadas na guerra, podem então se estender ao gerenciamento dos povos. A guerra de conquista, que pode ter sido liderada por massacre, é seguida pela exploração econômica do povo vencido, com mais recursos, se necessário, para o massacre de alguns de seus membros. Essa, por exemplo, era a atitude fundamental dos conquistadores para com os índios, por eles percebidos como seres sem valor, obrigados a trabalhar à vontade. As crônicas do dominicano Bartolomé de Las Casas, escritas entre 1527 e 1561, são um testemunho particularmente comovente . Pode-se citar muitos outros exemplos associados à história da conquista das “colônias”, seja na América do Sul, África ou Ásia. No final do século XIX, a revolução das armas de fogo, com o aparecimento então o aperfeiçoamento das metralhadoras, dá ao corpo expedicionário europeu uma superioridade esmagadora em sua conquista do Sudão, Angola ou Ruanda. A história oferece ainda mais variantes “políticas” dessa lógica destruição-submissão, que passa da guerra para a gestão dos povos. Nesse caso, poderíamos reverter a fórmula de Clausewitz - "Não é mais a guerra o meio de continuar a política: é a política que é o meio de continuar a guerra" ... contra os civis. Aqueles que ganham uma guerra civil são, além disso, logicamente atraídos para esta dinâmica de construção de seu poder, como já mostrado pelo exemplo da França revolucionária, cujas "colunas infernais" foram enviadas em 1793 para subjugar a população rebelde de Vendée. Aqui encontramos a figura do suspeito (descrito no capítulo I ), cuja periculosidade foi institucionalizada por uma lei de 17 de setembro de 1793, que permite a prisão de 500.000 pessoas . Desse período conhecido como Terror, nasceu a expressão “terrorismo”, concebida como política de Estado. Na Rússia revolucionária de Lenin, os bolcheviques também continuam a guerra contra seus inimigos de todos os tipos, ex-monarquistas ou socialistas, ou membros de classes consideradas "reacionárias".naires ”como os camponeses. Os bolcheviques querem manter o poder por mais tempo do que os setenta e dois dias da Comuna de Paris e, portanto, tomar medidas de terror, até então desconhecidas na Rússia czarista. A partir de novembro de 1917, eles formalizaram a noção de "inimigo do povo", posteriormente estendida a todos os tipos de categorias de "contrarevolucionários". E sempre justificam sua prática de violência em "bases de classe", na perspectiva do advento de um novo mundo. A figura desse traidor de mil faces parece estar profundamente associada a essa dinâmica política de destruição-submissão, assumindo nos regimes comunistas a escala da violência em massa. 51
E
52
É verdade, tenha havido guerra civil ou não, o processo é muito antigo: torturar o traidor, massacrar por exemplo os "rebeldes", reais ou supostos, este é um dos métodos clássicos usados pelo tirano para obter e prolongar a subjugação de seu povo. Potências autoritárias ou coloniais, inclusive democráticas, recorreram a tais métodos. Considere, por exemplo, na Índia, o massacre em Amritsar perpetrado pelo general inglês Reginald Dyer contra uma multidão de manifestantes não violentos em 13 de abril de 1919 (379 mortos e 1.200 feridos). Na África do Sul, o regime racista não hesitou em atirar em uma multidão pacífica em Sharpeville em 21 de março de 1960 (69 mortos e 180 feridos). Na Argélia, em 8 de maio de 1945 (o mesmo dia da rendição alemã na Europa), a polícia e a gendarmaria francesas abriram fogo em Setif em um desfile de manifestantes exibindo a bandeira argelina, que então deu início a uma insurreição. . Na mesma noite, um novo massacre foi perpetrado em Guelma, com o apoio de colonos armados . Posteriormente, durante a guerra pela independência, os soldados franceses, apoiados pelo governo de Guy Mollet, generalizaram a prática de tortura contra a população (incluindo mulheres), suspeita de apoiar a resistência argelina. Este uso sistemático da tortura, justificado em nome da coleta de informações e, portanto, por razões de segurança, parece na realidade ser o instrumento preferido desistema político de terror, destinado não a fazer as pessoas falarem, mas a silenciar . Por sua vez, a própria Frente de Libertação Nacional (FLN) comete atrocidades não só contra os colonos franceses, mas também contra a população argelina (suspeita de colaborar com o colonizador), assassinando e sequestrando várias dezenas de milhares de pessoas . Já as ditaduras latino-americanas dos anos 1970, liderando Argentina e Chile (que se beneficiam da assessoria de oficiais franceses e, mais ainda, norte-americanos), organizam o “desaparecimento” sistemático de todos os que consideram suspeitos. A técnica consiste em prender os inimigos políticos e sindicais do regime, reais ou supostos, sem nunca dar notícias às suas famílias. Eles estão vivos ou mortos? Normalmente, eles eram torturados e depois mortos. Mas seus parentes não sabem disso, não podem saber. Esta incerteza sobre o destino dos "desaparecidos" visa precisamente criar um clima psicológico de terror e paralisia em toda a população. 53
54
55
Regimes comunistas: a reformulação total do corpo social Mas dentro dos regimes comunistas do XX século, os processos de destruição-apresentação são parte de um contexto político interno muito diferente. A determinação desses poderes em destruir as bases do antigo sistema (e, conseqüentemente, aqueles que o incorporam) está enraizada na vontade de construir um novo por todos os meios. A convicção ideológica dos líderes que impulsionam este projeto político é, portanto, decisiva aqui. Considerar que as diversas práticas de violência contra civis têm como único objetivo incutir um clima de terror nesta “nova sociedade” seria, portanto, propor uma interpretação demasiado simplista. Na verdade, eles se encaixam em um todo maior, sendo apenasuma das técnicas da engenharia social que visa transformar fundamentalmente uma sociedade. Sem dúvida, é a ideologia que dá a este projeto todo o seu poder e sua utopia: a de uma sociedade sem classes. Devemos, portanto, esperar que este projeto de destruição-reconstrução política e social venha a causar vítimas em todas as camadas da citada sociedade, que deve ser completamente remodelada. É aqui que os sistemas comunistas apareceu no XX século tornar os destruidores de seu próprio povo, não porque eles têm o projeto para destruí-los como tal, mas porque o seu objetivo é reestruturar de cima para baixo o °
º
“corpo social”, ainda que signifique purificá-lo e recortá-lo, segundo seu novo imaginário político prometeico. No caso da União Soviética, um dos grandes projetos dessa reformulação social foi, por exemplo, o da coletivização forçada da agricultura, que envolveu medidas brutais e repetidas de "deskulakização", ou seja, isto é, a deportação de camponeses supostamente ricos que só podiam, pensava-se nos círculos oficiais, se opor a essa coletivização. Essas operações de deportação (principalmente para a Sibéria) devem, portanto, ser incluídas em um vasto programa supostamente coerente de transformações brutais da economia e da sociedade. Ao fazer isso, o jovem estado soviético então entrou em guerra contra uma miríade de pequenos proprietários, que procuraram, da melhor maneira que puderam, resistir a ela. Em 1930, observa Nicolas Werth, “quase 2,5 milhões de camponeses participaram de quase 14.000 revoltas, distúrbios e manifestações de massa contra o regime. As regiões mais afetadas foram a Ucrânia, em particular a Ucrânia Ocidental, onde distritos inteiros, principalmente nas fronteiras da Polônia e da Romênia, escaparam do controle do regime, a região das terras negras, o Cáucaso do Norte ” . Em retaliação, em 1932-1933 Stalin provocou uma fome em massa, que fez cerca de 6 milhões de vítimas, com o objetivo de subjugar definitivamente as regiões mais rebeldes, a começar pela Ucrânia. Posteriormente, essa violência em massa vivida contra os camponeses é aplicada a outros grupos sociais. Assim, os expurgos do “Grande Terror” stalinista dos anos 1937-1938 foram inspirados nos métodos de dekulakização. Esses expurgos, que visam todos os tipos de "inimigos", afetam não apenas as elites, mas a sociedade como um todo. O objetivo é limpar o país de todos os seus elementos “anti-soviéticos” e “anti-sociais”. Ninguém pode se sentir seguro, pois todos se tornam suspeitos. O partido fixa cotas para a paralisação de "inimigos", dependendo de suas categorias e regiões, assim como, em termos de produção, impõe cotas para a extração de ferro ou carvão. Outro elemento fundamental dessa engenharia social de estilo soviético é a vasta rede de campos de trabalho no “arquipélago Gulag”, para usar a expressão do escritor russo Alexander Solzhenitsyn. A ideia que está na base do acampamento é a de uma reeducação-sanção, os detidos sendo obrigados a trabalhar como condenados, em verdadeiras prisões, onde correm o risco de perder a saúde se não a vida. Mas, ao contrário dos campos nazistas, o objetivo do sistema de campos de concentração soviético não é matar prisioneiros; Hannah Arendt sentiu essa diferença quando imaginou que o campo soviético estava "para o purgatório assim como o campo nazista foi para o inferno". A historiografia mais recente confirma esta ideia de que, se o cidadão soviético pode morrer no Gulag, também pode sair após vários anos de detenção. Assim, o Gulag é um local de passagem . A China comunista de Mao Zedong se apresenta como outra variante dessa engenharia social total. O próprio pai da Revolução Chinesa deu uma definição muito ampla de seus inimigos quando declarou em 1949: “Depois da aniquilação dos inimigos armados, ainda haverá inimigos desarmados; eles não deixarão de travar uma luta de morte contra nós. Nunca devemos subestimálos. Se não perguntarmos e não compreendermos agora o problema desta forma, cometeremos os erros mais graves . »E para lançar em 1951 uma campanha virulenta deterror na direção dos "contra-revolucionários", relançado em 1955 contra "inimigos revolucionários ocultos", e assim por diante. É impossível aqui retomar todas essas repetidas mobilizações assassinas que regularmente atacam os intelectuais ou, mais geralmente, os habitantes das cidades, ex-líderes do Partido, budistas ... Nessas operações orquestradas pelo Partido, também consertamos “Cotas” de inimigos 56
57
58
a serem interrompidas. Desde o início de sua luta na década de 1920 até os massacres da década de 1960, incluindo o período da "Revolução Cultural", o Partido Comunista Chinês usou a violência não apenas como um instrumento de terror contra a população, mas como arma “fundadora” e “regeneradora” do seu regime, capaz de relançar o grandioso projecto revolucionário do marxismo-leninismo . Como a União Soviética, a China comunista também produziu seu sistema de campos de concentração, que Jean-Luc Domenach chamou de "arquipélago esquecido ": cerca de mil campos de trabalho em grande escala, além de uma miríade centros de detenção. Dezenas de milhões de pessoas - cinquenta milhões no total até meados da década de 1980 - pereceram no que Harry Wu chamou de Laogai (que significa "lugar nenhum") . O risco de perder a vida parece ser maior do que nos campos soviéticos. A maioria dos prisioneiros é presa lá pelo motivo de "reforma pelo trabalho" ou, para usar a frase de Harry Wu, "recuperação pelo trabalho". Alguns compararam essa escravidão de indivíduos no campo chinês ao comércio de escravos e sua escravidão pelas potências europeias. Mas entre esses dois sistemas continua a haver uma grande diferença. No caso do comunismo chinês, a sujeição do homem se dá sob o pretexto de sua "reeducação": sua detenção não é propriamente um castigo, mas uma oportunidade de se reabilitar, de se aproximar do ideal deste "novo homem". Que o Partido quer reproduzir em milhões de cópias. Todo o sistema, portanto, visa criar em todos umsubmissão absoluta, como evidenciado por estas palavras assustadoras: "Por favor, permita-me mostrar arrependimento que tenho minhas falhas por trabalhar nos campos . " 59
60
61
62
O paradigma do “Kampuchea democrático” No Camboja, o Khmer Vermelho de Pol Pot queria ir ainda mais longe e especialmente mais rápido do que seus emuladores chineses e soviéticos. Entre 1975 e 1979, o “Kampuchea democrático” (novo nome dado ao Camboja comunista) constituiu, por assim dizer, o paradigma desta destrutiva engenharia social, à escala de um país. Além de seu desejo feroz de derrubar o odiado regime do Marechal Lon Nol, apoiado pelos Estados Unidos, seu objetivo é construir uma sociedade inteiramente nova, da qual os "velhos" Khmer (principalmente os camponeses incultos) constituem o base e a expressão mais autêntica. Assim, o Khmer Vermelho pretende destruir todos os sinais da civilização moderna do "novo povo", residindo sobretudo nas cidades, e mais geralmente tudo o que incorpora a burocracia e tecnologia ocidentais. Portanto, tomaram a decisão radical de esvaziar literalmente as grandes cidades do país, começando pela capital, Phnom Penh, assim que ela caísse sob seu domínio (17 de abril de 1975). Esta ação surpreendente, que coloca em poucas horas vários milhões de pessoas nas estradas (incluindo doentes e idosos), apresenta para eles a vantagem de destruir o tecido urbano dentro do qual poderiam ter evoluído seus inimigos políticos. Mas, de forma mais "positiva", por assim dizer, é baseada na ideia de construir uma nova sociedade e uma nova economia, colocando todos os cambojanos para trabalhar na lavoura de arroz e na lavoura. A partir de então, o país, completamente isolado do mundo exterior, torna-se um enorme campo de trabalho onde as causas de morte são múltiplas: é claro, execuções de capital, mas também trabalho pesado, marchas forçadas, fome, doenças, etc. Para Ben Kiernan, devemos também levar em consideração a visão racista do Khmer Vermelho que os leva a querer eliminar grupos religiosos ou étnicos, como a minoria muçulmana
(os Chams) . Mas daí para a afirmação de que esse racismo é a própria essência do regime de Pol Pot, há um passo importante que Steve Heder, outro especialista no Camboja, não quer dar. Segundo ele, o princípio fundador do regime de Pol Pot continua sendo o marxismo-leninismo inspirado no modelo do “irmão mais velho” chinês: um projeto específico de rápida modernização que visa o glorioso advento do sistema comunista no Camboja. É, portanto, no quadro deste projeto político radical que aqueles que foram percebidos como capazes de se opor foram estigmatizados em termos de “raça”. Além disso, assinala Heder, da União Soviética à China, a marcha para o advento do comunismo foi feita em detrimento de muitas minorias nacionais. O extraordinário regime de terror que reinava no “Kampuchea Democrático” não era, portanto, o resultado de um simples racismo; resultou do esforço de implementar uma política marxista-leninista . Tal como na China, a dimensão “recuperação dos indivíduos” é essencial, uma vez que as sessões de reabilitação obrigatórias são programadas no local de trabalho. Não importa se as pessoas estão à beira da exaustão e muitas vezes morrendo de fome. A salvação do “novo povo” assenta nesta ideia de conversão individual à doutrina comunista que, aos olhos de François Bizot, foi enxertada na estrutura religiosa herdada do budismo Khmer . 63
64
65
Destrua para erradicar A segunda dinâmica é completamente diferente, a da destruição-erradicação. Seu objetivo não é tanto a submissão dos indivíduos a uma política de poder quanto a eliminação de uma coletividade de um território, mais ou menos vasto, controlado ou cobiçado por um Estado. É sobre“limpar” ou “purificar” este espaço da presença de um Outro considerado indesejável e / ou perigoso. É por isso que a noção de erradicação parece particularmente relevante: sua etimologia remete à ideia de "cortar as raízes", de "extrair da terra", em suma "arrancar", como se diria de uma planta. doença prejudicial ou contagiosa. Esse processo de destruição-erradicação, de caráter identitário, também pode estar associado à guerra de conquista. Este é o próprio significado da expressão popular: "Saia daqui, deixe-me começar!" Também aqui o processo de massacre, associado ao saque e à violação, é o meio de se fazer compreender, de apressar a partida deste Outro considerado indesejável. Assim, a destruição parcial do grupo e o efeito de terror que dela resulta provavelmente provocarão e acelerarão essas partidas. Esse foi o processo usado pelos colonizadores europeus na América do Norte contra as populações indígenas, empurrando-as cada vez mais para o oeste, além do Mississippi. As palavras de um dos pais da nação americana, o presidente Thomas Jefferson, são inequívocas a esse respeito: "Se formos forçados a levantar o machado contra uma tribo, nunca devemos largá-lo até que essa tribo seja exterminada. ou empurrado para além do Mississippi. Na guerra, eles vão matar alguns de nós. Devemos destruir todos eles . " Nos Bálcãs, esse movimento forçado de populações expulsas de um território foi chamado de "limpeza étnica" ou "limpeza étnica" no início da década de 1990, para descrever as várias operações realizadas principalmente pela Sérvia e Croácia, a fim de fugir de populações indesejadas. Mas os processos utilizados (assassinatos, queima de aldeias, destruição de edifícios religiosos ...) pertencem a práticas anteriores nesta área, pelo menos desde o XIX século no contexto da ascensão do nacionalismo e do declínio do Império Otomano. A limpeza étnica tem sido praticada por todos os movimentos nacionais nos Balcãs, seja na Grécia, Sérvia, Montenegro 66
th
ou Bulgária. As guerras balcânicas do início do XX século estão nesta continuidade, observadores já está falando no momento do "extermínio de civis ." Em alguns casos, a reputação "purificatrice ”de um exército é tal que os habitantes abandonam as aldeias com antecedência, antes de sua passagem . Tendo se originado nos Estados Unidos e Europa Ocidental United, o massacre de práticas associadas com a formação de um Estado-nação tem espalhados por todo o mundo, progredindo de oeste para leste para as XIX e XX séculos, em seguida, sudoeste para o XX século (descolonização na Ásia, América do Sul e África). Este movimento geral ainda parece longe de terminar, dadas as aspirações nacionais ainda muito fortes de alguns povos em todo o planeta. Tudo se passa como se este Estado moderno, entendendo-se como um “eu” homogêneo, um “nós” imaginado em bases políticas, étnicas e / ou religiosas, tendesse necessariamente a se construir contra um Outro a ser expulso, mesmo a ser destruído. Nesse caso, a figura do inimigo passa a ser a desse "Outro em excesso", julgado ao mesmo tempo muito diferente de si mesmo - do eu coletivo - e muito numeroso no território cobiçado. A formação do Estado de Israel no final da década de 1940 não foi exceção a essa dinâmica política fundadora. Certamente, a história é único por causa da longa perseguição dos judeus, até a tentativa de sua destruição total XX século pela Alemanha nazista. Nesse sentido, a criação de um estado hebraico, destinado a dar segurança definitiva aos judeus, constitui um antes e um depois em sua história milenar. Mas, como em muitos casos, essa construção do Estado se deu à custa de um Outro precisamente percebido como indesejável. Assim, uma nova escola de historiadores israelenses trouxe à luz a realidade das expulsões e massacres de palestinos perpetrados em 1948 por unidades militares israelenses, sendo as mais conhecidas as de 9 de abril de 1948 em Deir Yassin e 11 de julho de 1948 em Lod e Ramleh . Em sua Nova História de Israel , o cientista político Ilan Greilsammer mostra como esses fatos vêm quebrar os mitos históricos sionistas, como aquele que quer que os árabes sejam deixados voluntariamente após uma chamada de rádio de seus líderes . oum mito construído em torno da memória de Joseph Trumpeldor, este pioneiro de origem russa que morreu em combate contra os árabes (para defender os primeiros assentamentos judeus no norte da Galiléia), também não resiste ao método do historiador. Antes de perder a vida, durante a batalha de Tel-Haï, teria declarado: “Não importa. É bom morrer pelo nosso país. "Se é verdade que ele foi morto em combate em 1 março de 1920, ele nunca pronunciou tais palavras. Mas "se o mito funcionou tão bem é porque o herói correspondeu perfeitamente ao que se esperava dele ". Na verdade, essas palavras do "valente pioneiro" espalham uma mensagem de sacrifício e coragem, recomendando lutar para conquistar o direito de viver na Palestina. A tradição judaica e Ben-Gurion não disseram que "os camaradas de Trumpeldor [haviam] santificado este país com seu sangue"? Esta inscrição do direito à terra, ancorada na memória do sangue derramado pelos pioneiros judeus, justifica assim em troca uma violência considerada legítima para se manterem fiéis à sua memória. É, portanto, como se o poderoso mecanismo de violência sacrificial tivesse se firmado na própria fundação do Estado de Israel - e, é claro, às custas daqueles que habitam esta terra, os árabes da Palestina. Posteriormente, essa violência fundadora foi capaz de experimentar momentos aparentes de trégua. Mas assim que reaparece o sentimento de insegurança do lado israelense, a violência contra os palestinos imediatamente ressurge, parecendo ainda mais justificada porque estes também lutam com armas contra aqueles que consideram "ocupantes". Assim, de ambos os lados, os mais radicais consideram que existe um “Outro a mais” num território que querem para si - este Outro, muito próximo, de quem fazem seu inimigo mortal. Assim, os discursos mais extremistas, °
67
68
th
th
th
th
69
70
° de
71
de ambos os lados, partem dessa lógica de exclusão total, característica do dilema da segurança: “Somos eles ou nós. " Esses processos usados na guerra para construir um estado podem depois ser reutilizados na "gestão" interna dos povos. O mesmo ocorre com toda a gama de conflitos étnicos estudados por Andrew Bell-Fialkoff, Norman Naimark, Steven Béla Vardy e Hunt Tooley . Em geral, as novas elites dominantesinstrumentalizar o critério étnico para fortalecer o domínio político de seu grupo sobre todo o país. Em alguns casos, o “Outro Extra” pode ser tolerado, desde que se submeta à lei do grupo étnico dominante ou seja considerado quantitativamente seguro. Após uma guerra, o deslocamento forçado de populações também pode ser organizado. Não se esqueça, por exemplo, após a queda do III Reich em 1945, provavelmente cerca de 16 milhões de alemães foram forçados a deixar os países da Europa Central e Oriental para se juntar à Alemanha agora isolada em dois. Esse foi especialmente o caso dos 3,5 milhões de alemães dos Sudetos, a maioria dos quais viveu lá por séculos. Em menor grau, quase 200.000 húngaros sofreram o mesmo destino em 1945-1946, quando o estado da Tchecoslováquia foi recriado por Edvard Benes, que os forçou a cruzar o Danúbio para chegar à Hungria. Porém, em certos casos, o recurso a uma violência mais radical, ou seja, ao próprio massacre, permite precipitar o movimento de partidas. É claro que tais ações serão apresentadas como atos de legítima defesa, com o objetivo de resolver definitivamente um problema considerado insolúvel. Se tais práticas são impulsionadas principalmente pelas elites governantes, as populações às vezes participam diretamente, como durante os assassinatos recíprocos entre hindus e muçulmanos na época da partição da Índia e do Paquistão, que ocorreu por volta de 1946-1947. 1 milhão de mortes e causou o deslocamento de mais de 100.000 pessoas. O sociólogo americano Donald Horowitz fez um estudo interessante sobre a violência intercomunitária, étnica ou religiosa que eclodiu na Malásia, Quirguistão, Nigéria ou Líbano. Se estes parecem ter nascido de "faíscas" imprevisível, que, no entanto, muitas vezes manipulada e organizada, e às vezes se referem a tradições que remontam ao XIX século, se não antes . 72
e
°
73
Sobre o uso da cirurgia na política Em última análise, a incapacidade do Estado soberano moderno de tolerar grandes minorias dentro de suas fronteiras leva a programas de assimilação forçada ou a operações de “limpeza étnica”. Tudo depende das circunstâncias políticas e do contexto histórico. Mas essa ânsia de tornar uniforme em toda a história do XX século. Como então não incluir o desenvolvimento desse Estado, com suas ambições totalizantes, em uma história mais longa, como Michel Foucault trouxe à luz? Em particular, estou pensando aqui em suas análises sobre o nascimento de um “bio-poder” corporificado neste Estado que monitora, controla, intervém na vida das famílias, identifica e afasta populações perigosas, e assim por diante. Agora, o XX século dá precisamente para ver muito mais do que a implementação deste órgão de controle social. O Estado não se contenta mais em “fiscalizar e punir” . Com a proliferação de práticas de "limpeza étnica", ele dá mais um passo no XX século: para purificar e perseguir as pessoas consideradas indesejáveis ou perigosos . Pois o Estado agora se autoriza a retalhar o corpo social: aplaina sua aspereza, remove os elementos contagiosos e impuros, a menos que os esmague sem maiores escrúpulos; em suma, ele modela o corpo social à sua maneira, à sua ideia . Ele pode ainda mais fazer esse trabalho de jardineiro, ou melhor, de °
th
74
º
cirurgião, político agora tem novos instrumentos de identificação e enumeração (como estatísticas para conhecer a massa e agir sobre ela como quiser) . Nunca antes as autoridades puderam ter essas ferramentas poderosas para administrar as massas (administração), para falar com elas (rádio), para movê-las (trens). Diante dessa grande reformulação política, assistimos, portanto, ao surgimento de uma nova forma de engenharia social , que não consiste mais apenas em subjugar um povo rebelde (como vimos anteriormente), mas em cortá-lo, em destacá-lo. elementos indesejados, para deportá-los, mesmo que isso signifique deixá-los morrer no caminho. Aqui, novamente, a Europa foi o principal local dessas práticas de desenraizamento em massa, que se desenvolveram especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial. É difícil imaginar hoje como, dentro da União Soviética, povos inteiros foram deportados pelo poder stalinista para “áreas de assentamento”, como a Sibéria ou o Cazaquistão. O historiador americano Robert Conquest dedicou um livro pioneiro ao que por muito tempo permaneceu como uma “mancha branca” na história desse período . Os primeiros a sofrer tal destino, em 1940 e 1941, foram os poloneses, os alemães do Volga, os povos dos Estados Bálticos, depois, em 1943 e 1944, o Talmuk, o Ingush, os tártaros, os chechenos, etc. . Esses povos “amaldiçoados” foram vistos por Moscou como perigosos, até mesmo acusados de colaboração com o inimigo nazista. Essas operações de deportação constituíram um atentado particularmente grave à integridade desses povos, ainda que não tenham sido massacrados propriamente ditos. Sua deportação significou de fato seu desenraizamento brutal, transferência esta resultando em uma alta taxa de mortalidade (de 20 a 25%). Nesse sentido, tais operações são de fato parte de uma vontade de erradicar . Tal processo pode assumir uma forma ainda mais extrema, quando os indivíduos são mortos sem sequer terem tido a oportunidade de escapar, ou quando são massacrados no final da sua deportação. Nesse caso, a noção de “território a purificar” torna-se secundária ao objetivo de extermínio total do grupo. O objetivo é então destruir todos os seus membros, incluindo os filhos. Certos massacres coloniais foram provavelmente perpetrados nessa perspectiva, como o dos hererós (Namíbia) pelos colonos alemães em 1904 . Haveria-existem outros exemplos? Esta é uma questão de debate e deve ser apro fondir nosso conhecimento, especialmente o XIX Century . Não há dúvida, porém, de que os líderes da Alemanha nazista foram os que mais avançaram nesse processo de erradicação total. Na verdade, o extermínio dos judeus europeus entre 1941 e 1945, que se seguiu à eliminação parcial dos pacientes mentais alemães, constitui o exemplo paradigmático. A figura essencializada desse “inimigo judeu” é o protótipo desse “outro extra” condenado a desaparecer no grande III Reich ariano completamente “purificado” (livre de judeus) . De forma mais geral, a eliminação dos judeus faz parte deste vasto plano de remodelar toda a Europa, que também inclui, por razões de higiene racial, o assassinato em massa de ciganos e homossexuais, a destruição parcial destes. "Sub-humanos" que são os eslavos; nessas operações, especialistas de todos os tipos (economistas, demógrafos, estatísticos, etc.) desempenham um papel importante, ao lado de “políticos” . Em contextos históricos muito diferentes, um processo de destruiçãoerradicação também foi empreendido em 1915-1916 pelo jovem governo turco contra a minoria armênia no Império Otomano, bem como, em 1994, por extremistas hutus. de Ruanda às custas da minoria tutsi naquele país. Nesse caso, o objetivo não é mais forçar um povo a se dispersar para outros territórios. É uma questão de fazê-lo desaparecer, não só da sua terra, mas a partir da terra, para usar a expressão de Hannah Arendt. 75, pois
76
77
78
th
79
e
80
O paradigma Shoah Nesse estágio final de erradicação total, a noção de "genocídio" pode ser reintroduzida, desta vez como um conceito nas ciências sociais. Em geral, o público em geral considera o genocídio como uma espécie de massacre em grande escala. Quando o número de mortos atingevárias centenas de milhares e ainda mais vários milhões, há razão para falar de genocídio. Mas essa abordagem intuitiva, que tem como critério o grande número de vítimas, não é, no entanto, específica para um empreendimento genocida. Além disso, nenhum especialista pode dizer hoje de qual número de mortes começa um genocídio. O que define este último com mais certeza é um critério qualitativo combinado com este critério quantitativo: o desejo de erradicação total de uma comunidade. É por isso que definirei genocídio como aquele processo particular de destruição de civis que visa a erradicação total de uma comunidade, sendo os critérios disso definidos por aquelas mesmas pessoas que se comprometem a aniquilá-la. Claro, como qualquer definição, esta decorre de uma escolha e pode, portanto, ser contestada. Desejo, portanto, justificá-lo, à luz das amplas categorias de destruição-submissão e destruiçãoerradicação que acabamos de expor. É claro que podemos decidir que a noção de genocídio se aplica a ambas as categorias; que, como vimos, não hesite em fazer certos autores. E porque não ? Mas então, não vamos pedir a essa noção para discriminar de forma alguma. De forma alguma pode servir como ferramenta analítica nas ciências sociais. Sua função é muito mais moral, operando como uma noção “abrangente” para qualificar todos os assassinatos em massa na Terra. Outra opção de definição consiste em reservar a noção de "genocídio" a todos os massacres que visam a erradicação de grupos (e não a sua submissão). Essa escolha é freqüentemente argumentada, e com razão, com base no exemplo dos bombardeios atômicos americanos em cidades japonesas. Na verdade, essas ações não podem ser consideradas operações genocidas, uma vez que os Estados Unidos não pretendiam destruir todos os japoneses, mas obrigar seu governo a se render. No entanto, generalizar esse mesmo raciocínio para assassinatos em massa perpetrados por regimes comunistas é problemático. Se admitimos prontamente que uma operação de guerra não é genocídio (quando conduzida por um estado democrático ocidental), por que isso não se aplica a operações de “guerra civil” empreendidas por um estado comunista contra? sua própria população? Em ambos os casos, entretanto, estamos bem dentro da lógica da destruiçãosubmissão. Mas a natureza ideológica da violência comunista, definida como "totalitária", dá outro“Qualidade” para esse processo de destruição, que então cairia na categoria de genocídio. Na verdade, qualquer poder totalitário seria necessariamente genocida por natureza. A consequência de tal raciocínio é considerável, uma vez que o genocídio seria, então, tanto produto do nazismo quanto do comunismo. Existe uma espécie de equivalência letal entre os dois sistemas: os comunistas empenhados em destruir o inimigo de classe, o regime nazista, o inimigo racial. Esta posição não carece de consistência e é por isso que os seus apoiantes definirão como genocídio, por exemplo, o caso do Camboja de Pol Pot ou a fome na Ucrânia. O historiador francês Stéphane Courtois defendeu isso em sua introdução ao Livro Negro do Comunismo , de maneira mais geral retomando os argumentos do filósofo alemão Ernst Nolte que “relativiza” os crimes do nazismo em relação aos do comunismo . Outros historiadores, entretanto, contestaram tal abordagem . E o próprio François Furet se destaca dessa posição em sua correspondência com Ernst Nolte, quando escreve que “o genocídio se distingue de outras figuras do mal porque tem como alvo homens, mulheres e crianças simplesmente porque eles nasceram assim, independentemente de quaisquer considerações inteligíveis extraídas das lutas pelo poder. O terror 81
anti-semita perdeu toda a conexão com a esfera política na qual se originou ”. Em outras palavras, François Furet observa claramente aqui que a violência nazista contra os judeus não é da mesma natureza que a violência política dos comunistas contra os “inimigos da revolução”. Sem entrar em debates historiográficos excessivamente técnicos, observemos que essa abordagem, que equivale a colocar a equação "totalitarismo = genocídio", dificilmente se preocupa em mostrar as diferenças consideráveis na dinâmica da violência no trabalho dentro de cada sistema. . Na verdade, vimos que as figuras do inimigo, correspondendo por um lado ao processo de destruição-submissão epor outro lado, para o processo de destruição-erradicação, não são todos iguais. No caso de submissão, a figura do suspeito gera uma dinâmica de violência que “varre” todo o corpo social: cada indivíduo torna-se potencialmente um suspeito. Uma vez preso, o suspeito já é o culpado. Porque os critérios que definem o “inimigo do povo” são tão vagos que é a situação concreta da prisão que serve de prova da sua culpa. Por outro lado, no caso da erradicação, o processo de destruição incide sobre a identidade dos indivíduos definidos como pertencentes a este "Outro em excesso". Portanto, é a sua identidade que os trai de antemão: eles são culpados porque nasceram judeus, tutsis ou muçulmanos. Antes mesmo de serem presos, eles já estão condenados. Sua situação é, portanto, exatamente oposta à anterior. A natureza da violência resultante não é a mesma. Longe de ser "flutuante" como no primeiro caso, a violência se concentra nesses alvos precisos que se trata de "extrair" do corpo social contaminado por sua presença. As duas dinâmicas são, portanto, opostas: uma irradia por toda a sociedade; a outra se concentra em um desses grupos que precisa ser destruído. É neste segundo caso que a noção de genocídio assume todo o seu significado, se pelo menos alguém deseja permanecer consistente com a primeira definição de Lemkin, que viu o genocídio como a destruição de um grupo como tal. Aqueles que permanecem hostis a esse tipo de análise ainda podem retrucar: “Você provavelmente está certo, a dinâmica da violência provavelmente é diferente. E daí ? Estamos simplesmente na presença de duas formas distintas de genocídio: a primeira do tipo “político” e a segunda do tipo “identitário”. Além disso, é uma lacuna importante na Convenção de 1948 reconhecer a existência da segunda e não da primeira. A isso, respondo que esse suposto “debate científico” na verdade esconde questões importantes relacionadas à memória e à ação imediata (relembradas no início deste capítulo). A insistência em manter a palavra "genocídio" procede então ou do desejo de não libertar a violência do comunismo da criminalização do genocídio, ou do desejo moral, aliás louvável, de manter um sentido amplo do termo para proteger hoje as vítimas potenciais da repressão política ou social. Mas se nos atermos a uma abordagem mais rigorosa, que deve prevalecer nas ciências sociais, somos forçados a admitirque o uso do mesmo conceito para designar fenômenos diferentes pode induzir confusão lamentável de longo prazo. Isso parece tanto mais necessário quanto esses fenômenos estão freqüentemente entrelaçados na mesma situação histórica. As dinâmicas de submissão e erradicação tendem a coexistir, sendo uma dominante e a outra em segundo plano. Na verdade, eles se complementam visando grupos diferentes. É precisamente o que emerge da comparação entre a Alemanha nazista e a URSS stalinista: o poder nazista genocida começou subjugando e / ou destruindo seus oponentes políticos, enquanto a URSS, depois de ter travado todos os tipos de batalhas contra os "inimigos do povo", empreendeu vastas operações de deportação de povos inteiros, de natureza genocida. Em Ruanda, o genocídio dos tutsis, iniciado por extremistas HutuPower , começou com o assassinato de seus oponentes 82
políticos, eles próprios hutu. Por outro lado, no Camboja, o Khmer Vermelho empreendeu assim que chegou ao poder o massacre de todos os seus oponentes políticos e também iniciou ações para erradicar os grupos que resistem a eles, em primeiro lugar a minoria muçulmana de Chams. O trabalho do pesquisador é justamente discernir essas diferentes dinâmicas da violência, que muitas vezes são complexas porque podem não só estar entrelaçadas, mas também evoluir com o tempo, passando, por exemplo, da submissão à erradicação. Regimes políticos? Mas se o termo "genocídio" não é apropriado para qualificar os crimes do comunismo, que outro conceito propor? O do "clássico" parece atraente, vindo como uma contrapartida à noção de "genocídio". Mas não reflete o fato de que os regimes comunistas, além de sua intenção de destruir "classes" cuja realidade é elusiva (o que é realmente um "kulak"?), Conseguem erguer o princípio a suspeita política como regra de governo, já que cada indivíduo pode ser acusado de desvio ideológico, inclusive dentro do Partido (e talvez até primeiro dentro do Partido). A noção de “fratricídio” é, sem dúvida, mais apropriada a este respeito. O do "politicídio", proposto por Ted Gurr e Barbara Harff, ainda é o mais judicioso, embora implique, em contraste, que o do "genocídio" não é "político" (o queé questionável). Esses autores explicam que o próprio objetivo do politicídio é impor a dominação política total de um grupo ou poder, sendo as vítimas definidas de acordo com seu lugar na hierarquia social ou sua oposição política ao regime ou ao governo. este grupo dominante . Tal abordagem se aplica bem à violência política das potências comunistas e, mais particularmente, ao “Kampuchea democrático” de Pol Pot; isso também é enfatizado pelo historiador francês Henri Locard, que se reconhece na abordagem de Gurr e Harff em sua obra sobre o Camboja . No entanto, o termo “politicídio” tem pouco crédito aos olhos de alguns, uma vez que não tem valor jurídico no direito internacional. Esta é uma das razões pelas quais Jean-Louis Margolin caminha no sentido do reconhecimento de um “genocídio” no Camboja, pois sublinha que falar neste caso de “politicídio” equivaleria a considerar que os crimes de Pol Pot são "inferiores" aos de Hitler . Mais uma vez, o peso da justiça interfere nesse debate de conceitos, o que, mais uma vez, inclina fortemente a balança na direção da palavra “genocídio”. Mas aqueles que assim se preocupam com a questão das sanções penais devem também levar em conta outro conceito jurídico, tão poderoso e ainda mais antigo: o de "crime contra a humanidade". Na verdade, juristas como Antoine Garapon e David Boyle acreditam que a violência cometida pelo Khmer Vermelho é muito mais um crime contra a humanidade, ainda que aí se possam detectar tendências genocidas, em particular contra a minoria muçulmana . No entanto, esta incriminação é tão grave como a do genocídio (o último sendo, aliás, por vezes considerado uma categoria do primeiro) e deve, portanto, ser sujeito a penas de igual gravidade. De minha parte, sinto-me próximo desses juristas, considerando que a noção de “crime contra a humanidade” qualifica melhor a violência em geral.perpetrada por regimes comunistas, opinião partilhada por Michael Mann . 83
84
85
86
87
De "limpeza étnica" a "genocídio" Aplicar a noção de "genocídio" a todos os processos de erradicação de destruição apresenta outro tipo de problema. Na verdade, não mais discerniríamos as diferenças de intensidade
destrutiva e radicalismo entre o que aqui foi chamado de “limpeza étnica” por um lado e “genocídio” por outro. No entanto, as conquistas da reflexão comparativa desenvolvida neste trabalho apontam na direção de tal distinção. Vimos que a violência étnica na Bósnia conhece certos limites, ao passo que já não parece ter qualquer restrição na Europa nazista ou em Ruanda (cf. capítulo IV ). É por isso que a distinção entre "limpeza étnica" e "genocídio" parece relevante para mim, como também argumentado por autores como Norman Naimark ou Michael Mann. Este último também desenvolveu uma graduação desse processo de destruição em seis níveis, indo até o extermínio físico do grupo: 1) assimilação forçada ; 2) assimilação biológica (leis que restringem casamentos, esterilização); 3) emigração coagida ; 4) deportação; 5) purificação por assassinato (limpeza assassina) e assassinatos organizados; 6) genocídio (que é raro em seu para sempre antes do XX ) . Mas a Convenção de 1948 ignora essas observações sócio-históricas, o que é outra fonte de confusão. EsteCom efeito, tende a "esmagar" esta distinção, visto que considera, no seu artigo 2º, que existe genocídio quando existe a intenção de destruir um grupo no todo ou em parte. Portanto, qualquer operação de “limpeza étnica” poderia ser legalmente definida como crime de genocídio. Os juízes do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia também se basearam neste artigo, na sentença proferida em 2 de agosto de 2001 contra o general Radislav Krstic, por seu envolvimento na organização do massacre de muçulmanos em Srebrenica entre em 11 e 16 de julho de 1995. Essa sentença, confirmada em recurso em 19 de abril de 2004, abre um novo caminho no reconhecimento legal de certos massacres como genocídios. Com efeito, os juízes de Haia consideraram que o de Srebrenica atestava "a intenção de destruir pelo menos uma parte substancial do grupo protegido", nomeadamente a de todos os muçulmanos da Bósnia. Seu raciocínio não falta coerência, mas poderia ser igualmente discutido, na medida em que permanecem relativos os critérios propostos para afirmar que uma parte “substancial” do grupo foi destruída . Seja como for, esta decisão do ICTY marca um importante desenvolvimento no direito internacional. Existe agora uma lacuna considerável entre o reconhecimento do crime de genocídio de todos os massacres de tutsis em Ruanda, que causou cerca de 800.000 vítimas em três meses em todo um país, e o reconhecimento da mesma incriminação pelo massacre. , em uma única cidade, 8.000 homens em poucos dias. O julgamento do ICTY, portanto, amplia consideravelmente a potencial criminalização do genocídio em conflitos contemporâneos. Pois um assassinato em massa como o de Ruanda, felizmente, não acontece todos os dias. Por outro lado, massacres como o de Srebrenica infelizmente são mais frequentes. Se este julgamento do ICTY estabelecer assim um precedente, outros massacres deste tipo serão consequentemente qualificados no futuro como genocídio. Esse desenvolvimento virá, então, a reivindicar pesquisadores como o cientista político americano Robert Melson que, baseando-se precisamente na convenção dea ONU propôs distinguir entre “genocídios parciais” e “genocídios totais” . Outros pesquisadores e juristas, no entanto, não compartilham dessa posição: eles argumentam que o que Melson chama de "genocídio parcial" muitas vezes equivale a incluir no termo genérico de "genocídio" processos específicos de destruição que eles preferem designar por um termo diferente, o de "limpeza étnica", como, por exemplo, Antonio Cassese e os membros da comissão de inquérito das Nações Unidas sobre Darfur (citados acima). e
89
90
88
A análise comparativa, é verdade, não permite realmente que essas noções sejam confundidas. É certo que “limpeza étnica” e “genocídio” estão situados no mesmo continuum de erradicação da destrutividade. Pode-se até dizer que na dinâmica de uma limpeza étnica pode surgir, em certos lugares, um impulso erradicante mais intenso, como na Bósnia, em Srebrenica. Mas o genocídio é claramente distinto da limpeza étnica em termos do destino final das vítimas. Com efeito, no caso da limpeza étnica, se os indivíduos forem parcialmente massacrados, outros ficam com a possibilidade de fugir. Por outro lado, no caso do genocídio, todas as portas de saída estão fechadas, como Helen Fein observou . É por isso que a fórmula que ainda melhor caracteriza o paradigma genocida não é mais apenas “purificar e caçar”. Um limiar qualitativo foi ultrapassado: agora é uma questão de purificar e destruir . Embora restritiva, esta definição de genocídio é baseada na abordagem inicial de Raphael Lemkin, pelo menos na "essência de sua definição", como diria Eric Markusen, ou seja, a destruição de um grupo. como tal . No entanto, nossa abordagem faz duas rupturas com o trabalho anterior. Em primeiro lugar, não émais obviamente, começar da direita. Prevalece a abordagem inversa, nomeadamente o estudo da natureza dos processos de extrema violência no trabalho numa dada situação histórica para determinar - em última instância - se o processo de destruição visa a erradicação total de uma comunidade. Em outras palavras, a possível qualificação de “genocídio” vem ao final da análise do pesquisador: cabe a ele então comparar sua abordagem com a do jurista. A outra mudança é a própria maneira de definir a noção de genocídio. Falar em “processo” ou “evolução” é apreender o genocídio como uma dinâmica específica da violência . Trata-se, portanto, de uma ruptura com abordagens descritivas, quase estáticas, hoje dominantes neste campo de estudo. Na verdade, estes se qualificam como "genocídio" um ato ou um evento por meio de uma bateria de itens: a , b , c , d ... Abordagens que são precisamente herdeiras da lei e explicitamente da Convenção das Nações Unidas ( veja a caixa acima ). Portanto, seria sempre melhor falar de processo genocida , para insistir nesta dinâmica particular de destruiçãoerradicação . 91
92
93
Destrua para se rebelar Finalmente, vamos distinguir um terceiro uso possível do massacre, principalmente por atores não-estatais (ou pelo menos supostamente). Nesse caso, o objetivo é atingir o grupo-alvo de vez em quando para provocar nele um choque traumático intenso, que provavelmente influenciará a política de seus líderes. Como os organizadores do massacre sabem que são minoria na sociedade em que atuam, o recurso a este processo espetacular já lhes permitiu afirmar-se na cena pública para promover a sua causa. Quer reivindiquem a responsabilidade ou permaneçam anônimos, eles acreditam que os efeitos políticos dessa ação de destruição podem pesar sobre os tomadores de decisões políticas, por exemplo, criando uma crise de instituições ou bloqueando um desenvolvimento político que desaprovam. A prática do massacre é, portanto, claramente parte de uma estratégia de contra-poder, de resistência a uma política de Estado. Entender-se-á: o que aqui se descreve está na base das chamadas ações "terroristas", cujo denominador comum, o historiador israelense Ariel Merari, acredita estar justamente baseado em uma estratégia de insurgência . O interesse da palavra "insurgência" é duplo: por um lado, trata-se de criar uma insurreição violenta contra um sistema 94
odiado; por outro lado, é uma questão de “auto-insurgência”, no sentido de que se espera que a prática do massacre desencadeie uma dinâmica emancipatória das “massas”. Porque a ação deve ter um efeito cascata, não só de bloqueio político, mas também de "desbloqueio", atraindo novos militantes e, de forma mais geral, favorecendo o "distanciamento" da população de seus dirigentes. A retórica do terrorismo A palavra "terrorismo" é a mais adequada para designar essa forma de ação coletiva voltada para a destruição-insurgência? A considerável carga emocional associada a ele torna a análise particularmente delicada. Na verdade, a apreensão da noção de "terrorismo" apresenta o mesmo tipo de problemas que a de "genocídio"; encarnações do mal contemporâneo na política, ambas pertencem à retórica da propaganda dos atores em conflito. Por isso é muito difícil libertar-se desta instrumentalização política do termo "terrorismo", a que tantas vezes recorrem as autoridades para estigmatizar os seus adversários, acusando-os de matar inocentes. Em 1942, lembramos que os combatentes da resistência anti-nazista foram qualificados como "terroristas" pelos ocupantes alemães. E noNo Chile do general Pinochet, todos os adversários da ditadura também foram acusados de "terroristas". Tais manipulações políticas parecem desqualificar totalmente o uso dessa noção. Para o cientista político francês Didier Bigo, “o terrorismo não existe: ou, mais exatamente, não é um conceito utilizável pelas ciências sociais e pela estratégia ”. A Anistia Internacional também se abstém de usá-lo em seus relatórios anuais sobre violações dos direitos humanos em todo o mundo. Porém, pode o analista apartidário prescindir completamente de se referir a ela, nem que seja para explorar o significado desta palavra, a fim de saber se, sim ou não, ela permite designar um determinado uso do massacre? na política (seja qual for a causa defendida)? Esforçando-se para se libertar do julgamento moral, Anthony Oberschall procurou apreender o que se denomina “terrorismo” à luz da teoria da ação coletiva . Por sua vez, o sociólogo Michel Wieviorka define o terrorismo como “uma forma extrema e decomposta de anti-movimento social”, em que os atores se desviam da experiência vivida por aqueles em cujo nome atuam . Nesse sentido, o terrorismo e a guerra de guerrilha devem ser distinguidos, na medida em que seus atores são, em princípio, como peixes na água dentro da população com a qual estão lutando. Nesse sentido, a definição de terrorismo de Walter Laqueur, muitas vezes citada, não é suficiente: “o uso de violência mascarada por um grupo para fins políticos ” . Isso pode, de fato, manter uma grande confusão entre o terrorismo e qualquer forma de violência política, que então entrariam na mesma categoria (sejam ações de guerrilha, ou mesmo - por que não? - manifestações proibidas). Porque, então, qualquer violência ilegal constituiria um ato terrorista, podendo os Estados sem complexo criminalizar qualquer oposição ao seu poder, como o presidente da Rússia, Vladimir Poutine, que qualifica de “terroristas” todos os combatentes chechenos . Agora oO principal objetivo das guerras entre atores estatais e não estatais não é determinar, enfim , quem será legal ou não? A história oferece muitos exemplos de combatentes que, após serem considerados terroristas, tornaram-se chefes de Estado. A evolução de um Menachem Begin é exemplar aqui. Enquanto a Palestina estava sob mandato britânico, em 1943 ele assumiu o comando da Irgun , uma organização clandestina ultranacionalista, que foi responsável, em julho de 1946, por um ataque ao Hotel King David (sede da secretaria do Governo britânico), que matará mais de 90 pessoas. 95
96
97
98
99
Quando o Estado de Israel foi criado, sua organização foi incorporada ao exército israelense, Tsahal. Assim, ele continuará sua carreira militar antes de se tornar primeiro-ministro de seu país. Ficar imaginando se a palavra "terrorista" não significa todos aqueles que não conseguem obter o poder. Em qualquer caso, a referência ao estatuto jurídico dos actores é, portanto, irrelevante para a resolução de um problema relacionado com a natureza dos actos violentos cometidos. Essa distinção “legal / não legal” tende a se tornar ainda mais confusa nos casos em que Estados internacionalmente reconhecidos fornecem apoio logístico e financeiro a grupos terroristas que operam em outros países. À sombra de sua legalidade internacional, o Estado pode orquestrar perfeitamente e controlar remotamente ações ilegais e violentas. Foi o caso do Irã do aiatolá Khomeini, que havia dado seu apoio às operações do Hezbollah, organizando diversos ataques na França em 1986 (sem dúvida com o objetivo de obrigar Paris a adotar uma posição mais favorável a Teerã no Guerra Irã / Iraque). Da mesma forma, na década de 1990, o Afeganistão serviu de base para o saudita Osama bin Laden, acusado em particular de ser o patrocinador das operações realizadas em 1998 contra as embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. Finalmente, como vimos, o terrorismo primeiro designou historicamente uma política de Estado, no contexto da Revolução Francesa. Antes de qualificar, como é o caso hoje, lutadores sem fé ou lei, o significado primário desta palavra era, portanto, descrever uma prática governamental, o terrorismo de Estado , baseado em uma política de terror, que está incorporado de uma formapara governar ou para fazer a guerra. Na verdade, todas as práticas de submissão à destruição descritas acima fazem parte dessa lógica terrorista. Merari não hesita em escrever sobre o bombardeio estratégico de cidades durante a Segunda Guerra Mundial: “O lançamento de bombas nucleares [em Hiroshima e Nagasaki] também pode ser considerado um exemplo de terrorismo, embora em uma escala muito grande . " A partir daí, para pensar que existe um vínculo de parentesco entre os processos de destruição operados pelos Estados e os iniciados pelos grupos e redes não estatais, resta apenas um passo, que dá em particular a cientista política francesa Isabelle Sommier. . Ela acredita que o terrorismo (que ela prefere chamar de "violência total") é na realidade uma imitação e uma reinvenção dos modos de destruição de civis, que os Estados iniciaram em maior escala. É por isso que uma reflexão final sobre o terrorismo me parece ter seu lugar em um livro que trata de genocídios e outros assassinatos em massa. É claro que os "pequenos" massacres do primeiro não são realmente comparáveis aos "grandes" massacres do segundo. O fato é que existem ligações históricas e políticas entre eles. O que hoje chamamos de “terrorismo” seria, em última instância - em pequena escala - apenas o “duplo monstruoso” da política dos Estados terroristas, um produto típico de nossa modernidade . Para definir o terrorismo pela própria natureza dos atos cometidos, contemos já com a etimologia da palavra, como propõe Christian Mellon: “Todo ato de violência é terrorista cujo objetivo principal é inspirar intenso medo, para colher os benefícios políticos desse medo. Nesse sentido, a forma mais clássica de terrorismo é o chamado ataque “indiscriminado”, que ataca aleatoriamente uma população, sem atingir ninguém em particular. Porque se a violência ocorre ao acaso, todos se sentem ameaçados. A expressão “terrorismo cego” é, em suma, um pleonasmo . É por isso que não conheço melhor definição de terrorismo do que esta: aação terrorista é aquela que visa matar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Permite a passagem para diferenciar o terrorismo do tiranicídio, que é, por definição, politicamente altamente direcionado. Nesse sentido, é errado considerar a seita dos Assassinos como um dos primeiros terroristas da história, já que atacou representantes do poder e não o que hoje chamamos de populações civis. . 100
101
102
Na verdade, eles nunca se entregaram a massacres indiscriminados e nunca visaram estrangeiros. Eles realizaram ataques direcionados: políticos, soldados, religiosos pertencentes ao aparelho sunita . Na verdade, uma ação terrorista se enquadra na categoria das chamadas estratégias "indiretas", enquanto uma estratégia "direta" ataca as forças de combate opostas. “A violência terrorista é 'indireta' no sentido de que não visa atingir seus objetivos eliminando esta ou aquela categoria de pessoas, mas influenciando a vontade política do adversário: o combatente terrorista pressupõe - muitas vezes erroneamente , mas essa é outra questão - que a população, aterrorizada por seus ataques, exercerá sobre seus líderes tal pressão política que eles cederão às suas demandas em troca de uma suspensão deste terror . Para dar um ótimo poder político a essa dinâmica de confronto indireto, o ato terrorista baseia-se em uma estratégia de comunicação pública, passível de multiplicar seu impacto. Na verdade, é difícil imaginar uma ação terrorista sem espectadores. Justifica-se, portanto, falar de conexão terrorista justamente por causa dessa presença necessária de um terceiro para assustar . A caixa de ressonância pública da mídia é, portanto, essencial para a eficácia da ação terrorista. O próprio objetivo é despertar, por meio de um "pequeno massacre" e de surpresa, uma enorme emoção pública que estilhaça um processo político em curso. Em 1994, o movimento Hamas lançou, por exemplo, ataques suicidas, como último recurso, para sabotar o laborioso processo de paz israelense-palestino. O enorme impacto na mídia desses ataques em Israel dá crédito imediatamente a qualquer um que pensasse que era decididamente "impossível confiar nos palestinos". Ao organizar sua ação para que tenha o máximo efeito emocional, os militantes terroristas instrumentalizam antecipadamente os meios de comunicação, principalmente aqueles que podem fornecer imagens ao vivo: os canais de televisão. Porque estes, em busca do público mais importante, estão em busca de eventos excepcionais, através dos quais o público possa se reconhecer, comungar em uma emoção compartilhada, seja de compaixão ou de medo. . O espetáculo de sofrimento e morte representa uma daquelas situações particularmente favoráveis à mídia televisiva. Por razões, portanto, completamente diferentes, o terrorismo e os meios de comunicação se encontram, tendo assim uma relação muito ambígua. O que poderia ser mais extraordinário do que a teatralização de sua causa pelo espetáculo da morte ao vivo? Um espetáculo que, aliás, pode manter suspense e, portanto, manter o público em suspense quando, por exemplo, a vida dos reféns está em jogo. A mídia, ao condenar o atentado terrorista que acaba de ocorrer, se mostra portanto, fascinado por ele. E o loop frequente de imagens em telas pequenas é a melhor maneira de aumentar a emoção do público. 103
104
105
O paradigma de 11 de setembro de 2001 O exemplo prototípico dessa junção quase fusional entre a ação terrorista e a mídia televisiva é o dos atentados suicidas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. A destruição do World Trade Center, as Torres Gêmeas de Manhattan, pelo impacto sucessivo dos dois aviões é de fato um caso extraordinário de livro didático, que faz coincidir a violência dos choques em uma sequência muito curta, o efeito estético quase cinematográfico. o colapso detorres, tudo significando a tragédia absoluta, já que o espectador sabe que milhares de pessoas estão presas ali. Nesse caso, atingimos a própria quintessência de uma estratégia terrorista do ponto de vista de sua repercussão midiática: esse momento único em que o tempo do assassinato em massa se confunde
com a instantaneidade de sua difusão internacional. A ação terrorista aqui é um produto extraordinário da globalização da comunicação. A este respeito, talvez não tenha sido suficientemente assinalado que a “originalidade” mediática deste acontecimento se deve sobretudo ao impacto do segundo plano. Com efeito, para choque do primeiro aparelho, as imagens veiculadas pelos canais de televisão são sempre as de “reflexão tardia”. Ficamos em uma sequência já conhecida do ato terrorista quando uma bomba acaba de explodir em um local público e um momento depois, uma equipe de televisão chega ao local para filmar os estragos. Mas, com o choque do segundo plano, a mídia inédita é total, pois o telespectador vê e ouve atingir seu alvo em tempo real. Em outras palavras, ele está realmente testemunhando um massacre ao vivo. Nunca, que eu saiba, um assassinato em massa foi "capturado" dessa maneira por câmeras de televisão que projetam imediatamente imagens em todo o mundo. A respeito de Ruanda, às vezes foi escrito que foi o primeiro genocídio a ser divulgado. No entanto, nada confirma essa afirmação. Se algumas imagens raras de assassinatos foram mostradas, foi depois do genocídio. Quanto às imagens de vídeo das bombas lançadas pelos pilotos norte-americanos contra o Iraque em 1991, durante a primeira Guerra do Golfo, não mostraram nada de seu impacto final, ou seja, de seus efeitos de destruição no solo. . Seus traços luminosos nas telas tinham um efeito mais estético do que uma angústia. Os organizadores do 11 de setembro buscaram conscientemente que a chegada do segundo avião fosse filmada, as equipes de televisão já se mobilizando com o impacto do primeiro? Ou é uma questão de acaso, de uma conjunção fortuita de fatores? Sem dúvida, nunca saberemos. Em qualquer caso, o efeito de espanto foi total e a repetição das mesmas imagens continuamente ajudou a intensificar seu potencial traumático. A projeção intangível dessas imagens causou, de fato, um verdadeiro terremoto emocional em todo o mundo ocidental . Tremor de terraemocional cujo epicentro é obviamente onde o impacto ocorreu: nos Estados Unidos. É também revelador que o próprio local do desastre fosse chamado pelos americanos de Ground 0 , nome que o físico Julius Robert Oppenheimer havia dado ao local de experimentação da primeira bomba atômica, no deserto do Novo México, três semanas antes de ser largado pelos Estados Unidos em Hiroshima. Em outras palavras, essa expressão significa na consciência americana a catástrofe absoluta, a destruição apocalíptica de vítimas inocentes. O uso do Ground 0 ainda pode significar um retorno do reprimido, algo como uma má consciência: o que a América fez aos outros (os japoneses), aqui ela mesma é a vítima. Apresentar tal equivalência certamente não faz sentido do ponto de vista da estratégia: não se pode comparar 9 de agosto de 1945 com 11 de setembro de 2001. Mas do ponto de vista das representações coletivas, a expressão Ground 0 , Até mesmo o colapso das Torres Gêmeas diz muito sobre a profundidade do trauma sentido por toda a nação americana. O que exatamente os organizadores desses atentados suicidas queriam, o que nenhum comunicado de imprensa veio reivindicar? Alguns observadores têm insistido na ruptura de sentido que constituiria esses ataques perpetrados fora de qualquer contexto nacional e social. Nada a ver de fato com as demandas políticas do terrorismo basco ou irlandês, ou revolucionário como a Fração do Exército Vermelho (FRG) e as Brigadas Vermelhas (Itália). Estamos lidando aqui com terrorismo transnacional, aparentemente descontextualizado, com demandas políticas vagas. Outros analistas, no entanto, argumentaram que as operações de 11 de setembro tinham um significado político, intimamente relacionado ao desenvolvimento do terrorismo religioso no Oriente Médio, que se desenvolveu desde a revolução islâmica de 1979 no Irã. Eu dificilmente tenho as habilidades para resolver tal debate. No entanto, meu trabalho sobre o massacre me leva 106
a dar grande importância aos discursos públicos daqueles que então se identificam com tais ações, ou mesmo em troca.indicar responsabilidade. Desse ângulo, as palavras do saudita Osama bin Laden fornecem uma "estrutura de significado" a essas operações suicidas que é essencial decifrar; especialmente porque este último já havia clamado abertamente por ataques contra os americanos (e ocidentais em geral), tendo até assumido a responsabilidade por alguns deles no passado próximo . Portanto, o texto de sua mensagem de vídeo transmitida em 7 de outubro pela emissora de televisão do Catar Al-Jazeera é particularmente interessante, pois é sua primeira “aparição” pública desde os ataques em Nova York e Washington. Neste período em que os Estados Unidos já estão preparando sua "resposta" (intervenção militar no Afeganistão), Bin Laden busca amedrontar o Ocidente (principalmente os americanos), por um lado, e galvanizar os Massas árabes-muçulmanas, por outro lado. Permanece bem em linha com suas declarações anteriores, nas quais lançou um apelo à guerra santa (jihad) , apelo que renovou quinze dias após os ataques . Suas palavras em fevereiro de 1998, quando a Frente Islâmica Internacional contra os Judeus e os Cruzados foi criada, são particularmente reveladoras de seu estado de espírito e de sua nova organização: "Apelamos a todos os muçulmanos que acreditam em Deus que matem Americanos e saqueiam suas riquezas, onde e sempre que possível. Convocamos todos os muçulmanos a atacar as tropas satânicas americanas e seus demônios aliados. A ordem de matar americanos é um dever sagrado com o objetivo de libertar as mesquitas de Al-Aqsa e Meca. " 107
108
A mensagem de vídeo do "profeta" Bin Laden (7 de outubro de 2001) Aparecendo na tela em uniformes militares, Bin Laden associa desde sua primeira frase Deus e a morte: “Aqui está a América atingida pelo Deus Todo-Poderoso. Por que a América é tão atacada pela mão divina? Notemos primeiro que alguns de seus argumentos não carecem de certa relevância quando ele enfatiza as responsabilidades do Ocidente em várias situações de violência. Assim, ele observa que o Ocidente em geral pouco valoriza o sofrimento e a morte nos países do Sul, tomando como exemplo em duas ocasiões o das crianças iraquianas (o que obviamente não é coincidência). . Ele também lembra que os próprios Estados Unidos recorreram a métodos de guerra sem distinguir entre combatentes e não combatentes, citando o caso do bombardeio nuclear de Hiroshima (que, novamente, não é uma escolha inocente). Bin Laden tenta aqui tocar a má consciência americana, tendo em vista a responsabilidade histórica dos Estados Unidos no ataque atômico às cidades japonesas. De forma mais ampla, ele busca a simpatia daqueles que podem pensar, inclusive no mundo ocidental, que os americanos só têm o que merecem, que o buscaram, etc. Como se fosse uma questão de alegria pelo fato de a principal potência mundial ser, pela primeira vez, vítima de tal massacre. Bin Laden afirma neste sentido: “O que a América está experimentando agora é apenas uma cópia do que vivemos. Reconhecemos aqui o discurso usual do carrasco que confia nas atrocidades reais ou supostas do outro campo para justificar as suas. O discurso de Bin Laden então começa em uma ladeira verdadeiramente delirante, tomando emprestado do repertório do terrorismo religioso. Mais de vinte anos antes, o aiatolá Khomeini já havia usado amplamente o tema da “América Satânica” para mobilizar multidões em apoio à sua causa, no contexto da Revolução Iraniana. O discurso de Bin Laden pretende ser internacional, se não global. Portanto, a fonte primária do mal, afirma ele, é o “símbolo do paganismo do mundo moderno”, a América e seus aliados.
Este alvo “América” se apresenta como um monstro polimórfico. Na verdade, tem várias faces, denunciadas por sua vez como o principal inimigo: o grande infiel Bush, os militares americanos, o país - a América ou, mais geralmente, os americanos; assim e assimembora não se saiba mais se Bin Laden tem como alvo líderes militares e políticos, o próprio território da América ou ainda mais sua população; provavelmente existem todos esses elementos ao mesmo tempo. Tal discurso contra um alvo global tanto quanto indiferenciado é o mais preocupante: portador de uma ameaça total contra aqueles que designa, sabemos que anuncia ou acompanha o massacre. A esta figura da Evil-America responde em espelho reverso a de God-Mohamed. Este tem sido o fio condutor de seu discurso desde a primeira frase. A invocação da mão de Deus de fato volta como um leitmotiv em quase todas as frases. Em uma mensagem que dura apenas quatro minutos, ele pronuncia a palavra "Deus" (ou "Maomé") doze vezes e a palavra "América" (ou "americanos") nove vezes, como se os dois estivessem juntos. encontrado envolvido em uma luta impiedosa: "Porque a América é má, porque a América profanou os lugares sagrados do Islã, Deus a puniu." E os muçulmanos que morreram por isso em 11 de setembro foram instrumentos da vontade divina. " Em seguida, vem a condenação final: os americanos são acusados de profanar a Terra Santa do Islã com sua presença na Arábia Saudita. A consequência é, portanto, clara: trata-se de expulsar os "infiéis" para restaurar sua pureza. Esta necessidade imperiosa de lutar contra os "descrentes" é assim transmutada, por causa de sua essência religiosa, em um ato de purificação redentora.
Mensagem de vídeo transmitida pelo canal de televisão do Catar Al-Jazeera e reproduzida no Le Monde em 7 de outubro de 2001. Na mensagem de 7 de outubro de 2001, ele mais uma vez assume a “figura do Profeta”… em farda militar. Ele afirma que os ataques de 11 de setembro são a prova da vingança de Deus contra a "América satânica". Descreve de forma mais ampla o que está em jogo na luta até a morte, em nome de Alá, contra todos os infiéis que contaminaram a terra sagrada do Islã. Portanto, não é difícil encontrar em suas declarações o tema da purificação destrutiva: mais uma vez, purificação e destruição caminham juntas. Não há nada específico para o Islã nisso: vimos o suficiente no curso deste livro como a imaginação de pureza pode servir como um trampolim para massacres em diferentes contextos culturais e religiosos. Mas a “doença do Islã”, segundo Abdelwahab Meddeb, é justamente “querer voltar à letra e à sua pureza” . Mas o que torna a "modernidade" desse discurso apocalíptico de Bin Laden é o uso da retóricaerradicador para fins terroristas, retórica amplamente utilizada por Estados no passado. Além disso, essa associação íntima entre Deus e a morte certamente merece ser questionada. Certamente faz parte da retórica do terrorismo religioso, o que não é realmente novo . Mas não deveríamos também nos perguntar sobre seu significado puramente niilista? Para houve também um desejo de purificação no niilismo russo da tarde XIX revolta século contra o "Ocidente podre". E como não pensar ainda na advertência de Nietzsche: “O que estou contando é a história dos próximos dois séculos. Eu descrevo o que virá, o que não pode deixar de vir: o advento do niilismo ." Lembremo-nos do louco que, no seu Gai Savoir , apóstrofe os transeuntes, com uma lanterna na mão, a gritar: "Procuro Deus!" », E quem, ferido pelo escárnio dos seus ouvintes, lança-lhes a acusação:« Todos nós somos assassinos de Deus » . Ele é um herói niilista. Ele proclama a "morte 109
110
th
111
112
de Deus", isto é, a crença no Deus cristão caiu em descrédito. Algumas décadas depois, Nietzsche já parece estar certo. Com a ascensão do nazismo, o niilismo da revolução está em andamento, escreveu Hermann Rauschning, um niilismo cuja trilogia se baseia na morte da liberdade, no domínio da violência e na escravidão da mente . Com o terrorismo religioso, que alguns qualificam como “novo totalitarismo”, não é a profecia de Nietzsche que continua a ser verificada? Neste Ocidente decadente que não tem mais fé em alguma transcendência divina, alguns chegam a afirmar, em nome do Islã, a onipotência de Deus sobre suas vidas, a tal ponto que não hesitam em morrer. para ele. Eles proclamam em alta voz um Deus da morte, que comanda a aniquilação de todos esses infiéis que o traíram e até o destruíram. E todos esses “descrentes”, o que eles colocaram no lugar?O deus do dinheiro, o deus dos negócios, o deus do sexo. Também aí o ataque ao World Trade Center não foi por acaso. Assim nasceu esta forma aberrante de insurreição do sagrado pela morte para destruir um dos símbolos arrogantes da decadência dos "infiéis", para vingar Deus e restaurar a sua pureza. Basta dizer que, do ponto de vista ocidental, as chances de comunicação e "diálogo" com aqueles que defendem esta nova guerra santa são quase nulas. 113
Candidatos "comuns" ao sacrifício Enquanto isso, o Ocidente tem medo ou vive negando esse medo. Pois neste ano de 2005, os Estados Unidos ainda conhecem uma espécie de psicose de ataque, em parte instrumentalizada por seus próprios líderes. Por sua vez, os Estados europeus demoram a fortalecer a cooperação policial na prevenção do terrorismo, parecendo não ter aprendido as lições do "mini-11 de setembro" que foi o atentado de Madri (estação Atocha) em 11 de março. 2004. Ah, se Raymond Aron ainda pudesse estar certo quando escreveu, em 1962, que uma ação é chamada de "terrorista" quando seus efeitos psicológicos são desproporcionais a seus resultados puramente físicos ! Jogando no cordão da mídia, o terrorismo sempre foi, na verdade, relativamente econômico em vidas humanas. Estima-se, por exemplo, que causou cerca de 3.000 vítimas entre 1968 e 1984, ou seja, em média, menos de 200 mortes por ano . Mas, de repente, com os ataques de 11 de setembro (que também incluem o ataque ao Pentágono em Washington), mudamos repentinamente de escala, pois o número de vítimas é de 3.000 mortos ou desaparecidos . Este número, no entanto, nada tem a ver com a matança dos grandes massacres nos países do Sul, que poderiam ter atingido várias centenas de milhares de mortes em poucos meses (como na Indonésiaem 1965-1966 ou em Ruanda em 1994). Mas os ocidentais tendem a permanecer indiferentes a esses grandes massacres que não lhes dizem respeito diretamente. Com o 11 de setembro, no entanto, é o próprio coração do mundo ocidental que é afetado e o sentimento de pavor é ainda mais intenso. O choque de 11 de setembro, portanto, cristalizou o medo de um terrorismo de destruição em massa, cujo desenvolvimento vários especialistas temiam há vários anos. A operação, muito inventiva e ousada, no entanto, insere-se no “terrorismo clássico” segundo Gérard Chaliand, a gota d'água sendo que seus autores não tinham armas (exceto um canivete) . No entanto, os cenários de terrorismo apocalíptico têm sido mencionados na imprensa, com base no possível - mas ainda hipotético - controle de armas de destruição em massa (atômicas, bacteriológicas, químicas) por grupos privados. Essas tecnologias de destruição estão, em princípio, sob o controle absoluto de alguns estados, mas por quanto tempo? As previsões mais pessimistas parecem ainda mais críveis 114
115
116
117
quando se tem em mente o precedente da seita japonesa Aum Shinrikyô, com o ataque ao metrô de Tóquio com gás sarin em 20 de março de 1995 . Antes mesmo desses possíveis avanços tecnológicos, o mais preocupante já é o avanço psicológico representado pelo desenvolvimento do que François Geré chama de “voluntários da morte”, designando assim aqueles que concordam em morrer com seus alvos. Na história dos massacres, seu sacrifício voluntário representa uma inovação . Os nazistas certamente não planejavam morrer com os judeus, nem os hutus com os tutsis. Seu objetivo era construir um mundo de segurança e pureza do qual eles seriam os mestres. Mas o fato de sacrificar sua vida matando simultaneamenteseu odiado inimigo é certamente um desafio absoluto a todas as potências. Para este último, se não obtiver o consentimento voluntário para obedecê-lo, só pode ser exercido pelo medo e, em última instância, pela ameaça de morte que exerce sobre todos. Portanto, aquele que não tem mais medo de sacrificar sua vida por definição cancela o efeito de potência deste poder. O sociólogo francês de origem iraniana Farhad Khosrokhavar mostrou de forma notável como tais perfis de mártires apareceram, por um lado, no contexto do conflito israelense-palestino e, por outro lado, até mesmo nas sociedades ocidentais. Essas duas formas de morrer voluntariamente em nome de Deus, por meio de ataques suicidas, na verdade têm pouca relação uma com a outra. A primeira forma de se matar lutando por uma causa coletiva é a praticada pelos palestinos: é claramente dirigida contra o adversário israelense percebido como ocupante. “Na Palestina, o martírio procede da sacralização do desespero que é assim superado em nome de um ideal religioso inteiramente reconstruído em um sentido apocalíptico. A segunda forma de se matar deliberadamente por uma causa caracterizaria os pilotos do 11 de setembro, representantes dessa pequena minoria de muçulmanos que, embora integrados nos países do Ocidente, acabaram nutrindo um ódio feroz contra o Ocidente. , começando pelos Estados Unidos, acusados de serem dominadores e violadores da terra e dos valores do Islã. Para eles, esse "Ocidente demonizado, sedutor e corruptor ao mesmo tempo, destrói o Islã em seus próprios alicerces, cada indivíduo ocidental contribuindo para esse empreendimento de minar. É por isso que a guerra total e absoluta contra o Ocidente na indistinção do culpado e do inocente se torna um “dever religioso”. Consequência: as redes terroristas podem recrutar seus executivos mesmo em sociedades hipermodernas ”. O psiquiatra e cientista político americano Marc Sageman dedicou uma pesquisa interessante a este último, que ressoa em vários pontos com o que foi dito aqui sobre os perpetradores dos massacres (embora, é claro, os perfis sejam diferentes). De uma amostra de 172 miliTendo tantos aderido à luta da jihad salafista, isso mostra que suas únicas características individuais não são tais que explicam sua mudança para a ação terrorista. Nem psicopatas, nem sociopatas, são indivíduos "comuns" que, muitas vezes, têm educação universitária e pertencem à classe média. Eles dificilmente têm uma história de violência: não podemos, portanto, deduzir de sua biografia que se tornarão combatentes terroristas. Porém, desligados de seu país de origem, eles vivenciam nas sociedades ocidentais uma forma de dessocialização a partir da qual se desenvolve um processo de ressocialização segundo uma retórica religiosa, que os levará então a se reconhecerem na guerra santa. Mas Marc Sageman observa, essa convergência ideológica não é, no entanto, o pré-requisito para sua ação. Ele concorda com a observação também sublinhada nestas páginas: é a formação de um grupo que passa a ser o operador antes da passagem para a ação terrorista. A este respeito, é reveladora a história de quem se preparou para os atentados de 11 de setembro: originalmente, eram na verdade 118
119
120
indivíduos que evoluíam no mesmo círculo de amizades, que viviam em Hamburgo, que outrora seu grupo formado, pretende trabalhar pela causa da jihad e um dia concorda em ser recrutado para esse fim. É esse fenômeno de agregação de indivíduos isolados que prevalece; com o tempo, esse grupo de amigos gradualmente se tornará uma célula operacional e fará parte de redes militantes fundamentalistas . Até que ponto esse padrão agonizante do ato de terrorismo ainda pode ocorrer? Em última análise, a grande vitória de 11 de setembro é o medo ; um medo que se alastrou ao Ocidente, um medo difuso que agora se cristaliza na figura preocupante deste “terrorista”, inimigo interno e externo, cuja presença é difícil de identificar nas nossas próprias sociedades. Realmente representa a expressão moderna deste "suspeito" que, imerso em nossas fileiras, trabalha para nossa destruição. Não falamos agora de um "inimigo adormecido", portanto quase evasivo? Assassinato pela polícia britânica de Jean Charles de Menezes, em 22 de julho de 2005, este jovem brasileiro inocente de qualquer implicação nos atentados de 7 de julho em Londres (pelo menos 55 mortos e mais de 700 feridos), e os "fracassados" de 21 de julho, podem muito bem ser o sintoma de um desenvolvimento muito preocupante: o de um Estado democrático que, declarar acima da lei, em nome mesmo da luta contra o terrorismo, arroga a si mesmo o direito de matar quem julgar conveniente para triunfar sobre o "Mal". No momento da conclusão, encontramos essas relações inextricáveis entre realidade e imaginação que estão no cerne do primeiro capítulo deste livro. Tenhamos pois a lucidez de aplicar esta análise a nós próprios, neste período histórico que é nosso. Claro, existem razões objetivas para se preocupar com a possibilidade de novos ataques terroristas. E ainda assim nós, ocidentais, não estamos todos nos tornando grandes "paranos"? Porque é muito difícil distinguir entre os riscos reais das ações terroristas e o que continua sendo pura fantasia, associada à psicose do terrorismo de destruição em massa que muitos agentes de segurança antiterrorista obviamente têm interesse em ampliar. Os próprios chefes de Estado têm a vantagem de jogar com o risco terrorista de se apresentarem como fiadores da segurança de todos. Para desafiar este futuro inquietante, o olhar do historiador é, sem dúvida, o que mais nos ajuda a dar um passo atrás nas convulsões do presente. Penso na grande obra de Jean Delumeau publicado em 1978, cujo título é precisamente o medo no Ocidente ... Exceto que seu estudo examina a evolução da Europa entre o XIV eo XVIII século. Mas a obra tem como subtítulo "Uma cidade sitiada" . E o que pode ser encontrado, entre outras coisas, no índice? O medo dos judeus, claro, o medo das mulheres, claro, mas também a “ameaça muçulmana”! Não há dúvida de que se pensa na "novidade" dos nossos próprios medos no século XXI novo século. 121
th
122
e no
th
1. Jill Radford e Diana Russel (orgs), Femicide. The Politics of Woman Killing , Buckingham, Open University Press, 1992. 2. Rebecca Knuth, Libricide. The Regim Patrocinou a Destruição de Livros e Bibliotecas no Século XX , Westport, Praeger, 2003. 3. Issiaka-Prosper Laleye, “Genocídio e etnocídio: como as culturas morrem. Questões filosófico-antropológicas sobre o conceito de genocídio cultural ”, in Kathia Boustany e Daniel Dormoy (ed.), Génocide , op. cit. , p. 265-293. 4. Defendido na França por Robert Jaulin, La Paix blanche. Introdução ao etnocídio , Paris, Le Seuil, 1970. 5. Christian Gerlach, “Extremely Violent Societies. Uma alternativa ao conceito de genocídio ”, discurso de 26 de novembro de 2004 no seminário EHESS Histoire etistoriographie du nazisme , liderado por Peter Schöttler, Florent Brayard e Pieter Lagrou. 6. Ben Kiernan e Robert Gellately (orgs), The Specter of Genocide. Mass Murders in Historical Perspective , Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 7. Eric D. Weitz, A Century of Genocide. Utopias of Race and Nation , Princeton, Princeton University Press, 2003. 8. Ver primeiro William Schabas, Genocide in International Law , Cambridge, Cambridge University Press, 2000; Antoine Garapon, Des crimes que não se pode julgar nem perdoar Por uma justiça internacional , Paris, Odile Jacob, 2002; Mireille Delmas-Marty (ed.), Justiça Criminal Internacional Entre Passado e Futuro , Paris, Dalloz, 2004; id ., Rumo a um direito comum da humanidade , Paris, Textuel, 2005; Guenael Mettraux, International Crimes and the Ad-Hoc Tribunals , Oxford University Press, 2005. 9. Frank Chalk e Kurt Jonassohn, A História e Sociologia do Genocídio , op. cit. 10 . Bernard Bruneteau, O Século do Genocídio. Violência, massacres e processos genocidas da Armênia a Ruanda , Paris, Armand Colin, 2004. 11 . Marc Levene, “Por que o século 20 é o século do genocídio? ", Arte. cit. ; Martin Shaw, War and Genocide. Organized Killing in Modern Society , Cambridge, Polity Press, 2003. 12 . Norman M. Naimark, Fires of Hatred , op. cit. ; Michael Mann, “The Dark Side of Democracy…”, art. cit . 13 . Benjamin A. Valentino, Soluções Finais. Mass Killing and Genocide in the 20th Century , Ithaca-London, Cornell University Press, 2004 . 14 . Isso não significa que eu negue o interesse da escola da ONU por tudo isso. Além dessas questões teóricas e metodológicas, é muito importante que os pesquisadores sobre genocídio possam se comunicar uns com os outros e concordar em discutir suas abordagens contraditórias. Nem sempre é o caso, este assunto da violência em massa e, portanto, da morte em massa, despertando paixões e anátema, inclusive entre os pesquisadores. Mas sem apagar suas diferenças, eles não têm, por assim dizer, o dever de mostrar
moderação? Em nome mesmo da memória dos mortos, é essencial que aqueles que estudam genocídios e massacres de toda espécie se respeitem, no próprio confronto de seu trabalho, para fazer avançar a pesquisa. 15 . Jacques Sémelin, “O que é um crime em massa? O caso da ex-Iugoslávia ”, Critique internationale , n ° 6, janeiro de 2000, p. 143156. Essa noção também tem uma história na pesquisa alemã, particularmente favorecida por Dieter Pohl. Ver Dieter Pohl, Verfolgung und Massenmord in der NS-Zeit, 1933-1945. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003. 16 . Alguns historiadores da guerra consideram relevante estender a noção de “massacre” à destruição de soldados armados, mortos por uma potência militar claramente superior à capacidade ofensiva ou defensiva desta. Assim, durante a Primeira Guerra Mundial, falamos de “massacre industrial” quando a artilharia adversária podia literalmente pulverizar as trincheiras de soldados equipados apenas com armas de combate corpo a corpo (baionetas, granadas, etc.) . Este significado ainda mais amplo da palavra "massacre" é, no entanto, problemático na medida em que passamos a confundir na mesma categoria de combatentes armados (que em princípio consentiram em lutar e, portanto, correram o risco de serem mortos) e não combatentes civis (que eles próprios não fizeram essa escolha). 17 . A noção de “assassinato em massa” me parece legítima nas ciências sociais, na medida em que a palavra “assassinato” não tem significado legal e criminal, pelo menos no direito francês. 18 . Ervin Staub, The Roots of Evil , op. cit. 19 . O que busca delimitar o direito internacional para incriminar os autores do ato. 20 . Max Weber, Economia e Sociedade , Paris, Pocket, col. "Agora", 1995, t. I, p. 29 21 . Michael Walzer, Just and Unjust Wars. Argumentação moral com exemplos históricos , Paris, Belin, 1999. 22 . John Rawls, "Can We Justify Hiroshima?" », Esprit , fevereiro de 1997, p. 119 23 . Bartolomé de Las Casas, Histoire des Indes , Paris, Le Seuil, 2003, 3 vol. 24 . Pascal Gueniffey, The Politics of Terror. Ensaio sobre a violência revolucionária (1789-1794) , Paris, Fayard, 2000, p. 46 25 . Nos dias seguintes, o exército francês (apoiado pelos colonos) começou a saquear e queimar aldeias. O número de vítimas desses massacres não é conhecido do lado argelino (estimativas entre 7.000 e 8.000 mortos). Por outro lado, houve 107 mortos do lado francês. 26 . Esta é a conclusão convergente a que chega a psicóloga Françoise Sironi, Bourreaux et Victimes. Psychologie de la torture , Paris, Odile Jacob, 1999, e a historiadora Raphaëlle Branche, Tortura e o Exército durante a Guerra da Argélia, 1954-1962 , Paris, Gallimard, 2001. 27 .
Dentro da própria FLN, vários milhares de ativistas foram eliminados em vários expurgos políticos. 28 . Nicolas Werth, “A State Against Your People. Violência, repressão, terror na União Soviética ”, in Stéphane Courtois (ed.), Le Livre noir du communisme , op. cit. , p. 167 29 . Essa é uma das conquistas da impressionante História do Gulag realizada pelas edições russas de Rosspen, em seis volumes. O primeiro, que trata especificamente de políticas stalinistas repressivas, foi liderado por Irina Ziouzina e Nicolas Werth. 30 . Relatório da Segunda Sessão Plenária do Comitê Central do VII ° Congresso do Partido Comunista da China, 5 de março de 1949. 31 . A esse respeito, ver o resumo escrito por Jean-Louis Margolin, “Os comunismos asiáticos: entre a“ reeducação ”e o“ massacre ”, in Stéphane Courtois (ed.), Le Livre noir du communisme , op. cit. , p. 503-702. 32 . Jean-Luc Domenach, China. The Forgotten Archipelago , Paris, Fayard, 1992. 33 . Harry Wu, Laogai. The Chinese Gulag , Paris, Dagorno, 1996. 34 . Citado por Jean Pasqualini (com Rudolph Chelminski), Prisioneiro de Mao. Sete anos em um campo de trabalho na China , Paris, Gallimard, 1975, p. 47-49. 35 . Ben Kiernan, The Genocide in Cambodia, 1975-1979. Raça, ideologia e história , Paris, Gallimard, 1998. 36 . Steve Heder, “Racism, Marxism, Labeling and Genocide in Ben Kiernan's The Pol Pot Regime ”, The South East Asia Research , vol. 5, n ° 2, pág. 101-153. 37 . A este respeito, devemos ler seu diálogo extraordinário com seu carcereiro, Douch (que se tornaria o diretor da sinistra prisão S 21), em François Bizot, Le Portail , Paris, La Table rond, 2000. 38 . Citado por Anthony FC Wallace, Jefferson e os índios. The Tragic Fate of the First Americans , Cambridge, Belknap Press, 1999, p. 221. 39 . John Reed, The War in the Balcans , Paris, Le Seuil, 1996. 40 . O relatório da Carnegie International Commission publicado em 1914 dá vários exemplos eloquentes. 41 . Estou pensando primeiro no livro de Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949 , Cambridge, Cambridge University Press, 1987. 42 . Ilan Greilsammer, A New History of Israel. Ensaio sobre uma identidade nacional , Paris, Gallimard, 1998. 43 .
Ibid. , p. 103 44 . Andrew Bell-Fialkoff, Ethnic Cleansing , Basingstocke, Macmillan, 1996; Norman M. Naimark, Fires of Hatred , op. cit. ; Steven Béla Vardy e Hunt Tooley (ed.), Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe , Nova York, Columbia University Press, 2003. 45 . Donald L. Horowitz, The Deadly Ethnic Riot , Berkeley, University of California Press, 2001. 46 . Cf. Michel Foucault, Surveiller et Punir , op. cit . 47 . Vou retomar de passagem a metáfora do jardineiro que Zygmunt Bauman nos propôs. Mas não achando suficientemente relevante em relação ao assunto, prefiro o do cirurgião, que tem como função cortar (e costurar) para cicatrizar. 48 . Robert Conquest, O Grande Terror. Os expurgos stalinistas da década de 1930 , precedidos por Colheitas Sangrentas. A coletivização da terra na URSS , Paris, Robert Laffont, 1995. 49 . Claire Mouradian, “Uma prática soviética radicalizada pela guerra: deportações étnicas em massa na URSS”, em Stéphane Courtois (ed.), Une si longue nuit. O apogeu dos regimes totalitários na Europa, 1935-1953 , Mônaco, Éd. du Rocher, 2003, p. 332-346. 50 . Veja Jürgen Zimmerer, Deutsche Herrschaft der Afrikaner. Staatlicher Machtanspruch und Wirklichkeit im kolonialen Namíbia , Münster, LIT Verlag, 2002. 51 . O livro de Olivier Le Cour-Grandmaison representa uma importante contribuição nesse sentido, principalmente por meio de seu estudo sobre a conquista da Argélia pela França: Colonizador, exterminador. Sobre a guerra e o estado colonial , Paris, Fayard, 2005. 52 . Este é o interesse do trabalho de Götz Aly e Suzanne Heim, Vordenker der Vernichtung , op. cit. , do qual se encontrará uma apresentação em francês em Dominique Vidal (ed.), Os historiadores alemães releram o Shoah , op. cit. 53 . Assim, Nicolas Werth (um dos autores do Livro Negro do Comunismo) não considera a fome de 1932-1933 como um genocídio, que é defendida por James Macé em “Fome e Nacionalismo na Ucrânia Soviética”, Problemas do Comunismo , Washington DC, Maio-junho de 1984. Da mesma forma, Ben Kiernan afirma a natureza genocida da violência de Pol Pot, que Henri Locard refuta. 54 . François Furet e Ernst Nolte, Fascism and Communism , Paris, Plon, 1998, p. 108-109. 55 . Ted R. Gurr e Barbara Harff, Ethnic Conflict in World Politics , Boulder, Westview, 1994. 56 . Henri Locard, “Reflexões sobre o Livro Negro . The Case of Democratic Kampuchea ”, Communism , 2000. 57 . Jean-Louis Margolin, “O caso cambojano como questão e como revelador”, ibid. , nos 59-60, 1999. .
58 .
David Boyle, Nações Unidas e Camboja, 1975-2004. Paz e justiça no equilíbrio , Paris, L'Harmattan, 2005. 59 . Michael Mann, The Dark Side of Democracy , op. cit. Ao cruzar esses vários graus de “limpeza étnica” com violência mais ou menos intensa (para implementá-los), Mann constrói uma tipologia dinâmica e complexa apresentada em sua tabela 1. 1. Para tanto, ele combina várias noções ( etnocídio, politicídio, fratricídio, classicídio, genocídio). Note-se, no entanto, que ele redefine os termos “etnocídio” e “politicídio” à sua maneira, afastando-se do significado em que geralmente são entendidos. 60 . Veja ibid . 61 . No entanto, isso nos levaria a discussões excessivamente técnicas. Mas este é um exemplo típico em que a discussão entre juristas e cientistas políticos pode ser frutífera. Para ler a sentença em apelação de 19 de abril de 2004, consulte o site do tribunal: http://www.un.org/icty. 62 . Robert Melson, “Comparative Genocides”, em Dinah L. Shelton (ed.), Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity , Thomson Gale, 2005, 3 vol., T. I, p. 188-189. 63 . Helen Fein, “Ethnic Cleansing and Genocide: Definitional Evasion, Fog, Pântano ou Opportunity? ”, Artigo apresentado à Conferência da Associação de Acadêmicos do Genocídio, Minneapolis, de 10 a 12 de junho de 2001. 64 . Eric Markusen, "The Meaning of Genocide, as Express in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Ex Iugoslavia and Rwanda: A Non Legal Scholar's Perspective", documento apresentado à Conferência da Associação de Acadêmicos de Genocídio, Minneapolis, de 10 a 12 de junho 2001. 65 . A expressão “processo genocida” já é encontrada em um autor como Leo Kuper, sem ser claramente explicada em seu livro Genocídio , op. cit. 66 . Ariel Merari, “Do terrorismo como estratégia de insurreição”, in Gérard Chaliand (ed.), Les Stratégies du terrorism , Paris, Desclée de Brouwer, 2002, p. 73 sq . Mas cuidado, não devemos concluir, como este autor tende a fazer, que qualquer insurreição é terrorista por natureza! Existem também formas de insurreição armada que não são (como a libertação de Paris em agosto de 1944), a fortiori insurgências políticas não violentas, baseadas na desobediência civil. A famosa “Salt March”, organizada por Gandhi em 1930 contra o domínio colonial britânico, é um exemplo ilustre; bem como as "revoluções de veludo" de 1989 na Europa central. 67 . Didier Bigo, “A cartografia impossível do terrorismo”, Cultures et Conflits , outono de 2001. Para download na Internet: http://www.conflits.org, arquivos de Cultures et Conflits . 68 . Anthony Oberschall, “Explicando o Terrorismo: A Contribuição da Teoria da Ação Coletiva”, Teoria Sociológica , 22 (1), março de 2004. 69 . Michel Wieviorka, Societies and Terrorism , Paris, Fayard, 1988, p. 17 70 .
Walter Laqueur, The Age of Terrorism , Boston, Little Brown, 1987, p. 72 71 . Primeira palavra de Irgountzwa léoumi , que significa "Organização do exército nacional". 72 . Ariel Merari, “Terrorismo como Estratégia de Insurgência”, art . cit., p. 77 73 . Isabelle Sommier, Le Terrorisme , Paris, Flammarion, col. "Dominos", 2000. 74 . Christian Mellon, “Facing terrorism, some benchmarks”, Esprit et Vie , março de 2003, p. 3-7. 75 . Nesse sentido, a posição defendida por Gérard Chaliand e Arnaud Blin na introdução de sua História do Terrorismo me parece altamente questionável, justamente porque esses autores incluem sem complexidade os atos de tiranicídio e, mais geralmente, os assassinatos políticos de representantes do poder. O fato de se poder escrever uma história do terrorismo “da Antiguidade à Al Qaeda” deixa o leitor em profunda perplexidade. É o mesmo problema que colocaria um livro que gostaria de lidar com "o genocídio da Antiguidade em Ruanda". O risco é sempre de reconstrução ideológica e anacronismo histórico. Ver Gérard Chaliand e Arnaud Blin, História do terrorismo. From Antiquity to Al Qaida , Paris, Bayard, 2004. 76 . Christian Mellon, “Enfrentando o terrorismo, alguns benchmarks”, art. cit. 77 . Didier Bigo e Daniel Hermant, “War and terrorism”, Cultures et Conflits , outono de 2001. Para download na Internet: http://www.conflits.org, arquivos de Cultures et Conflits . 78 . Poderíamos conversar com o sociólogo Edgar Morin de um “Terror-World” ( Le Monde , 22 de novembro de 2001). Mas isso faria mais uma vez 79 . Francis Scott Fitzgerald, La Fêlure , Paris, Gallimard, 1963, p. 475. 80 . Luc Boltanski, La Souffrance à distância. Ética humanitária, mídia e política , Paris, Métailié, 1993. 81 . Ver, em particular, Bernard Kouchner, Charité Business , Paris, Le Pré-aux-Clercs, 1986; e Bernard Kouchner, Le Malheur des autres , Paris, Odile Jacob, 1991. 82 . Esta última noção foi explicada em particular por Boutros Boutros-Ghali, ex-Secretário Geral das Nações Unidas: “O objetivo da diplomacia preventiva é evitar que surjam disputas entre as partes, para evitar que surja uma disputa existente. se transforma em conflito aberto e, se um conflito eclodir, garantir que se espalhe o mínimo possível ”(Boutros Boutros-Ghali, Agenda pour la paix. Diplomacia preventiva, pacificação, manutenção da paz , Novo York, ed. UN, 2 th ed., 1995, p. 48). 83 . Kofi Annan, Prevenção de Conflitos Armados , Relatório do Secretário-Geral da ONU ao Conselho de Segurança, 7 de junho de 2001. 84 .
Ponto 256 do Relatório A Safer World. Nosso Negócio Comum , Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudanças, Nova York, Nações Unidas, 2004; disponível na Internet: http: //www.un.org /. 85 . Convenção Internacional para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, votada em Paris em 9 de dezembro de 1948. Veja o quadro no cap. VI deste livro. 86 . Barbara Harff “Nenhuma lição aprendida com o Holocausto. Avaliando os riscos de genocídio e assassinato político em massa desde 1955 ”, American Political Science Review , vol. 97, n ° 1, fevereiro de 2003, p. 57-73. Ted R. Gurr, “Contendo guerra interna na 21 st Century”, Fen Osler Hampson e David M. Malone (eds), da reação à prevenção de conflitos: Oportunidades para o sistema das Nações Unidas , Boulder e Londres, Lynne Rienner para a Paz Internacional Academy, 2001, p. 41-62. 87 . Helen Fein, “Os Três P's da Prevenção do Genocídio: Com Aplicação a um Genocídio Previsto - Ruanda”, em Neal Riemer (ed.), Proteção contra o Genocídio. Missão Impossível ? , Westport, Praeger, 2000, p. 41-66. Devemos também mencionar a abordagem sistemática de Gregory Stanton, “Early Warning”, em Dinah L. Shelton (ed.), Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity , op. cit. , p. 271-273. 88 . Interessante a este respeito é a abordagem da ONG Search for Common Ground , fundada pelo jornalista norte-americano John Marks, que visa nomeadamente trabalhar para a criação de várias emissões de rádio ou televisão e programas de promoção da cooperação entre grupos étnicos ou religiosos em conflito. 89 . O historiador Frank Chalk afirma que em 1944 a BBC poderia ter alertado os judeus da Hungria sobre o destino que os esperava, já que os alemães haviam ocupado o país e Eichmann preparava sua deportação. Esse alerta, por meio de repetidas ligações em rádios britânicas, incitando-os a se esconderem, poderia, segundo ele, ter salvado um número significativo. 90 . Ver Barnett R. Rubin (ed.), Cases and Strategies for Preventive Action , Nova York, The Century Foundation Press, 1998. 91 . Este é o ponto de vista desenvolvido por Michael Walzer em seu artigo “Além da intervenção humanitária, direitos humanos na sociedade global”, Esprit , agosto-setembro de 2004, p. 8-27. 92 . Veja Arthur C. Helton, The Price of Indifference. Refugiados e Ação Humanitária no Novo Século , Oxford, Oxford University Press, 2002. 93 . Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, Final Report , Carnegie Corporation of New York, December 1997. 94 . Ver, por exemplo, o argumento defendido na introdução de Ben Jamin A. Valentino, Final Solutions , op. cit. 95 . Mark Levene, "A voz discordante: Ou Como Pressupostos de dissuadir e impedir o genocídio atual pode ser olhar para o problema pelo lado errado do telescópio", 1 st parte Journal of Genocide Research , Vol. 6, n ° 2, junho de 2004, p. 153-166. 96 . Ibid. , p. 163. Leia também 2 e parte de seu artigo no Journal of Genocide Research , vol. 6, n ° 3, setembro de 2004, p. 431-445.
97 . Hannah Arendt, La Nature du totalitarisme , Paris, Payot, 1990, p. 73 98 . Jean-Claude Passeron, Le Raisonnement sociologique , Paris, Nathan, 1991. 99 . Michael Freeman, “The Theory and Prevention of Genocide”, Holocaust and Genocide Studies , vol. 6, n ° 2, 1991, p. 185-199. 100 . Thomas Cushman, “Is Genocide Preventable? Some Theoretical Considerations ”, Journal of Genocide Research , vol. 6, n ° 4, dezembro de 2003, p. 523-542. 101 . Em setembro de 2000, o Canadá e um grupo de grandes fundações anunciaram à ONU a criação de uma Comissão Internacional de Intervenção e Soberania do Estado, liderada pelo australiano Gareth Evans e o «O argelino Mohamed Sahnoun. A Comissão foi convidada a abordar todas as questões jurídicas, morais, operacionais e políticas nesta área, a recolher o maior número possível de opiniões de todo o mundo e a apresentar um relatório que ajudasse o Secretário-Geral da ONU. e todas as outras partes interessadas para encontrar um novo terreno comum. 102 . Gareth Evans e Mohamed Sahnoun, “The Responsibility to Protect”, Foreign Affairs , vol. 81, n ° 6, novembro de 2002. A íntegra deste relatório também pode ser consultada na Internet: http://www.crisisweb.org. 103 . Por exemplo, no campo da reconstrução, veja os estudos comparativos realizados por Béatrice Pouligny, Eles nos prometeram a paz. Operações da ONU e populações locais , Paris, Presses de la FNSP, 2004. 104 . Veja a abordagem interessante de Valérie Rosoux, Les Usages de la mémoire dans les Relations Internationales. O recurso ao passado na política externa da França em relação à Alemanha e à Argélia de 1962 até os dias atuais , Bruxelles, Bruylant, 2001. Este trabalho sobre a memória pode ser baseado na abordagem filosófica por Paul Ricoeur em La Mémoire, Histoire, l'Obli , Paris, Le Seuil, 2000 e, claro, sobre os escritos de historiadores da Shoah que trabalharam em questões de memória e testemunho: Henry Rousso , Vichy. O evento, a memória, a história , Paris, Gallimard, 2001 e Annette Wieviorka, A Era da testemunha , Paris, Plon, 1998. 105 . Para uma apresentação geral deste projeto da Enciclopédia de Massacres e Genocídios , consulte o apêndice III deste livro. 106 . Veja na Internet: http://www.cidcm.umd.edu. 107 . Na França, o Centro de Pesquisas para a Paz (CRP) da Universidade Católica de Paris realizou esse trabalho, sob a direção de François Mabille. Ainda é imprescindível que tal pesquisa seja vinculada a um programa de ensino específico. Devemos observar a esse respeito a criação em 2005 de um curso sobre prevenção de genocídios iniciado na Universidade de Columbia por Andrea Bartoli. De minha parte, criei na França, em 1998, um ensino multidisciplinar sobre violência extrema e genocídios (que também aborda, em conclusão, a questão da prevenção) dentro do Instituto de Estudos Políticos de Paris. . 108 . Pierre Hassner, “Uma antropologia das paixões”, Comentários , n ° 110, verão 2005, p. 299-312.
109 . Já os campos de treinamento dos grupos controlados por Bin Laden estavam no Afeganistão, sob a proteção do regime islâmico do Talibã. 110 . Stanley Hoffman, “The XXI E Century has Begun”, Vingtième Siècle , n ° 76, outubro-dezembro de 2002, p. 5-14. 111 . A Conferência esclareceu que essa lista provavelmente deveria ser estendida a outros países. Veja na Internet: http://www.preventinggenocide.com. 112 . Para mais informações, consulte o excelente livro de Stephen Kalberg, La Sociologie historique comparative de Max Weber , Paris, La Découverte, 2002. 113 . A esse respeito, discussões interessantes podem ser encontradas em francês na Revue internationale de politique comparée (Louvain), e em inglês em periódicos como World Politics ou World Politics Studies. 114 . Stéphane Courtois (ed.), Le Livre noir du communisme , op. cit. , p. 19 115 . Ian Kershaw e Moshe Lewin, Stalinismo e Nazismo. Dictatorship in Comparison , Cambridge, Cambridge University Press, 1997; Henry Rousso (ed.), Stalinism and Nazism. Histórias e memórias comparativas . Bruxelas, Complexes-IHTP, 1999. 116 . Yehuda Bauer, Rethinking the Holocaust , New Haven, Yale University Press, 2001. 117 . É o que sugere a leitura de seu livro Auschwitz para minha filha , Paris, Le Seuil, 1999, no qual ela menciona a existência de dois outros genocídios: o dos armênios e o dos tutsis de Ruanda (p. 31). . 118 . Omer Bartov, "Buscando as raízes do genocídio moderno: Na macro e micro-história do assassinato em massa", em Ben Kiernan e Robert Gellately (eds.), The Specter of Genocide , op. cit. , p. 75-96. 119 . Sobre esses pontos importantes que definem nossa abordagem e, de maneira mais geral, nossa posição no campo dos estudos de genocídio , veja a discussão no cap. VI deste livro. 120 . Robert Melson, Revolution and Genocide. Sobre as Origens do Genocídio Armênio e do Holocausto , Chicago, University of Chicago Press, 1992. 121 . Na mesma linha, citemos novamente o texto de Hamit Bozarslan, “O extermínio dos armênios e dos judeus: alguns elementos de comparação”, em Hans-Lukas Kieser e Dominik J. Schaller (eds.), Der Völkermord an der Armenien und die Shoah , Basel, Chronos Verlag, 2002, p. 317-345. 122 .
Norman M. Naimark, Fires of Hatred , op. cit. ; Eric D. Weitz, A Century of Genocide , op. cit. prova de "centrismo ocidental". Porque se esse evento causou transtornos emocionais em vários países, alguns permaneceram bastante insensíveis a ele, a começar pela China.
Conclusão Este "Nunca mais!" » Que começa de novo ... Escrevi este livro para tentar compreender os processos genocidas. No entanto, o leitor pode perguntar legitimamente: "O que essa pesquisa pode ser usada para evitar a reprodução de tais horrores?" Não há dúvida de que essa preocupação é moralmente justificada tendo em vista a violência em massa de que os civis são as principais vítimas. Depois da Segunda Guerra Mundial, não dissemos: "Nunca mais!" "? Era preciso "aprender as lições da catástrofe", "combater todas as formas de racismo", "educar para a tolerância", etc. O que resta desse pensamento positivo? Uma paisagem de desastres nos quatro cantos do mundo, do Camboja à Chechênia, passando pela Indonésia, Biafra, Guatemala, Iraque, Ruanda ou Sudão. No início do XXI século, a liminar "Never again! Tornou-se quase insuportável. Mais do que pagar por palavras, portanto, é melhor olhar de frente as realidades, mesmo que nos pareçam escandalosas, e procurar compreender as razões desta reprodução do trágico, através da repetição do homicídio em massa. Ousemos dizer: o pesquisador que trabalha com o fenômeno genocida costuma vivenciar uma espécie de dissociação psicológica em relação ao seu objeto. Por outro lado, partilha a indignação moral de todos aqueles que denunciam a hipocrisia da suposta "comunidade internacional" que, mesmo depois do Ruanda, permite que se realizem outros massacres, seja no Darfur, no Congo ou Chechênia. Mas, por outro lado, os conhecimentos que adquiriu ajudam-no a analisar melhor as razões desta frequente passividade, o que o torna, no final, bastante cético quanto à possibilidade de concretização de um verdadeiro política global de prevenção de massacres. Obviamente, uma posição muito desconfortável: ele se encontra permanentemente dividido entre as demandas de uma moralidade universal e as realidades derelações internacionais. Mas existem outros, exceto para cair na mais estúpida ingenuidade ou no mais negro cinismo? Aceitar viver essa contradição supõe desenvolver um pensamento paradoxal, que raciocina a partir de proposições antagônicas. Uma fórmula do escritor americano Francis Scott Fitzgerald parece-me particularmente adequada ao nosso assunto: “A marca de uma inteligência líder, ele escreve, é que ela é capaz de se fixar em duas ideias contraditórias sem perder. a capacidade de operar. Deve-se, por exemplo, ser capaz de entender que as coisas não têm esperança e, ainda assim, estar determinado a mudá-las . " th
1
Prevenção de crises: argumentos e ilusões Voltemos, pois, para o lado da esperança, isto é, daqueles que dirigem os seus esforços para as medidas preventivas. Alguns desenvolvimentos encorajadores podem ser observados a esse respeito. Na verdade, entre todas as tragédias que o planeta está passando, há algumas que às vezes produzem um choque elétrico para cristalizar a formação de uma consciência universal
emergente. Apesar de uma apatia generalizada e de um “sofrimento à distância” mais ou menos contemplativo , os indivíduos podem se transformar em verdadeiros atores sociais, tornaremse empreendedores coletivos de um trabalho comum que visa limitar, coibir e mitigar as causas. ou os efeitos da violência em massa. Lembremo-nos: o açougue da Batalha de Solferino, em 1859, convenceu o suíço Henri Dunant a criar uma organização especialmente dedicada às vítimas das guerras, que hoje se chama Cruz Vermelha. Da mesma forma, após a guerra do Biafra, de 1967 a 1970, foram formadas novas organizações não governamentais, como Médicos sem Fronteiras, com o objetivo de socorrer as vítimas e ao mesmo tempo pressionar a comunidade internacional através dos meios de comunicação. , o que Bernard Kouchner chamou de “lei do ruído” . Cerca de trinta anos depois, após a Bósnia e Ruanda, novas organizações estão surgindo novamente, como o Grupo de Crise Internacional, desta vez com um objetivo muito diferente: fornecer análises sintéticas sobre os conflitos em curso para sensibilizar os tomadores de decisão no capaz de influenciar seu desenvolvimento. O papel desta nova ONG ilustra bem uma consciência que se desenvolveu no final dos anos 1990: não para intervir apenas depois da crise, mas antes para evitar que esta crise degenere em desastre. A questão da prevenção tornou-se assim um importante tema de discussão nas relações internacionais. Um vocabulário apropriado, mas freqüentemente confuso, foi desenvolvido: discutimos “sinais de alerta precoce”, “prevenção estrutural”, “diplomacia preventiva” e assim por diante. Mas do que estamos falando? Prevenção de conflitos ou prevenção de crises? Se se trata de conflitos, podemos também dizer que começamos por formular um soberbo pensamento positivo: os conflitos sendo obviamente inerentes à história humana, o objetivo de evitá-los está fadado ao fracasso desde o início. e pode perfeitamente alimentar muitos discursos encantatórios. A expressão “prevenção de crises” parece mais sensata, se com isso quisermos dizer que se trata de controlar a evolução de um conflito que pode conduzir a uma grave crise regional ou internacional. Mas como podemos diferenciar entre o que vem na prevenção de crises e na gestão de conflitos internacionais? Alguns estados, como Canadá ou Suécia, têm procurado avançar na reflexão sobre essas questões. Em 2001, um relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas deu uma contribuição nesse sentido . Mais: após reconhecer os graves fracassos das Nações Unidas na crise de Ruanda, Kofi Annan anunciou em 2004 a criação de um cargo de relator especial para oprevenção do genocídio, diretamente vinculado ao Conselho de Segurança. Outro relatório publicado em 2004, o do grupo denominado "personalidades de alto nível" (incluindo Robert Badinter), recomenda que, como parte de uma reforma fundamental da ONU, os membros permanentes do Conselho de Segurança "renunciem solenemente , a cada um no que lhe diz respeito, a fazer uso do seu direito de veto em caso de genocídio ou violação massiva dos direitos humanos ”. Essa preocupação com a prevenção do genocídio já estava no cerne da abordagem do advogado Raphael Lemkin. Além disso, a Convenção de 1948, que inspirou em parte, estabelece o próprio princípio, explicitamente retido no Título . E a maioria dos pesquisadores que tenta comparar os fenômenos genocidas também trabalha sob a perspectiva de sua prevenção. Recorrem às ciências sociais para desvendar possíveis causas comuns aos massacres, na esperança de atuar sobre essas causas para que não se repitam. O presente trabalho não mostra, aliás, que quase não há fatalidade no assunto? Em última análise, esses processos de violência extrema felizmente permanecem incertos: se obedecem à vontade de atores determinados a agir, também dependem de circunstâncias favoráveis que precipitam seu desenvolvimento. Portanto, deveria 2
3
4
5
6
7
ser possível bloquear sua evolução monstruosa, pelo menos desacelerá-la. Pesquisas têm sido realizadas neste sentido, com o objetivo de identificar os “sinais de alerta precoce” que alertariam que uma situação em um determinado país está se desenvolvendo perigosamente. Identificamos alguns aqui, entre os mais importantes: a multiplicação do discurso inflamatório que emana dos intelectuais, o desenvolvimento da “mídia de ódio”, a marginalização crescente de um determinado grupo, a denúncia pública de uma dupla figura do inimigo dentro e fora , etc. Os sociólogos Ted Gurr e Barbara Harff se empenharam, portanto, em propor modelos estruturais de conflitos que podem levar a formas cada vez mais massivas de violência contraminorias , abordagem que também é da socióloga Helen Fein . Concretamente, as medidas preventivas previstas consistirão, por exemplo, em apoiar "intelectuais antídotos" que tenham a coragem de opor-se a quem atira óleo no fogo, na promoção do desenvolvimento de meios de comunicação orientados para o cooperação em vez de confronto entre grupos ou empenho em informar as vítimas sobre o destino que as aguarda, caso permaneçam passivas . De forma mais geral, podemos qualificar como “preventiva” qualquer ação política, social ou cultural que visa estabelecer ou fortalecer vínculos com indivíduos de um grupo marginalizado (ou em risco de sê-lo) . Outra ação preventiva será alertar o mundo exterior para o risco de uma possível tragédia, instando os tomadores de decisão da comunidade internacional a intervir. Na verdade, se os indicadores de alerta são geralmente conhecidos (graças a informações confiáveisfornecidas por ONGs, jornalistas ou investigadores da área, indicando uma grave deterioração da situação de um determinado grupo), o que quase sempre falta é vontade política de intervir para mudar a situação. Para gerar essa vontade política, os proponentes da intervenção preventiva apresentam pelo menos quatro tipos de argumentos. Uma reação urgente é, antes de mais nada, legitimada em nome do próprio direito internacional: a legalização e, portanto, a criminalização dos atos observados em um determinado país constituem o quadro jurídico pelo qual medidas preventivas (ou mesmo de intervenção) são consideradas legítimas, ao mesmo tempo. ao abrigo do direito internacional . Daí o papel específico de ONGs, como a Anistia Internacional ou a Human Rights Watch, de codificar as informações coletadas no léxico jurídico da violação dos direitos humanos. Outro argumento dos defensores da prevenção: o pragmatismo. Eles argumentam que é mais prudente intervir imediatamente em uma crise, nem que seja para evitar a propagação de inundações de refugiados que podem ameaçar a segurança dos países vizinhos e, portanto, espalhar o conflito em qualquer medida. uma região. Além disso, custaria menos do que ter que gerenciar dezenas ou centenas de milhares de refugiados (acomodação, alimentação, controle de epidemia, etc.) . Números de apoio, um relatório da Comissão Carnegie afirma que a prevenção custa muito menos do que uma intervenção tardia. De acordo com este relatório, a comunidade internacional gastou quase US $ 200 bilhões em gestão de conflitos na década de 1990 como parte de sete intervenções principais (Bósnia e Herzegovina, Somália, Ruanda, Haiti, Golfo Pérsico, Camboja e El Salvador), mas poderia ter economizado 130 bilhões de dólares se tivesse optado por uma abordagem preventiva mais eficaz . Outros autores ainda acreditam que a intervenção precoce pode reivindicar eficiência, uma vez que as mortes geralmente são cometidas por uma minoria de indivíduos: é tecnicamente possível agir para prevenir danos . São citados exemplos aparentemente encorajadores de ação preventiva, como as medidas tomadas pela União Europeia e pela OTAN para deter o processo de guerra civil na Macedônia em 2001-2002. Da mesma forma, durante o verão de 2003, a União Europeia, por instigação da França, desdobrou uma força militar em Ituri, no nordeste 8
9
10
11
12
13
14
15
16
da República Democrática do Congo (RDC), na ordem, afirmou para prevenir o risco de genocídio. Mas os resultados esperados estão aí? Essas intervenções também são vistas por alguns como manifestações do pós-colonialismo (especialmente na África), que só muito superficialmente resolvem os problemas, ou mesmo os pioram. Eles observam que essas intervenções raramente decorrem de preocupações puramente humanitárias e, mais frequentemente, do cálculo e do interesse daqueles que intervêm. Em vez de focar nas “medidas faça você mesmo”, para usar a expressão de Marc Levene, que, segundo ele, vão desde a busca de bandeiras vermelhas até a intervenção militar, passando pela criação do Tribunal Penal Internacional ou operações de mediação, trata-se de propor uma abordagem mais fundamental da prevenção, de caráter estrutural . Já não se trata de brincar de bombeiro para apagar incêndios (como nas intervenções armadas), mas de ser arquitecto de casas equipadas com firewalls. Além disso, o atual sistema internacional nem mesmo permite que o bombeiro intervenha em estados aliados do Ocidente (como a Turquia) ou em estados membros do Conselho Permanente das Nações Unidas (como Rússia ou China). Só uma política de prevenção que aborde em profundidade as causas estruturais dos conflitos pode ter algumachance de sucesso em conter um genocídio. Para “parafrasear Auguste Comte”, escreve Marc Levene, “se não podemos entender a causalidade, não podemos antecipar. E se não podemos antecipar, não podemos evitar ”. Mas como essa visão de prevenção estrutural pode ser implementada em termos concretos? Marc Levene não propõe uma solução, exceto lutar por um mundo mais equitativo, economicamente mais justo, baseado no desenvolvimento sustentável, etc. Esses objetivos gerais só podem obter o apoio do maior número, a começar por todos aqueles que vivem na pobreza e na insegurança; mas se baseiam em uma visão tão global e radical das mudanças políticas e estruturais a serem empreendidas que se pode duvidar de sua viabilidade. Além disso, o próprio autor parece duvidar, já que prevê que, na ausência de tais transformações, áreas inteiras do globo correm o risco de ser logo sujeitas a devastação ecológica, fome, doenças, genocídio e a outras formas de violência extrema em massa. Vejamos agora as críticas à prevenção. Porque o desejo de atuar sobre as causas dos conflitos para coibir sua dinâmica assassina, seja qual for a abordagem proposta, também desperta ceticismo. Se os partidários da prevenção obviamente têm a moralidade a seu lado, eles se deparam com as críticas daqueles que questionam a própria base de suas abordagens. Assim, o inglês Michael Freeman critica fortemente a abordagem positivista dominante neste campo de estudo. Essa pesquisa, explica ele, se baseia em um postulado: o conhecimento das causas dos genocídios levaria necessariamente à sua previsão e, portanto, à possibilidade de tomar medidas para impedir seu desenvolvimento. Conscientemente ou não, os pesquisadores que acreditam na prevenção estão de fato seguindo o rastro de Comte. Poderíamos até dizer que estão desenvolvendo uma abordagem terapêutica: percebendo o genocídio como uma doença monstruosa, como um câncer que pode corroer o corpo social, recomendam, como única terapia eficaz, prevenir seu desenvolvimento desde os primeiros sintomas. Mas essa analogia é simplesmente errada: as ciências os estudos sociais não respondem a modelos experimentais de validação nas ciências médicas. Identificar as "causas" de um evento histórico é sempre uma etapa problemática na história, sujeita a intensa controvérsia. “O evento ilumina o seu próprio passado, mas dele não se pode deduzir ”, argumenta Hannah Arendt. As ciências sociais, portanto, só podem ter uma fraca capacidade preditiva: como podemos acreditar que podemos aplicar as "lições" da história a novas crises, que se apresentam sob uma luz 17
18
19
necessariamente diferente e cuja evolução permanece imprevisível? ? A natureza não reproduzível dos eventos históricos torna duvidosa qualquer tentativa de aplicação de remédios conhecidos, uma vez que o diagnóstico não pode ser idêntico. Ignorar isso seria ceder à “ilusão experimentalista” da sociologia, contra a qual Jean-Claude Passeron nos alertou . Certamente é importante que os pesquisadores trabalhem para identificar os primeiros indicadores de possíveis genocídios. Isso, diz Michael Freeman, é uma forma de dívida para com os sobreviventes de todos os assassinatos em massa. “Mas não vamos nos enganar com ilusões sobre seus resultados; probabilidade não é necessária . A crítica é retomada pelo norteamericano Thomas Cushman, que denuncia a ideologia do "preventivo". Segundo ele, todos os que trabalham com genocídios são afetados por ele, na medida em que o objetivo essencial de seu trabalho é preveni-los . Cushman não conhece pesquisador que trabalhe nesse "objeto" com o único objetivo de fazer avançar o conhecimento científico. Consequência desta imprevisibilidade: é duvidoso que as iniciativas recomendadas, sejam modestas ou ambiciosas, terão realmente os efeitos esperados. Os intelectuais que procuram agir como um antídoto para o discurso de ódio podem certamente ser de boa fé. Mas também é possível que, de má vontade ou por falta de jeito, suas palavras acabem jogandoalimentar o fogo em vez de aliviar as tensões. Da mesma forma, a eficácia das sanções econômicas contra os regimes acusados de graves violações dos direitos humanos também é amplamente debatida, na medida em que podem ter efeitos nocivos para as populações desses países, no caso das sanções. tomadas contra o Iraque por Saddam Hussein sendo frequentemente citado a este respeito. Ainda mais concretamente, as ONGs ou os Estados que intervêm nas crises com a intenção louvável de abrandar ou impedir os massacres não podem controlar os efeitos das suas intervenções: porque não estão em melhor posição para intervir ou porque não estão em melhor posição para intervir. 'Eles não conhecem bem o terreno, suas ações não terão o impacto esperado e até causarão efeitos opostos. O caso da intervenção americana na Somália em 1992 é um exemplo bem conhecido. 20
21
22
Uma ética de responsabilidade Mas será que o esclarecimento de tais críticas não deve levar a nada mais ser realizado, qualquer ator que venha a se paralisar ao imaginar os potenciais efeitos negativos, contrários aos seus objetivos primários? Claro, cada situação de violência é geralmente de uma complexidade muitas vezes paralisante e é essencial mostrar prudência e previsão. Mas o pesquisador costuma ter um bom jogo para criticar, em nome da complexidade que cabe a sua profissão decifrar, aqueles que tentam "fazer alguma coisa". Aos olhos de todos aqueles que morreram nos massacres e de todos aqueles que ainda arriscam o mesmo destino, esta posição não é moralmente sustentável. Também desqualificaria o próprio princípio de qualquer ação política ou social, qualquer que seja o objetivo perseguido: já que nunca se tem certeza de seus resultados, de que adianta empreender algo? Qualquer ação política que pretenda mudar seria, por definição, fútil. Chegaríamos então a advogar uma imobilidade contemplativa das desgraças do mundo. Para superar tais contradições, gostaria de terminar este livro propondo duas linhas de trabalho suficientemente relevantes e orientadas para o futuro, uma no campo da ação internacional, outra no das ciências sociais propriamente ditas.
Em termos de gestão internacional de crises que podem levar a massacres, o relatório de Gareth Evans e Mohamed Sahnoun, que almeja criar um novo consenso entre os especialistas internacionais, parece-me uma boa base de referência, no início dos anos 2000 . Em várias ocasiões, os autores especificam que a principal motivação que norteou a sua reflexão foi fazer um trabalho útil para que um novo Ruanda não se repita. Em vez de destacar o “dever de intervir” (que corre o risco de ofender os Estados que têm o cuidado de defender sua soberania), Gareth Evans e Mohamed Sahnoun preferem falar da responsabilidade de proteger que cabe aos Estados. Mas, eles apontam, se os estados não forem capazes de proteger seus cidadãos de desastres (como assassinatos em grande escala, estupro, fome, etc.), ou se não estiverem dispostos a fazê-lo, então um tal responsabilidade deve ser assegurada pela “comunidade de estados” (principalmente no âmbito da ONU ou de organizações regionais). E para afirmar que tal responsabilidade implica três obrigações particulares: a) a responsabilidade de prevenir: eliminar as causas profundas e diretas dos conflitos internos e outras crises que, produzidas pelo homem, envolvem as populações; b) responsabilidade de reagir: reagir a situações em que a proteção de seres humanos é uma necessidade imperativa, recorrendo a medidas adequadas, incluindo medidas coercivas (sanções, processos internacionais e, em casos extremos, intervenções militares); c) a responsabilidade de reconstruir: prestar - especialmente após uma intervenção militar assistência a todos os níveis de forma a facilitar o reinício das actividades, a reconstrução e a reconciliação, actuando sobre as causas dos abusos aos quais a intervenção pretendia pôr fim ou que se pretendia evitar. Para cada um desses eixos, os autores fazem propostas sintéticas que muitas vezes são interessantes. Em termos de prevenção, eles distinguembem as medidas que devem ser aplicadas às causas profundas (envolvendo programas de assistência económica e financeira) e as que se relacionam com as causas imediatas (exigindo uma reacção rápida das organizações internacionais, incluindo uma intervenção armada) . Claro, seu trabalho não é isento de críticas. À responsabilidade de prevenir, os autores têm direito de associar a de intervir e reconstruir. Existe um todo coerente aqui. Mas ainda é extremamente difícil alcançá-lo, dada a instabilidade e a pobreza de certas regiões. Em muitos pontos, nos perguntamos como implementar concretamente o que eles recomendam. Um exemplo: só pode haver prevenção duradoura se uma região experimentar um desenvolvimento econômico real após um conflito. Mas quando mais de 60% da população permanece desempregada - como no Kosovo cinco anos após a intervenção da OTAN - como não podemos temer que as tensões graves explodam novamente, porque não parece haver sem futuro? Em suma, o relatório EvansSahnoun estabelece princípios gerais, que certamente são úteis para a formulação de uma doutrina internacional na matéria, mas não aborda suficientemente a dificuldade de sua implementação prática, dificuldade esta que foi destacada por todos os levantamentos de terra . Da mesma forma, os autores não enfatizam suficientemente a importância da memória, sem a qual um país corre o risco de mergulhar novamente em episódios de massacres repetidos. Ao longo dessas páginas, vimos de fato como o passado pode ser explorado por atores políticos, eventos traumáticos sendo supervalorizados por alguns, que apresentam uma leitura inequívoca, enquanto outros procuram escondê-los por completo. Os livros escolares muitas vezes são os depositários dessas leituras enviesadas do passado, tanto que se pode dizer que os livros destinados aos jovens de um país muitas vezes contêm as sementes ideológicas dos conflitos de 23
24
25
amanhã. A prevenção da violência em massa, portanto, envolve necessariamente trabalhar em memórias do passado, memórias quepode servir tanto para despertar paixões como para contêlas para uma possível reconciliação . Mas pelo menos o relatório Evans-Sahnoun tem o mérito de propor uma perspectiva geral, que envolve também a reforma da ONU e de seu Conselho de Segurança. Sugere um quadro global, cujas propostas devem obviamente ser adaptadas a cada situação concreta. Quando se trata de prevenir crises extremas, não pode haver receitas; você tem que fazer isso caso a caso. No campo das ciências sociais, o que o pesquisador pode fazer de forma concreta? Ele pode aconselhar o decisor político, escrever notas e recomendações para ele, que ele levará mais ou menos em consideração. Ele também pode se engajar na ação militante, transformar-se em um homem de ação para defender a causa de tal ou qual povo martirizado. Mas, como pesquisador que trabalha com massacres e sua prevenção, a que se pode dedicar mais especificamente? Na falta de exercício da responsabilidade de proteger, pelo menos pode assumir a responsabilidade de saber e de dar a conhecer . Não é esta também a sua primeira missão, a de construir conhecimento e ensiná-lo? Este livro pretende ser uma contribuição nessa direção. Mas outras ferramentas de difusão do conhecimento devem ser imaginadas, úteis tanto para a pesquisa quanto para informar o público em geral. Por exemplo, tendo em vista a importância dos massacres em conflitos, não existe um banco de dados confiável que reúna nosso conhecimento sobre o assunto. Por isso, propus criar uma enciclopédia eletrônica de massacres e genocídios , disponível gratuitamente. Este projeto poderia dar uma contribuição essencial para a história da humanidade (mais exatamente para a história da destruição da humanidade, etc.). Além de sua contribuição para o conhecimento do passado, tal ferramenta também seria valiosa para todosaqueles (decisores, jornalistas, chefes de ONG, advogados, etc.) que procuram, no domínio das relações internacionais, analisar em profundidade as crises contemporâneas e quem sabe? - para evitá-los . Em termos de programas de investigação, estudar a relevância dos referidos “indicadores de alerta precoce” é outra prioridade. Durante mais de dez anos, algumas equipas universitárias e algumas ONGs trabalharam no desenvolvimento deste tipo de parâmetros, sendo o trabalho mais interessante realizado no âmbito do programa Minorias em Risco da universidade. de Maryland . A ideia central é excelente: é desenvolver informações confiáveis sobre a deterioração de um conflito para permitir que os formuladores de políticas tomem medidas em tempo hábil, a fim de evitar que a situação se deteriore ainda mais. No entanto, os decisores em questão devem ter vontade de fazer algo, o que, como já foi referido, é outra questão. Mas quando esta vontade política está presente, é muito importante que os tomadores de decisão tenham os indicadores mais relevantes. No entanto, esses critérios de alerta precoce podem ser confiáveis em uma situação de crise concreta? Ninguém sabe muito sobre isso, especialmente porque a pesquisa acadêmica neste campo é geralmente pouco conhecida pelos especialistas em relações internacionais. Além disso, existe um tempo incompressível entre a avaliação de uma situação e uma possível tomada de decisão: um alerta precoce é um alerta que foi dado em tempo útil, ou seja, dentro de três semanas. aos doze meses. Além disso, considera-se que tornase impossível atuar sobre o evento. Assim, é necessária investigação que relacione a natureza dos indicadores de alerta, a sua temporalidade em relação à cronologia de uma crise e, em última análise, se são ou não tidos em consideração pelos decisores . 26
27
28
29
A "vingança das paixões" Mas essas propostas, sejam voltadas para a ação ou para o conhecimento, não podem ignorar a nova situação das relações internacionais desde os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Como sabemos, o ataque às Torres Gêmeas perturbou repentinamente as análises dos especialistas. Da noite para o dia, seu discurso dominante não estava mais focado na responsabilidade de proteger as populações em perigo (nunca foi?), Mas na vontade de proteger contra o terrorismo internacional. A morte de 3.000 pessoas no Oeste, Estados Unidos, foi muito maior do que a de 800.000 no Sul, em Ruanda. Um novo paradigma se instalou no cenário internacional. Pierre Hassner comenta que entramos então em outra era, a da “vingança das paixões”, caracterizada pelo ressurgimento do terror e do poder . Em resposta a um inimigo evasivo, os Estados Unidos não hesitaram, em nome mesmo de sua demanda por segurança, em conceder a si próprios o direito de ignorar a lei. As intervenções humanitárias da década de 1990 deram lugar imediatamente a intervenções de segurança (ou supostamente), primeiro no Afeganistão, depois no Iraque. Vários especialistas, entretanto, argumentaram que travar a guerra (contra quem?) Não era necessariamente a melhor maneira de prevenir novos ataques terroristas, que apenas a busca obstinada de inteligência entre grupos e redes com probabilidade de ser eficaz poderia ser eficaz. cometer novos. Nada funcionou: para vingar sua humilhação pública, a grande América queria demonstrar publicamente seu poder, ou seja, sua capacidade única de lutar militarmente em qualquer lugar do mundo. Se a operação contra Cabul fazia sentido em relação ao 11 de setembro, todos os argumentos apresentados para justificar a guerra contra o regime de Saddam Hussein se revelaram infundados. Ao fazê-lo, em nome de sua concepção do Bem, os dirigentes americanos enganaram a noção de “prevenção”, transformando-a em “preempção”. Este conceito permite, a seu ver, justificar antecipadamente o uso da força armada contra qualquer Estado que represente uma ameaça ao seu país. Como resultado, o engajamento nesta cruzada global contra o terrorismo beneficiou muitos outros chefes de estado. O que poderia ser mais tentador para um líder político do que agitar o pano vermelho da ameaça terrorista para se apresentar como único fiador da segurança de todos? Logo após os ataques de 11 de setembro, Stanley Hoffman observou imediatamente que os principais beneficiários políticos do terrorismo seriam os Estados : sob o pretexto de continuar a erradicá-lo, eles confiariam em uma poderosa retórica emocional para legitimar políticas de repressão feroz contra seus oponentes, seja na Rússia, China ou em outros lugares. Será que os europeus poderão promover uma outra visão do mundo, e ainda mais implementá-la, tendo em conta a ameaça terrorista? Os Estados Unidos concordarão em seguir uma política menos unilateral? A ONU finalmente conseguirá reformar? Será que israelenses e palestinos conseguirão estabelecer relações pacíficas? Etc etc. Este livro só pode parar nessas questões, ou seja, em um futuro a ser escrito. Um futuro certamente aberto, mas que permanece muito escuro. Porque este tempo de paixões está carregado de novas guerras. E estes ainda serão justificados, nem é preciso dizer, em nome da civilização e da segurança, de Deus e da pureza a ser reconquistada ... Mais uma vez, os civis suportarão o peso desses confrontos mortais. Em janeiro de 2004, os delegados dos cinquenta e cinco Estados da Conferência para a Prevenção do Genocídio, reunidos pela Suécia, estavam bem cientes desses perigos, embora o resultado de seu trabalho tenha passado quase despercebido. Segundo eles, havia naquela época perigo 30
31
32
de genocídio em treze países: Sudão, Mianmar / Birmânia, Burundi, Ruanda, Congo RDC, Somália, Uganda, Argélia, China, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Etiópia . Desde que eles estivessem errados, pelo menos emparte! Sinais de alerta precoce ou não, o papel da mídia e das ONGs continua essencial, nem que seja para evitar que uma tragédia em curso seja simplesmente apagada da atenção do público internacional. Mas, é verdade, a opinião pública se cansa das tragédias com que a mídia a ataca. E uma catástrofe está perseguindo outra nas telas de televisão. Quanto aos Estados, geralmente guiados por interesses egoístas, raramente se mostram dispostos a vir em auxílio de populações estrangeiras. E é por isso que o "Nunca mais!" »Começa novamente de qualquer maneira. Portanto, seria necessário muita determinação política para que os espectros do massacre e do genocídio ficassem realmente para trás. 33
1. O "Exército de Libertação dos Lugares Sagrados" ataca em 7 de agosto de 1998 as embaixadas americanas em Nairóbi e Dar es Salaam. 2. Veja The International Herald Tribune , 25 de setembro de 2001. 3. Abdelwahab Meddeb, "The disease of Islam", Esprit , outubro de 2001, p. 86 . 4. Bruce Hoffman, "The Sacred Terror", International Policy , No. 77, outono de 1997, p. 345-355. 5. Friedrich Nietzsche, Gesammelte Werke , Frankfurt, Krœner Verlag, 1905, t. XV, pág. 137. Cf. Jean Granier, “Nihilisme”, Encyclopædia universalis , Paris, t. XVI, 1995, p. 367. 6. Friedrich Nietzsche, Gesammelte Werke , op. cit. , t. V, p. 271. 7. Hermann Rauschning, La Révolution du nihilisme (1939), Paris, Gallimard, 1980. 8. Raymond Aron, Guerra e paz entre as nações , Paris, Calmann-Lévy, 1962, p. 176 9. Xavier Crettiez e Isabelle Sommier, "Os ataques de 11 de setembro: continuidade e ruptura do terrorismo", no anuário francês de relações internacionais , Bruxelas, Bruylant, t. III, 2002. 10 . Exatamente 2.823 mortos ou desaparecidos para o World Trade Center e 184 mortos ou desaparecidos para o Pentágono. Veja The New York Times , 24 de abril de 2002. 11 . Gérard Chaliand, "Os ataques de 11 de setembro", em Gérard Chaliand (ed.), As Estratégias do Terrorismo , op. cit. , p. 5 12 . Ver o interessante estudo de Sylvaine Trinh, “Aum Shinrikyô: seita et violência”, em Michel Wieviorka (ed.), Un nouveau paradigme de la violent? , Cultures and Conflicts , n bone 29-30. Disponível para download na Internet: www.conflits.org. 13 .
Esse especialista, especialista em estratégia e guerra psicológica, mostra que esse tipo de operação não deve ser confundido com o sacrifício de homens-bomba japoneses no contexto de operações de guerra. Cf. François Geré, “Operações suicidas entre a guerra e o terrorismo”, in Gérard Chaliand e Arnaud Blin, História do terrorismo , op. cit. , p. 399. 14 . Farhad Khosrokhavar, “A vitória de Osama bin Laden”, Le Monde , 23 de novembro de 2001. E seu livro Les Nouveaux Martyrs d'Allah , Paris, Flammarion, 2002. 15 . Marc Sageman, Understanding Terror Networks , Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004. 16 . Jean Delumeau, medo no Ocidente, xiv th XVIII th século. Une cité besiege , Paris, Fayard, 1978. 1994, e a pesquisa de Vesna NikolicRistanovi, Women, Violence and War. War Time Victimization of Refugees in the Balcans (Belgrado, 1995), Budapeste, Central University Press, 2000. 17 . Como a ex-Ministra da Família e Promoção da Mulher, Pauline Nyiramasuhuko. Originária da região de Butare, ela incitou principalmente o estupro de mulheres tutsis no estádio onde os tutsis estavam reunidos (seu próprio filho fazia parte da milícia Interahamwe). Veja seu retrato no Courrier International , 14 a 20 de novembro de 2002. 18 . Consulte o site do Tribunal Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia (julgamento de Kunarac e outros): http://www.un.org/icty. 19 . Citado por Tim Judah, The Serbs , op. cit. , p. 236. 20 . Veja, a esse respeito, as interessantes reflexões de dois autores franceses já conhecidos por seus trabalhos sobre violência: Michel Wieviorka, La Violence , Paris, Balland, 2004, e Philippe Braud, Violences politique , op. cit . 21 . Citado por Tim Judah, The Serbs , op. cit. , p. 84 22 . Jadranka Cacic-Kumpes, “War, Ethnicity and Rape. O caso das mulheres refugiadas da Bósnia ”, no Livro Negro da ex-Iugoslávia. Limpeza étnica e crimes de guerra , documentos coletados por Le Nouvel Observateur e Reporters Without Borders, Paris, Arléa, 1993, p. 439-444. 23 . Veja a intervenção de Xavier Bougarel no CERI no grupo de investigação “Faire la paix. Do crime em massa à construção da paz ”, 15 de novembro de 2001: os relatórios do carrasco / vítima; disponível na Internet: www.ceri-sciences-po.org. 24 . Outros autores também mostraram a relevância da análise de atrocidades como um cálculo, como Paul Richards e Krijn Peters sobre o conflito em Serra Leoa: "Por que lutamos: Vozes de Combatentes Jovens em Serra Leoa", África , 68 (2), 1998, p. 183210. Na mesma linha de pensamento, ver Stathis N. Kalyvas, “Guerras civis após o fim da Guerra Fria”, em Pierre Hassner e Roland Marchal (eds.), Guerres et Sociétés , op. cit. , p. 107-135. 25 . Entrevista com Joël Hubrecht, 14 de outubro de 2004. 26 .
Citado por Gitta Sereny, Au fond des ténèbres , op. cit. , p. 107 27 . Primo Levi, Si c'est un homme , op. cit. , "Apêndice", p. 210. 28 . Citado por Jean Hatzfeld, Une saison de machetes , op. cit. , p. 60 29 . Eric Voegelin, Hitler e os Alemães , University of Missouri Press, 1999, p. 105 30 . Roger Caillois, Bellone ou o declive da guerra , Paris, Nizet, 1963, p. 211. 31 . Dia 16 de agosto de 1870, é a festa de Hautefaille, esta pequena aldeia do norte do Périgord onde tradicionalmente se encontram os camponeses dos arredores. Mas é também o início da guerra com a Prússia e a primeira derrota da França. Um grupo de camponeses atacou repentinamente um jovem nobre que passava e que teria gritado: "Viva a República!" Em clima de festa, vão torturá-lo em público e, eventualmente, matá-lo como um animal, depois se gabando de ter "assado um prussiano". Ver Alain Corbin, Le Village des cannibales , Paris, Aubier, 1990. 32 . Alison Des Forges (ed.), No Witness Should Survive , op. cit. , p. 247. 33 . Jean-Pierre Vernant, “O indivíduo, amor, morte”, Eu e o outro na Grécia Antiga , Paris, Gallimard, 1989, p. 41-79.
Apêndices
APÊNDICE I Investigue um massacre A realização empírica de estudos de caso constitui um primeiro e essencial processo investigativo para se libertar de abordagens ideológicas e normativas. É uma questão de reconstituir os fatos, quase como uma investigação policial. No entanto, essa tarefa é muito difícil, pois o massacre é frequentemente realizado em segredo. Portanto, as perguntas básicas são sempre: quem matou e quem matou? Quem está morto ? Quem pode testemunhar o que aconteceu? Este tríptico do agressor, da vítima e da testemunha constitui o “triângulo básico” de qualquer estudo sobre o massacre; estudo que deve, evidentemente, conhecer as condições sócio-históricas do testemunho oral, além da possível coleta de documentos escritos. Investigar o massacre freqüentemente desperta desconforto em quem busca saber e compreender. Para ajudá-lo em seu processo, desenvolvi um questionário que pode ser útil para realizar esta investigação inicial. Deve ser considerado como uma primeira ferramenta de trabalho, possibilitando o início da coleta de dados. Então, quando alguém "entra" no caso estudado, novas questões surgem por si mesmas. Então o caso começa a "falar" e o questionário se torna menos necessário. A passagem da fase de estudo de caso para a de uma análise comparativa é uma nova fase particularmente delicada (ver Anexo II ).
a) Quem matou?
- Podemos entender melhor o perfil dos assassinos (idade, sexo, origem social, etc.)? - Seus motivos: agem com o objetivo de conquista territorial, dominação política ou “purificação”? - Em que medida a comissão do massacre proporciona benefícios políticos a certos atores no conflito? - Quais são os riscos econômicos do massacre?
b) A escolha das vítimas
- Os civis são mortos aleatoriamente ou de forma discriminatória (por exemplo, com base em listas de nomes, categorias profissionais, critérios políticos, religiosos, étnicos)?
- Os homens são separados das mulheres antes de serem mortos? - As mulheres são sistematicamente mortas, assim como as crianças e os idosos? - Como estimar o número de vítimas, de acordo com a idade, sexo, situação profissional, etc. ? - Quais são os problemas colocados pela quantificação das vítimas e sua identificação? - Para uma cartografia do massacre?
c) A construção de figuras do “inimigo”
- Quais são as representações do “inimigo” a ser destruído? - Qual é o universo imaginário e ideológico dos assassinos? - Como analisar os temas da propaganda que precedem e acompanham o massacre? - Que importância deve ser atribuída ao medo e ao sentimento de insegurança coletiva, relacionados com o agravamento de uma situação económica?
d) As modalidades do massacre
- Podemos discriminar claramente as principais fases do processo penal (preparação, decisão e implementação)? - Descreva a sua "metodologia" (massacres in loco, deportações-abandonos, centros de extermínio)? - O que nos diz a natureza das armas utilizadas? - As vítimas são mortas de forma fria e racional ou com selvageria? - Os temas sexuais e as práticas de estupro estão sempre associados ao ato de massacre?
e) A temporalidade do massacre
- Os sinais de alerta: quais são os possíveis indicadores da ruptura do vínculo social entre as futuras vítimas e seu entorno imediato? - Existe um “momento” do massacre em relação à situação política interna do país, à situação internacional?
- Um contexto de guerra e a decomposição de um império? - As atitudes do meio próximo ou distante: há consentimento tácito ou gestos de protesto, ou mesmo ações de resgate das vítimas?
f) Efeitos políticos e de mídia
- Houve o desejo de encobrir o massacre ou de torná-lo conhecido? Então, tentamos fazer desaparecer os corpos ou exibi-los? - O evento exerce influência política no conflito em curso e de que forma? - Fornece nova legitimidade a certos atores? - Como se espalha a notícia sobre ele? - Permanecerá desconhecido por muito tempo ou será imediatamente revelado? - Foi cometido com o objetivo de assustar potenciais vítimas? Para fazê-los fugir de um território cobiçado? Para desencadear um movimento de desestabilização política?
g) Os discursos do “depois”
- Do lado da testemunha: quem sabe "realmente" o que aconteceu? Análise da estrutura das histórias de jornalistas e membros de ONGs. - Do lado dos possíveis sobreviventes: quem pode falar? Quem pode dizer o horror? Como distinguir entre realidade, distorções e fabricações? - Do lado dos perpetradores do massacre: discurso da negação ou reclamação do crime? Culpa impossível?
APÊNDICE II Compare os massacres As abordagens comparativas são uma das maneiras mais frutíferas de avançar nosso conhecimento nas ciências sociais. Existe, portanto, uma história comparada, uma sociologia comparada, a fortiori uma ciência política comparada, que tem sido justificada por muitos autores, a começar por Max Weber . Não é este o lugar para voltarmos à legitimidade, às condições e aos limites do exercício da comparação, questão que tem dado origem a uma vasta literatura . O trabalho de comparação não é menos difícil e arriscado. Difícil, porque o comparativista pretende adquirir um conhecimento aprofundado de vários eventos históricos (ou regimes políticos), relativos a diferentes países, o que exige de sua parte um considerável esforço de bolsa. Arriscado, porque o comparativista pode então ir à frente de possíveis objeções, formuladas por um colega especialista nomeado de um único país, que terá um conhecimento ainda mais erudito. É por isso que o trabalho de comparação implica de fato um processo coletivo de discussão e cooperação entre pesquisadores; ainda é necessário então que eles concordem não apenas sobre um questionamento comum, mas também sobre a natureza dos casos a serem comparados e a forma de compará-los. No entanto, esses problemas metodológicos muitas vezes se transformam em questões de memória, senão em batalhas ideológicas e de identidade, como mostraram as polêmicas em torno dos crimes do comunismo e do nazismo, ou sobre a singularidade da Shoah. Isso ocorre porque o trabalho de comparação aqui se refere a um dos “objetos” mais sensíveis. Na verdade, não consiste, por exemplo, em comparar estruturasdiferentes estruturas moleculares ou grupos geológicos de várias áreas geográficas ... Não, trata-se de comparar as várias práticas de massacres de populações, ou seja, os processos de morte em massa e, portanto, correlativamente, poderes que têm assassinados, cadáveres que ainda clamam sua inocência, sobreviventes que ainda podem carregar na carne as consequências dessas tragédias, que exigem justiça, vingança ou reparação. As cargas emocionais associadas ao “objeto do massacre” podem, portanto, lançar dúvidas sobre a possibilidade de implantar uma abordagem científica verdadeira para ele. A esse respeito, não há dúvida de que a comparação dos massacres levanta, em primeiro lugar, a questão da “neutralidade” de quem concorda ou não em comparar. Porque o pesquisador pode estar mais diretamente preocupado com uma dessas tragédias, sentindo-se mais próximo dela por causa de sua história comunitária ou de suas convicções políticas. É, portanto, compreensível que sinta maior compaixão por um determinado grupo de vítimas, a quem negligencia, ou mesmo recusa, a realidade dos sofrimentos de um grupo diferente do seu - em suma, que o seu raciocínio se desvia para o em causa exclusiva de tal ou tal poder. Compreensível, mas não aceitável do ponto de vista da profissão de pesquisador. Como então ele pode ignorar suas filiações e emoções? Primeiro, vamos identificar as principais armadilhas ou becos sem saída da comparação. 1
2
As armadilhas da comparação: equivalência e singularidade Um dos erros mais comuns é pensar que os assassinatos em massa tendem a ser equivalentes, principalmente no que diz respeito à contagem dos mortos. Portanto, tendemos a colocar no mesmo nível exemplos históricos muito diferentes, em que as vítimas chegam a centenas de milhares, até milhões. Então, na escala da destruição humana em massa, qual é o ponto de apoiar "diferenças" entre os mortos? O exercício parece desnecessário, senão indecente no que diz respeito à sua memória. Porque de acordo com quais critérios decretar que as vítimas em tal caso são "mais importantes" do que em outro? O sofrimento de todos não é incomensurável? Introduzir um trabalho de comparação nessas bases é ir direto ao fracasso por despertar acalorada controvérsia. A publicação do Livro Negro do Comunismo, em particular, ampliou tais debates, muitas vezes apaixonados, alguns tendo defendido a ideia de que, emNo que diz respeito ao número de mortes atribuíveis às potências comunistas, os crimes perpetrados por estes regimes “valem” os do nazismo, senão os ultrapassam. Essa ideia é explicitamente formulada na introdução da obra, na qual Stéphane Courtois escreve: “A morte de um filho de kulak ucraniano, deliberadamente forçado a morrer de fome pelo regime stalinista,“ vale ”a morte de fome de uma criança judia do gueto de Varsóvia, levada à fome pelo regime nazista . Mas em que escala de medida o autor se posiciona quando fala assim de mortes que são "iguais"? Por conta disso, ele não poderia adiantar que, além do processo usado para matar, a morte de uma criança judia ou ucraniana “vale também” a morte de uma criança alemã ou japonesa esmagada pelas bombas do Aliados em Dresden ou Hiroshima? Na verdade, tal assertiva, em sua aparente equivalência simétrica (fome em ambos os casos) e emocional (morte de um filho), é uma forma não de introduzir a comparação, mas sim de colocá-la "fora do jogo". fazendo crer que os dois eventos são semelhantes do ponto de vista humano. Este raciocínio equivale, portanto, a instrumentalizar o argumento moral (a morte de crianças por definição inocentes) para neutralizar uma reflexão comparativa que visaria mostrar as diferenças de natureza entre os poderes que estiveram na origem de tais tragédias. No entanto, trabalhos coletivos visando comparar os dois sistemas nazista e stalinista, dirigidos respectivamente pelos historiadores Ian Kershaw e Moshe Lewin por um lado, e Henry Rousso por outro, ajudaram a mostrar como esses dois sistemas totalitários eram diferentes . Por outro lado, defender a todo custo a singularidade ou a singularidade de um acontecimento histórico, como fizeram certos estudiosos da Shoah, é querer fechar-se a qualquer abertura comparatista: como a Shoah é única, ela não é comparável. Sem dúvida, essa atitude é em parte uma reação à primeira, que, em nome de uma suposta "equivalência", visa banalizar ou relativizar a destruição dos judeus europeus. Mas essa posição de singularidade não é sustentável do ponto de vista científico, uma vez que qualquer evento histórico é, em princípio, singular! A Revolução Americana é um fato único. A Revolução Francesa também é um evento único.Mas isso não impediu que Tocqueville nos oferecesse um trabalho admirável, baseado justamente na comparação entre esses eventos e os sistemas políticos deles decorrentes. Isso é óbvio: um fato ou evento pode ser singular, diferente de outro por uma ou mais características marcantes, sem ser diferente em tudo. Assim, do ponto de vista das ciências sociais, nenhum acontecimento pode ser "extraído" da história ou colocado em uma posição de transcendência histórica. Além disso, essa abordagem 3
4
foi justamente criticada por certos historiadores judeus da Shoah, como Yehuda Bauer, que questionaram a posição a-histórica, de natureza religiosa ou metafísica, defendida, por exemplo, pela escritora Élie Wiesel . Obviamente, a qualidade da obra literária e o grande valor do testemunho do autor de La Nuit não estão em questão aqui. Da mesma forma, Annette Wieviorka ou Omer Bartov reconhecem a existência de outros genocídios e estão abertos ao exercício da comparação . Ademais, os defensores da singularidade podem ser tirados de seus próprios discursos: se o objetivo é demonstrar que a Shoah é um evento sem precedentes, então devemos aceitar o trabalho de comparação com outros assassinatos em massa, passar do postulado de princípio à demonstração. Esta é apenas uma questão simples de consistência intelectual. Na realidade, não há nenhuma contradição fundamental ao afirmar que um evento de massacre é tanto única e comparável: é de admitir que as suas características são tanto o singular como o universal. 5
6
7
Metodologias de comparação Mas como podemos avançar no desenvolvimento de uma metodologia nesta área? Desenvolver estudos comparativos já implica em se libertar do "pathos" do confronto ideológico nazismo / comunismo, ou mesmoda questão do "totalitarismo", abrindo-se para a análise de casos que não se enquadram nela. Esta é uma das razões que nos levaram a estudar a história de Ruanda até o genocídio de 1994. Mas agrupar estudos de caso muito diferentes também não é satisfatório. Muitos livros são publicados neste campo que são, na realidade, apenas baseados em uma simples justaposição de exemplos históricos bastante heterogêneos. A contribuição dessas obras para uma reflexão comparativa é fraca, quase nula. A grande dificuldade reside em passar desta coleção de estudos de caso para sua análise comparativa coerente. Nessa perspectiva, um dos primeiros passos envolve o desenvolvimento de uma noção comum que pode ser usada para classificar os eventos a serem comparados. Nesse sentido, os primeiros trabalhos adotaram como conceito mínimo o de "genocídio" a partir da definição adotada pelas Nações Unidas em 1948. Sabemos, no entanto, as espinhosas dificuldades colocadas pela adoção desse conceito jurídico nas ciências sociais. Por isso preferi tomar como unidade de referência o “massacre”, sem prejulgar o que é ou não é genocídio. Mas, na medida em que a noção de massacre ainda se refere a uma multiplicidade de casos heterogêneos, a pesquisa se limitou a examinar a mesma classe de eventos: os relativos a uma dinâmica de erradicação . O que resta então é o mais delicado e o mais perigoso: construir o procedimento concreto para sua comparação. Uma das formas mais frequentes é evidenciar os pontos de semelhança e diferença entre os casos estudados. Por exemplo, o cientista político Robert Melson foi um grande pioneiro nessa área, comparando de forma completa e perspicaz os genocídios armênio e judeu . Note que esta forma de comparação não significa, de forma alguma, nivelar as diferenças, mas sim destacálas, sem mascarar o que os acontecimentos possam ter em comum . O exercício de comparação pode, no entanto, ser levado mais longe, se conseguimos construir questões comuns entre os eventos analisados, que podem dar conta de suas especificidades . Por "problemática" entendo questões transversais a todos os casos, suscetíveis de uma certa teorização, cujas respostas podem ser decompostas de maneiras diferentes de acordo com as 8
9
10
situações históricas examinadas. Neste livro, por exemplo, essas questões enfocam o papel da imaginação e da ideologia, a crise do estado e a violência sacrificial, o contexto internacional e a guerra, etc. Assim, a conceitualização comparativa permite destacar cada caso estudado. Esta abordagem também foi defendida na história por Paul Veyne: “conceituar para individualizar”. Adotamos aqui uma perspectiva bastante próxima: problematizar para diferenciar . Para tal, o questionário do inquérito (Anexo I ) constitui um instrumento de trabalho essencial. A pesquisa de Norman Naimark e Eric Weitz se enquadra em parte nessa perspectiva . Eles tomam como base de trabalho um número limitado de casos que os autores submetem ao mesmo questionamento comparativo. No entanto, este livro é baseado em uma abordagem ainda mais ambiciosa. De fato, os livros de Naimark ou Weitz são em sua maioria compostos de monografias históricas, que depois submetem a um exame comparativo. Achei possível pular essa etapa para oferecer imediatamente ao leitor uma construção problemática cujo índice remissivo reflete a estrutura fundamental. A partir daí, o princípio geral da redação consistiu num vaivém constante entre o singular e o geral, o universal e o particular, tudo numa perspectiva multidisciplinar. Nem é preciso dizer que só fui capaz de me engajar em tal exercício depois de um longo amadurecimento de vários anos e que, dada a complexidade de tal metodologia de análise, discussão e crítica me parecem mais do que o necessário para avançar, desde que sejam conduzidos com rigor. 11
APÊNDICE III Uma enciclopédia eletrônica de massacres e genocídios Projeto apoiado pelo CNRS e Sciences Po http://www.encyclo-genocides.org O XX século foi marcado pelo progresso do direito internacional, que se concretizou em 2002 com a criação do Tribunal Penal Internacional. Tal evolução deve-se obviamente à multiplicidade e extensão dos casos de destruição de populações civis nas últimas décadas, que os juristas queriam reprimir e prevenir criando novos padrões legais, como as noções de crimes de guerra, crime contra a humanidade ou crime de genocídio. Paralelamente a esta evolução do direito, é imprescindível a criação de um instrumento de referência, de carácter enciclopédico, que reúna o nosso conhecimento em termos de destruição de populações civis do ponto de vista das ciências sociais. É claro que os trabalhos de história, ciência política, sociologia já possibilitaram avanços importantes na análise de tal e tal caso de massacre ou genocídio. Mas as contribuições fornecidas por tais pesquisas são geralmente dispersas e, especificamente, precisam ser reunidas. Além disso, ainda há muito a ser feito para explorar a história de assassinatos menos estudados. A ambição principal desta enciclopédia é compensar essas deficiências, oferecendo atualizações historiográficas, bem como análises contextualizadas sobre casos conhecidos ou menos conhecidos de massacres. ª
1. Objetivos O projeto desta enciclopédia visa criar e atualizar uma base documental eletrônica sobre massacres e genocídios. Ele está empregado desde o outono de 2003 como parte do Centre d'études et depesquisa internacional (CERI) da National Foundation for Political Science. A constituição de tal ferramenta de referência está de fato se tornando cada vez mais essencial para todos aqueles que trabalham com violência, guerra e paz - atores estatais e não-estatais em conflito frequentemente fazendo referência em seus discursos a massacres e atrocidades do passado (comprovadas ou não) para justificar e legitimar sua própria violência. Porém, até o momento, não existe essa base documental capaz de reunir nosso conhecimento na matéria. Este banco de dados, único em seu tipo, pode então ser útil não apenas para o estudante e o pesquisador, mas também para advogados ou especialistas internacionais, para membros de ONGs e, de forma mais ampla, para quem deseja consulte um resumo histórico sobre um caso particular de massacre, perpetrado em tal e tal ano em tal e tal país, etc. Todas as informações disponibilizadas neste site serão redigidas em inglês. Mas o objetivo é também apresentar os dados relativos a cada país em sua língua vernácula.
2. Por que um site eletrônico? Por que escolher um site eletrônico? O suporte da tecnologia de computador (e da Internet) é particularmente criterioso para tal empresa. Na verdade, essa tecnologia permite muito mais flexibilidade de uso do que a produção de uma enciclopédia "clássica" no formato de um livro de "papel". Isso torna mais fácil atualizar o conhecimento, fazer novas atualizações, etc., sem incorrer em custos de impressão significativos. Além disso, a consulta de uma enciclopédia na Internet corresponde muito mais aos reflexos das gerações mais novas. Além disso, a acessibilidade à “Web”, em todo o mundo, tende a se expandir mesmo que os estados imponham restrições. Essa tecnologia, de fato, permite uma disseminação do conhecimento mais ampla do que a edição, sempre necessária, porém mais restrita, do livro. O seu interesse ainda reside na sua possível interactividade, na medida em que pode gerar contribuições (dos países em causa) susceptíveis de serem colocadas online desde que cumpram os critérios científicos da enciclopédia. Para valorizar todas estas potencialidades, é importante que o site esteja disponível para consulta gratuita, em qualquer caso não tendo vocação comercial. Projeto de vocação universal, esta enciclopédia deve ser considerada um serviço público universal. 3. Apresentação do site da enciclopédia A primeira dificuldade já consiste em saber nomear os eventos elencados, além das questões de memória específicas de cada grupo vítima de tais atrocidades. O interesse da noção de "massacre" é que não é normativo e, portanto, não implica uma qualificação jurídica particular. No entanto, o termo "genocídio" é adicionado porque se tornou costumeiro na matéria (mesmo que seu uso seja frequentemente abusivo). Portanto, é imprescindível colocá-la no título para facilitar o acesso ao site do internauta que buscará informações sobre o assunto utilizando a palavra-chave "genocídio" ". Mas isso não prejudica a forma como os casos serão analisados. Nesse sentido, a enciclopédia não pretende impor esta ou aquela definição de genocídio, mas antes colocá-las em debate, deixando ao leitor a liberdade de formar sua opinião. A estrutura do site será organizada por continentes e por país. Para cada país, os casos listados serão listados em ordem cronológica. O primeiro objetivo é obra sobre a história do XX século. Mas a análise mostra que muitas vezes é relevante mergulhar em uma história mais antiga. Em última instância, o objetivo é também oferecer itens relacionados com a história do XIX século, ou mesmo antes. Cada caso será analisado a partir de um questionamento comum, a partir do qual serão formadas as seções específicas desta enciclopédia. Aqui está a lista indicativa: - o contexto (guerra civil, guerra colonial, guerra mundial); - os responsáveis e os responsáveis pelo massacre; - as vítimas ; - testemunhas; - recordações ; - interpretações e qualificações dos fatos; - possíveis consequências jurídicas; - Comissões “Verdade e Reconciliação”; - lugares de memória (sites ou museus); - bibliografia. °
°
Para cada um desses itens, podemos acessar subtítulos, ou mesmo ilustrações específicas (fotos, mapas, discursos, etc.). Dependendo do caso, serão oferecidos links com sites mais especializados. O objetivo de tal projeto é ajudar a reunir e estruturar dados empíricos essenciais sobre os massacres, por um lado, e oferecer análises multidisciplinares desses eventos, por outro lado. Nesse sentido, os dois verbetes importantes da enciclopédia levarão à consulta: - diretórios históricos de eventos definidos como “massacres” para cada país (nível 1); - vários estudos de caso de massacres, analisados de acordo com a grelha apresentada acima (nível 2). Os problemas de definição e metodologia colocados pela elaboração desses dados são objeto de notas específicas, que serão comunicadas a qualquer contribuidor potencial antes que ele comece a escrevê-los. Por fim, a enciclopédia oferecerá: - um glossário dos termos mais utilizados nesta área de estudo; - vários textos reflexivos escritos pelos autores que expressam as correntes de investigação mais representativas. Um comitê científico internacional será responsável por validar os trabalhos dos colaboradores da enciclopédia antes de serem divulgados em seu site. O diretor do projeto, em estreita colaboração com os membros desta comissão científica, estará muito vigilante para evitar qualquer instrumentalização do site para fins militantes, políticos ou comunitários. O objetivo desta enciclopédia é antes de tudo estabelecer-se como uma ferramenta de referência do ponto de vista do conhecimento científico. Em última análise, espera-se que a criação deste site estimule os esforços de investigação nesta área nos países em causa, promovendo assim a criação de equipas locais de investigadores, cujos resultados poderão então ser colocados online. 4. Comitê científico internacional Omer Bartov (Estados Unidos), Hamit Bozarslan (França), Philippe Burrin (Suíça), Frank Chalk (Canadá), Abram de Swaan (Holanda), Ignacio Fernandez de Mata (Espanha), Henry Huttenbach (Estados Unidos) , Christophe Jaffrelot (França), Ben Kiernan (Estados Unidos), Jean-Louis Margolin (França), Dirk Moses (Austrália), Norman Naimark (Estados Unidos), Dieter Pohl (Alemanha), Samantha Power (Estados Unidos) , Valérie Rozoux (Bélgica), Gonzalo Sanchez (Colômbia), William Shabbas (Irlanda), Martin Shaw (Inglaterra), Nicolas Werth (França), Eric D. Weitz , (Estados Unidos), Jürgen Zimmerer (Portugal). 1. Arjun Appaduraï, “Incertezas e Violência Étnica. The Era of Globalization ”, Public Culture , vol. 10, n ° 2, 1998, p. 909. 2. Christopher Taylor, Terror and Sacrifice. Uma abordagem antropológica ao genocídio de Ruanda , Toulouse, Octarès, 2000, p. 171 3. Ibid. , p. 176 4.
Alexander L. Hinton (ed.), Genocide. An Anthropological Reader , Malde-Oxford, Blackwell, 2002, e Anihilating Difference. The Anthropology of Genocide , São Francisco, California University Press, 2002. 5. Jean Améry, Além do crime e da punição , op. cit. , p. 71 6. Nesse sentido, os trabalhos de literatura comparada relativos à compreensão das expressões de violência e crueldade me parecem plenamente justificados, assim como Catherine Coquio na França. Ver seu próprio texto em Catherine Coquio (ed.), Parler des camps, rire les génocides , Paris, Albin Michel, 1999. 7. Georges Bataille, Le Procès de Gilles de Rais , em Obras Completas , Paris, Gallimard, 1987, t. X, pág. 487 sq . 8. Primo Levi, “A área cinzenta”, em The Shipwrecked and the Survivors , op. cit. , p. 36-69. 9. Citado por Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie , op. cit. , p. 110 10 . Jacques Sémelin, Sem armas enfrentando Hitler , op. cit . 11 . Raymond Aron, De la condition historique du sociologue , Paris, Gallimard, 1970.
Bibliografia selecionada Esta bibliografia apresenta os trabalhos mais representativos que estudam os processos de violência extrema, massacres e genocídios por meio de abordagens comparativas. Portanto, não inclui obras sobre a guerra em si, nem mesmo aquelas que tratam de um caso específico de massacre ou genocídio. Esta bibliografia é enriquecida com outros títulos sobre temas relacionados - direito internacional, as Comissões da Verdade e Reconciliação, a prevenção do genocídio - e finalmente indica revistas ou sites especializados. Violência extrema e genocídio Trabalhos pessoais A LVAREZ , Alex, Governos, Cidadãos e Genocídio. A Comparative and Interdisciplinary Approach , Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 2001. A RENDT , Hannah, Eichmann em Jerusalém. Relatório sobre a banalidade do mal , Paris, Gallimard, 1966. B AUER , Yehuda, Rethinking the Holocaust , New Haven, Yale University Press, 2001. B AUMAN , Zygmunt, Modernity and the Holocaust , Cambridge, Polity Press, 1989. B ELL -F IALKOFF , Andrew, Ethnic Cleansing , Nova York, Saint Martin's Press, 1996. B RAUD , Philippe, Violência política , Paris, Le Seuil, coll. “Points Essais”, 2004. B RUNETEAU , Bernard, Le Siècle des génocides. Violência, massacres e processos genocidas da Armênia a Ruanda ,Paris, Armand Colin, 2004. C HAUMONT , Jean-Michel, The Competition of Victims , Paris, La Découverte, 1997. F EIN , Helen, Genocide. A Sociological Perspective , Londres, Sage Publications, 1990. H ASSNER , Pierre, Violence and Peace , t. I: Da bomba atômica à limpeza étnica , Paris, Le Seuil, col. "Points", 2000; t. II: La Terreur et l'Empire , Paris, Le Seuil, 2003. H OLSTI , Kalevi J., The State, War, and the State of War , Cambridge, Cambridge University Press, 1996. H OROWITZ , Donald L., Deadly Ethnic Riots , Berkeley, University of California Press, 2001. J AULIN , Robert, La Paix blanche. Introdução ao etnocídio , Paris, Le Seuil, 1970. K NUTH , Rebecca, Libricide. The Regim Patrocinou a Destruição de Livros e Bibliotecas no Século XX , Westport, Praeger, 2003. K OTEK , Joël e R IGOULOT , Pierre, Le Siècle des camps. Detenção, concentração, extermínio: cem anos de mal radical , Paris, Jean-Claude Lattès, 2000. K UPER , Leo, Genocide. Seu uso político no século 20 , New Haven, Yale University Press, 1981. LEVENE , Mark, Genocídio na Era do Estado-nação, IB Tauris Publishers, 2005. M ANN , Michael, The Dark Side of Democracy. Explicando Ethnic Cleansing , Cambridge, Cambridge University Press, 2005. M ARKUSEN , Eric e K OPF , David, The Holocaust and Strategic Bombing. Genocide and Total War in the Twentieth Century , Boulder, Westview, 1993. M AZOWER , Mark, Dark Continent. Europe's Twentieth Century , Londres, Allen Lane, Penguin Press, 1998.
M
, Robert, Revolution and Genocide. Sobre as Origens do Genocídio Armênio e do Holocausto , Chicago, University of Chicago Press, 1992. M IDLARSKY, Manus, The Killing Trap. Genocide in the Twentieth Century , Cambridge, Cambridge University Press, 2005. N AIMARK , Norman M., Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in the Twentieth-Century Europe , Cambridge, Harvard University Press, 2001. P OWER , Samantha, A Problem from Hell. America and the Age of Genocide , New Republic BookBasic Books, 2002. R EVAULTD 'A LLONNES , Myriam, O que o homem faz ao homem. Ensaio sobre o mal político , Paris, Le Seuil, 1995. R UMMEL , Rudolph J., Death by Government , New Brunswick-London, Transaction Publishers, 1994. S ÉMELIN , Jacques, Analise o massacre. Reflexões comparativas , Paris, CERI, col. “Questions de recherche / Research in Question”, 2002; acessível na Internet: http://www.cerisciencespo.com/cerifr/publica/ question / menu.htm. S HAW , Martin, War and Genocide. Organized Killing in Modern Society , Cambridge, Polity Press, 2003. S IRONI , Françoise, Executioners and Victims. Psicologia da tortura , Paris, Odile Jacob, 1999. S OFSKY , Wolfgang, Traite de la Violence , Paris, Gallimard, 1998. S TAUB , Ervin, The Roots of Evil. The Origins of Genocide and Other Group Violence , Cambridge, Cambridge University, Press, 1989. T ATZ , Colin M., com intenção de destruir. Reflecting on Genocide , Londres-Nova York, Verso, 2003. T ERNON , Yves, The Criminal State. Os genocídios da XX século , Paris, Le Seuil, 1995. T ILLY , Charles, The Politics of Collective Violence , Cambridge, Cambridge University Press, 2003. T ODOROV , Tzvetan, Enfrentando o extremo , Paris, Le Seuil, 1990. U EKERT , Brenda K., Rivers of Blood. A Comparative Study of Government Massacre , Westport, Praeger, 1995. V ALENTINO , Benjamin A., Soluções Finais. Mass Killing and Genocide in the 20th Century , Ithaca-London, Cornell University Press, 2004. W EITZ , Eric D., A Century of Genocide. Utopias of Race and Nation , Princeton, Princeton University Press, 2003. W IEVIORKA , Michel, La Violence , Paris, Balland, 2004. ELSON
th
Trabalhos coletivos A NDREOPOULOS , George J. (ed.), Genocide. Conceptual and Historical Dimensions , University of Pennsylvania Press, 1994. A UDOIN -R OUZEAU , Stéphane, B ECKER , Annette, I NGRAO , Christian e R OUSSO , Henry, La Violence de guerre, 1914-1945 , Bruxelles, Complexe, 2002. B ARTOV , Omer e M ACK , Phyllis, Em nome de Deus. Genocide and Religion in the Twentieth Century , Oxford-New York, Berghahn Books, 2001. -, G ROSSMAN , Atina, e N OLAN , Mary, The Crimes of War. Guilt and Denial in the Twentieth Century , New York, The New Press, 2002.
C HALK , Frank e J ONASSOHN , Kurt, The History and Sociology of Genocide , New Haven, Yale University Press, 1990. C HARNY , Israel W. (ed.), Rumo à Compreensão e Prevenção do Genocídio. Proceedings of the International Conference on the Holocaust and Genocide , Boulder-London, Westview Press, 1984. - (ed.), O Livro Negro da Humanidade. World Encyclopedia of Genocides , Toulouse, Privat, 2001. -, P ARSONS , William S., e T OTTEN , Samuel, Century of Genocide. Eyewitness Accounts and Critical Views , New York, Garland, 1997. C HOBARDJIAN , Levon e C HIRINIAN , Georges, Studies in Comparative Genocide , New York, Saint Martin's Press, 1999. C OQUIO , Catherine (ed.), Falando sobre campos, pensando sobre genocídios , Paris, Albin Michel, 1999. C OURTOIS , Stéphane (ed.), Le Livre noir du communisme. Crimes, Terror, Repression , Paris, Robert Laffont, 1997. E L K ENZ , David (ed.), Le Massacre, objet d'histoire , Paris, Gallimard, 2005. F RIEDRICH , David O. (ed.), State Crime , Ashgate, Dartmouth Company, 1998. H ANNOYER , Jean (ed.), Guerras civis, dimensões da violência, economias da civilidade , Paris, Karthala, 1999. H ÉRITIER , Françoise (ed.), De la Violence , Paris, Odile Jacob, 1996-1999. H INTON , Alexander L. (ed.), Anihilating Difference. The Anthropology of Genocide , São Francisco, California University Press, 2002. - (ed.), Genocídio. An Anthropological Reader , Malde-Oxford, Blackwell, 2002. J ANSEN , Steven LB (ed.), Genocide. Casos, comparações e debates contemporâneos , Copenhague, Centro Dinamarquês para Estudos do Holocausto e Genocídio, 2003. J ONASSOHN , Kurt e B JORNSON, Karin Solveig, Genocide and Gross Human Rights Violations in Comparative Perspective , New Brunswick, Transaction, 1998. J ONES , Adam (ed.), Gendercide and Genocide , Nashville, Vanderbilt University Press, 2004. K IERNAN , Ben e G ELLATELY , Robert, Specter of Genocide. Mass Murders in Historical Perspective , Cambridge, Cambridge University Press, 2003. L EVENE , Mark e ROBERTS , Penny (orgs), The Massacre in History , Nova York, Bargain Books, 1999. R ADFORD , Jill e R USSEL , Diana (eds), Femicide. The Politics of Woman Killing , Buckingham, Open University Press, 1992. S HELTON , Dinah L. (ed.), Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity , Thomson Gale, 2005, 3 vol. S MITH , Robert W. (ed.), Genocide. Ensaios para a compreensão, alerta precoce e prevenção , Association of Genocide Scholars, 1999. VARDY, Steven Béla e T OOLEY , Hunt (eds), Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe, Nova York, Columbia University Press, 2003. Z ARTMANN , William (ed.), Collapsed States. The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority , Boulder, Lynne Rienner, 1995. Diários Genocídios. Lugares (e não lugares) de memória , Revue d'histoire de la Shoah , n ° 181, 2, 2004.
Les Usages politique des massacres , Revue internationale de politique comparée , vol. 7, n ° 1, primavera de 2001. Violência extrema , International Social Science Review , n ° 174, dezembro de 2004. Qualificação legal B ALL , Howard, Processando Crimes de Guerra e Genocídio. The Twentieth-Century Experience , Lawrence, University Press of Kansas, 1999. B ASS , Gary Jonathan, Fique a Mão da Vingança. The Politics of War Crimes Tribunals , Princeton, Princeton University Press, 2000. B EST , Goeffrey, Nuremburg e depois. The Continuing History of War Crimes against Humanity , Reading, University of Reading, 1984. B ETTATI , Mario, The Right to Interference. Mutation of the international order , Paris, Odile Jacob, 1996. B LOXHAM , Donald, Genocide on Trial. Julgamentos de Crimes de Guerra e a Formação da História e Memória do Holocausto , Oxford, Oxford University Press, 2003. B OUCHET -S AULNIER , Françoise, Dicionário Prático de Direito Humanitário , Paris, La Découverte-Syros, 2000. B OUSTANY , Kathia, e D ORMOY , Daniel (ed.), Génocide , Réseau Victoria, “Droit internacional”, Bruxelles, Bruylant-Éd. da Universidade de Bruxelas, 1999. D ELMAS -M ARTY , Mireille, Rumo a um direito comum da humanidade , Paris, Textuel, 2005. - (ed.), Justiça Criminal Internacional entre Passado e Futuro , Paris, Dalloz, 2004. D ELSOL , Chantal, La Grande Méprise. Justiça internacional, governo mundial, guerra justa , Paris, The Round Table, 2004. G ARAPON , Antoine, Crimes que não podemos julgar nem perdoar. Pela justiça internacional , Paris, Odile Jacob, 2002. G OLDSTONE , Richard J., For Humanity. Reflections of a War Crimes Investigator , New Haven, Yale University Press, 2000. G UTMAN , Roy e R IEFF , David (orgs), Crimes of War. What the Public Should Know , Singapore, Norton & Company Ltd, 1999. L EMKIN , Raphael, Axe's Rule in Occupied Europe , Washington, Carnegie, 1944. M ETTRAUX , Guenael, International Crimes and the Ad-Hoc Tribunals , Oxford, Oxford University Press, 2005. O SIEL , Mark, Mass Atrocity, Collective Memory and the Law , New Brunswick, Transaction, 1997. -, Obedecendo às ordens. Atrocity, Military Disciplines and the Law of War , New Brunswick, Transaction, 1999. S CHABAS , William, Genocide in International Law , Cambridge, Cambridge University Press, 2000. Construção da paz, justiça e reconciliação B
, Elazar, The Guilt of Nations. Restitution and Negociating Historical Injustices , Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001. C HESTERMAN , Simon, Just War or Just Peace? Intervenção Humanitária e Direito Internacional , Oxford, Oxford University Press, 2001. ARKAN
C
, Elizabeth, K UMAR , Chetan, e WERMESTER , Karin (ed.), Peacebuilding as Politics. Cultivating Peace in Fragile Societies , Boulder, Lynne Rienner, 2001. D ESTEXHE, Alain, The Humanitarian Impossible or two century of ambiguity , Paris, Armand Colin, 1993. F ATIC , Aleksander, Reconciliação via Tribunal de Crimes de Guerra? , Aldershot, Ashgate, 2000. H AYNER , Priscilla B., Unspeakable Truths. Enfrentando o Desafio das Comissões da Verdade , Nova York, Routledge, 2000. L EDERACH , John Paul, Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Societies , Washington, United Institute of Peace Press, 1997. L EFRANC , Sandrine, Política do perdão , Paris, PUF, 2002. M INEAR , Larry e W EISS , Thomas, Mercy under Fire. War and the Global Humanitarian Community , Boulder, Westview Press, 1995. M INOW , Martha, Between Vengeance and Forgiveness. Facing History after Genocide and Mass Violence , Boston, Beacon Press, 1998. N EWMAN , Edward e S CHNABEL , Albrecht (eds), Recovering from Civil Conflict. Reconciliation, Peace and Development , Londres, Frank Cass Publishers, 2002. O FF , Carol, O Leão, a Raposa e a Águia. A Story of Generals and Justice in Ruanda and Yugoslavia , Toronto, Random House Canada, 2000. P OULIGNY , Beatrice, que tinham prometido-nos a paz. Operações da ONU e populações locais , Paris, Presses de la FNSP, 2004. R OTBERG , Robert e T HOMPSON , Dennis (eds), Truth versus Justice: The Morality of Truth Commissions , Princeton, Princeton University Press, 2000. S TOVER , Eric e W EINSTEIN , Harvey (orgs), My Neighbour, My Enemy. Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity , Cambridge, Cambridge University Press, 2004. T EITEL , Ruti G., Transitional Justice , Oxford, Oxford University Press, 2000. T ERNON , Yves, On negationism . Memory and tabu , Paris, Desclée de Brouwer, 1999. OUSENS
Prevenção B UISSIÈRE , René, A Europa da prevenção de crises e conflitos , Paris, L'Harmattan, 2000. C ROKER , Chester A., HAMPSON , Fen Osler e A ALL , Pamela (eds), Herding Cats. Mediação Multipartidária em um Mundo Complexo , Washington DC, United States Institute of Peace Press, 1999. E VANS , Gareth e S AHNOUN , Mohamed, “The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), Appointed by the Government of Canada”, Foreign Affairs , vol. 81, n ° 6, novembro de 2002. A íntegra deste relatório também pode ser consultada na Internet: http://www.crisisweb.org. F EIN , Helen e A PSEL F REEDMAN , Joyce, Ensinando sobre Genocídio. Um guia para professores universitários ,Human Rights Internet, Instituto para o Estudo do Genocídio, Ottawa, Nova York, 1992. G URR , Ted. R, Minorias em risco. A Global View of Ethnopolitical Conflicts , Washington DC, United States Institute of Peace Press, 1993. - e D AVIES , John L., Preventive Measures. Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems , Lanham, Rowman & Littlefield, 1998.
H AMBURG , David A., No More Killing Fields. Preventing Deadly Conflict , New York, Rowman & Littlefield, 2002. H EIDENRICH , John G., How to Prevent Genocide. A Guide for Policymakers, Scholars and the Concern Citizen , Westport, Praeger, 2001. H ELTON , Arthur C., The Price of Indifference. Refugiados e Ação Humanitária no Novo Século , Oxford, Oxford University Press, 2002. R IEMER , Neal (ed.), Proteção contra Genocídio. Missão Impossível ? , Westport, Praeger, 2000. R OCARD , Michel, The Art of Peace , Biarritz, Atlantica, 1997. R UBIN , Barnett R. (ed.), Cases and Strategies for Preventive Action , Nova York, The Century Foundation Press, 1998. Diários Holocaust and Genocide Studies, Oxford, Oxford University Press. Journal of Genocide Research , Nova York, City College da City University of New York. Journal of International Criminal Justice , Oxford, Oxford University Press. Revue d'histoire de la Shoah , Paris, Centro de Documentação Judaica Contemporânea. Sites AMNESTY INTERNATIONAL : CENTER
FOR
http://www.amnesty.asso.fr.
HOLOCAUST
AND
GENOCIDE
STUDIES,
University
of
Minnesota:
http://www.chgs.umn.edu/index.html. , University of Maryland: http://www.cidcm.umd.edu. COLLECTIF INTERNATIONAL, fundada em Haia em maio de 1999, com o objetivo de acabar com os genocídios: http://www.genocidewatch.org. CENTRO DINAMARQUÊS PARA ESTUDOS DE HOLOCAUSTO E GENOCÍDIO : http://www.holocausteducation.dk/Default.asp. REDE EUROPEIA DE ESCOLARES DE GENOCÍDIO , criada em 2005 por acadêmicos europeus para promover a pesquisa sobre genocídios: http://www.enogs.com. GENOCIDE STUDIES PROGRAM , Yale University: http://www.yale.edu/gsp. GUTMAN , Roy, Site na Internet criado por iniciativa deste jornalista americano para despertar a consciência da opinião pública sobre as violações do direito internacional: http://www.crimesofwar.org. HOLOCAUST / GENOCIDE PROJECT , da Rede Internacional de Educação e Recursos: http://www.iearn.org/hgp. HUMAN RIGHTS WATCH , organização não governamental dedicada à proteção dos direitos humanos: http://www.hrw.org. IMPERIAL WAR MUSEUM , Londres: http://www.iwm.org.uk. ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ESCOLARES DE GENOCÍDIO , criada em 1995 por acadêmicos, principalmente norte-americanos, para desenvolver pesquisas sobre genocídios: http://www.isg-iags.org. Journal of Genocide Research : http://www.tandf.co.uk/journals/titles/ 14623528.asp. CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND CONFLICT MANAGEMENT
, uma organização não governamental internacional que oferece análises regulares de conflitos em curso a fim de contribuir para a prevenção de crises: http://www.crisisweb.org. Journal of Holocaust and Genocide Studies : http://hgs.oupjournals.org. INSTITUTO MONTREAL DE ESTUDOS DE GENOCÍDIO E DIREITOS HUMANOS : http://migs.concordia.ca. TRIBUNAL CRIMINAL INTERNACIONAL PARA A EX-JUGOSLÁVIA : http: //www.un. org / icty / indexf.html. TRIBUNAL CRIMINAL INTERNACIONAL PARA RUANDA : http://www.ictr.org/ index.htm. MUSEU DO MEMORIAL DO HOLOCAUSTO DOS ESTADOS UNIDOS , Washington: http://www.ushmm.org. INTERNATIONAL CRISIS GROUP
Índice de nomes Adorno, Theodor: 330, 339. Águias brancas: 233, 290. Akazu : 208. Allcock, John B: 43, 90, 262. Allen, William: 52. Aly, Götz: 206, 207, 405. Améry, Jean: 124, 125, 129, 358, 359. Ancoma, Leonardo: 312. Anderson, Benedict: 46. Andric, Ivo: 148. Annan, Kofi: 237, 369, 435. Anzulovic, Branimir: 111. Appadurai, Arjun: 357. Arendt, Hannah: 52, 279, 317, 329, 338-342, 395, 405, 441. Arkan (os Tigres de): 105, 171, 223, 233, 308. Armênios: 18, 142, 168, 218, 273, 280, 368, 378, 460-461. Aron, Raymond: 69, 70, 132, 363, 427. Arusha (acordes de): 151, 158-159, 172-173, 210, 211. Audoin-Rouzeau, Stéphane: 163, 179. Auschwitz: 11, 17, 76, 87, 185, 207, 246, 247, 274, 281, 330, 360-361, 365, 387, 460.
Babi-Yar: 28, 225. Badinter, Robert: 138, 436. Bagosora, Théoneste: 174-175, 205, 208, 210, 223, 227, 253. Baljvine: 264. Balladur, Edouard: 196. Bankier, David: 132, 243, 246. Barbarossa (operação): 170. Barth, Karl: 109, 174. Bartov, Omer: 13, 123, 147-148, 170, 226, 243, 306, 348, 460. Basic, Natalija: 289, 296, 320-321. Battle, Georges: 360-361. Bauer, Yehuda: 181, 460. Bauman, Zygmunt: 17, 76, 224, 286, 403. Bax, Marc: 262-263. Bayart, Jean-François: 28, 73-74. Becker, Annette: 12, 163, 179. Begin, Menachem: 417. Bell-Fialkoff, Andrew: 401.
Belzec: 181, 219, 281. Bemeriki, Valérie: 230. Bin Laden, Osama: 417, 423-425, 429, 447. Bensoussan, Georges: 248. Bergen-Belsen: 185. Bernanos, Georges: 64. Bertrand, Jordane: 100, 150. Bettati, Mario: 138. Bettelheim, Bruno: 39, 267, 331. Bigo, Didier: 416, 419. Birck, Danielle: 191. Bizimungu, Agostinho: 204. Bizot, François: 398. Bleiburg: 30. Bloch, Marc: 16, 350. Blum, Alain: 51. Bogdanovic, Bogdan: 81, 263. Bogdanovic, Radmilo: 232. Boltanski, Luc: 434. Bonhoeffer, Dietrich: 107-110. Bormann, Martin: 160, 245. Bougarel, Xavier: 126-127, 172, 266, 349. Bouhler, Philip: 206. Bourke, Joanna: 163. Bouthoul, Gaston: 27. Boutros-Ghali, Boutros: 194-195, 435. Boyle, David: 410. Bozarslan, Hamit: 461. Bradol, Jean-Hervé: 369. Braeckman, Colette: 174. Branch, Raphaëlle: 393. Brandt, Karl: 206. Bratunac: 269, 289. Braud, Philippe: 105, 213, 347. Braud, Pierre-Antoine: 253, 327. Brayard, Florent: 220, 281, 338, 381. Bringa, Tone: 119, 176, 177. Broszat, Martin: 119, 120, 246. Browning, Christopher R .: 16, 20, 218-219, 294-297, 300, 303, 308, 312, 314-325, 337, 341, 354. Broz, Svetlana: 266. Brubaker, Roger: 143. Bruneteau, Bernard: 383. Bujumbura: 145. Burrin, Philippe: 12, 42, 54, 219, 273.
Cacic-Kumpes, Jadranka: 349. Caillois, Roger: 354. Cassese, Antonio: 369, 413. Castoriadis, Cornelius: 32. Chaliand, Gérard: 415, 419, 428. Chalk, Frank: 13, 38, 164, 376-377, 383, 437. Chamberlain, Houston: 80. Chambon-sur-Lignon: 265. Chandler, David: 60-61. Charny, Israel W .: 371, 376, 379. Chateaubriand, François René de: 15, 165. Chaumont, Jean-Michel: 374. Chelmno: 181, 219, 281. Chrétien, Jean-Pierre: 12, 43-44, 99, 101, 113, 145, 151, 158, 211, 274, 305. Clausewitz, Carl von: 270-271, 391. Claverie, Élisabeth: 263, 306. Cohn, Norman: 34, 66. Colas, Dominica: 59-60. Colovic, Ivan: 54-55, 332. Conquest, Robert: 404. Coquio, Catherine: 359. Corbin, Alain: 354. Coret, Laure: 151. Cosic, Dobrica: 79-82, 84, 90. Courtois, Stéphane: 57, 60-61, 394, 396, 404, 407, 459. Cushman, Thomas: 441.
Dachau: 268, 331. Dallaire, Romeo: 151, 158-159, 194-195, 227, 248. Darwin, Charles: 54, 68. Delmas-Marty, Mireille: 382. Delumeau, Jean: 431. Des Forges, Alison: 59, 114, 152, 158, 208, 229, 231, 248, 257, 314, 332, 354. Devereux, George: 288. Dicks, Henry V.: 330. Dieulefit: 265. Domenach, Jean-Luc: 11, 396. Douglas, Mary: 53. Douhet, Giulio: 167.
Dower, John: 344. Dubrovnik: 171, 264. Duclert, Vincent: 368. Duizjings, Ger: 238. Dunant, Henri: 434. Dupaquier, Jean-François: 99. Easton, David: 213. Eichmann, Adolf: 52, 274, 329, 338-342, 437. Einsatzgruppen : 170, 181, 225, 280, 284, 293, 325, 362. Einstein, Albert: 35-36. Elias, Norbert: 38, 75-76, 328. Ellis, John: 280. Evans, Gareth: 442-445.
Farge, Arlette: 87. Fein, Helen: 123-124, 161, 377-378, 381, 413, 437. Festinger, Leon: 301. Finkielkraut, Alain: 374. Fitzgerald, Francis Scott: 434. Fletcher, Jonathan: 75. Fornari, Franco: 36-37, 39, 52. Foucault, Michel: 20-21, 403. Freeman, Michael: 441. Freud, Sigmund: 34-36, 47-48, 118. Friedlander, Saul: 66-67, 109, 338. Fromm, Erich: 67. Front patriotique du Rwanda (FPR): 31, 59, 93, 115-116, 147, 150-152, 172-175, 192, 196, 208210, 216, 226, 228, 252-253, 273, 274, 278, 296, 351. Furet, François: 407.
Garapon, Antoine: 382, 410. Guarda, Paul: 80, 148, 162, 233. Gellately, Robert: 381, 460. Gellner, Ernest: 46. Gerlach, Christian: 179, 219-220, 273, 342, 381. Gerstein, Kurt: 338. Gikondo: 228. Gikongoro: 92, 229, 276. Girard, René: 116, 118. Gitamara (“Todos os Santos de Ruanda”): 91, 229.
Giti: 264. Glamocak, Marina: 214-215, 259. Gobineau, Joseph Arthur de: 80. Goebbels, Josef: 88, 95, 98, 110, 130, 160, 243, 280. Goldhagen, Daniel J.: 242-243. Göring, Hermann: 203, 215. Gossiaux, Jean-François: 126. Gourevitch, Philip: 265. Gow, James: 174, 189, 214, 231-232, 275. Greilsammer, Ilan: 400. Grmek, Mirko: 81, 144, 171, 302. Gross, Jan T.: 292-293, 303. Gueniffey, Pascal: 391. Guichaoua, André: 92, 114, 120, 159, 208, 248, 250. Gurr, Ted R.: 366, 379, 409-410, 436-437. Gutman, Roy: 187-188, 348.
Habyalimana, Jean-Baptiste: 251. Habyarimana, Juvénal: 50, 92-93, 99, 105, 113, 150-151, 153, 172-173, 196, 204, 208-209, 248, 271, 332. Hampson, Fen Osler: 437. Harff, Barbara: 366, 378-379, 409-410, 436-437. Hartmann, Florence: 232, 256, 306. Hassner, Pierre: 7, 11, 135, 188, 190, 198, 271, 282, 349, 447. Hatzfeld, Jean: 85, 252, 254, 262, 265, 294, 297, 302, 309, 313, 321, 333, 337, 353, 362. Hazan, Pierre: 189. Heim, Suzanne: 206-207, 405. Helton, Arthur C.: 438. Heydrich, Reinhardt: 131, 203, 216, 218, 220, 223-225, 242, 246, 327. Hilberg, Raul: 218, 223-224, 242, 282, 303. Himmler, Heinrich: 131, 179, 203, 207, 218-220, 224, 243, 248, 322, 327. Hinton, Alexander L.: 358. Hitler, Adolf: 33, 35, 42, 47, 54, 59, 65-69, 75, 79, 80, 84, 87-89, 93-97, 197, 110, 119, 123, 130131, 138, 144, 155-156, 160, 168-170, 179, 181, 184, 203-207, 212, 215-216, 218-219, 220, 224-226, 242, 243-244, 265, 273, 279, 281, 282, 306, 340-341, 354, 363, 372-373, 410. Hobsbawm, Eric J.: 142-144, 366. Hoffman, Stanley: 448. Holbrooke, Richard: 199. Holsti, Kalevi J.: 212, 272. Horne, John: 165-167, 344. Horowitz Irving L.: 374. Horowitz, Donald L.: 29, 203, 402.
Hess, Rudolf: 330. Hubrecht, Joël: 12, 213, 257, 277, 351. Husson, Édouard: 224. Huttenbach, Henry R.: 13, 370.
Ignatieff, Michael: 48. Ingrao, Christian: 179, 294, 299, 325. Interahamwe : 105, 223, 228, 256, 267, 313, 332, 334, 337, 339, 346. Izetbegovic, Alija: 172, 269.
Jansen, Steven LB: 83. Jaulin, Robert: 380. Jedwabne: 292-293. Jelisic, Goran: 330-331. Jobard, Fabien: 131. Jonassohn, Kurt: 38, 164, 377, 383. Judá, Tim: 214, 233, 347-348.
Kabanda, Marcel: 12, 96, 230, 236. Kadijevic, Eljko: 231, 260. Kafka, Franz: 241. Kagabo, José: 147, 283. Kagame, Paul: 147, 174. Kageler, Georg: 319. Kahle, Marie: 51-52. Kalimanzira, Calixte: 229. Kalyvas, Stathis N .: 261, 349. Kambanda, Jean: 173, 204, 211, 227, 229, 249. Kampuchea democrático: 397-398, 410. Kangura: 99-100, 103, 150-151, 278. Karadzic, Radovan: 55, 84, 112, 203, 216, 233. Karadzic, Vuke: 55. Karolak, Marian: 293. Karski, Jan: 181. Katyn: 169. Katz, Stephen: 371. Kayibanda, Grégoire: 45, 79, 81-82, 84, 91, 94, 96, 105-106, 113, 153, 209, 211.
Kayitesi, Annick: 332, 334. Kershaw, Ian: 65, 79, 88, 94, 156, 160, 245, 459. Kertes, Mihajl: 233. Khmer Rouge: 60-61, 272, 397, 409-410. Khosrokhavar, Farhad: 429. Kiernan, Ben: 13, 381, 397-398, 407, 460. Klein, Melanie: 35-37, 167. Klemperer, Victor: 49, 121, 124, 243, 246-247. Knuth, Rebecca: 380. Komsiluk : 126-127. Kosevje: 30. Kosovo: 27, 33, 55, 58, 80-81, 83, 89, 103-105, 111-112, 144, 154, 157, 179, 187, 198-199, 213214, 255, 276-277, 350, 371, 386, 444. Kouchner, Bernard: 194, 434. Kovacevic, Milão: 347. Kramer, Alan: 166, 344. Kravica: 238. Krieg-Planque, Alice: 186. Krulic, Joseph: 12, 43, 100, 157, 213. Kuper, Leo: 136-137, 375-377, 414.
Lame, Danielle de: 31-32, 119, 128, 250-251. Landau, Felix: 297-299, 307. Lanzmann, Claude: 16, 374. Laogai : 396. Laqueur, Walter: 181-182, 416. Le Bor, Adam: 95. Le Cour-Grandmaison, Olivier: 405. The Pope, Mark: 151, 192-193. Lefebvre, Georges: 73. Lefort, Claude: 52. Legendre, Pierre: 285. Leibovici, Martine: 329, 339. Lemarchand, René: 83, 145. Lemkin, Raphael: 138, 365, 367, 371-375, 383, 408, 413, 436. Lenin: 59-61, 138, 142, 391. Levene, Marc: 29, 140, 383, 439-440. Levi, Primo: 17, 330, 345, 352-353, 361. Levinas, Emmanuel: 351. Lévi-Strauss, Claude: 28. Li, Darryl: 250. Lifton, Robert J.: 319, 337.
Livingston, Steven: 197. Locard, Henri: 407, 410. Longerish, Peter: 220, 480. Longman, Timothy: 251. Ludendorff, Erich: 167. Lukic, Milão: 290. Lydall, Harold: 31.
Maalouf, Amin: 70. Maïla, Jospeh: 70. Majdanek: 281, 322-323. Malone, David: 437. Mamdani, Mahmood: 43-44. Maners, Lynn D.: 127. Mann, Michael: 55-57, 139-140, 221, 295, 383, 411. Mao Zedong: 137, 395, 397. Marchal, Roland: 135, 272, 349. Markalé: 269. Markovic, Ante: 89-90, 154, 170. Markusen, Eric: 381, 413. Martin, Jean-Clément: 61, 272, 336. Martin, Denis-Constant: 45. Masseret, Olivier: 368. Mattner, Walter: 299. Mayer, Arno J.: 379. Meddeb, Abdelwahab: 425. Mellon, Christian: 12, 418-419. Melos: 164, 366. Melson, Robert: 13, 412-413, 461. Melvern, Linda: 194, 210-211, 216, 227, 249. Mengele, Josef: 360. Merari, Ariel: 415, 418. Merton, Robert: 73. Mertus, Julie: 83. Messersmith, George: 161. Mettraux, Guenael: 383. Micombero, Michel: 145. Milgram, Stanley: 310-311, 315, 340. Milosevic, Slobodan: 33, 43, 50, 68, 81, 89-90, 94-96, 98, 104, 106, 111, 119-120, 154-157, 170171, 175, 203, 212-214, 223, 231-234, 239-240, 258-259, 290, 304, 306, 309, 348, 350, 370. Mironko, Charles: 302. Mitterrand, François: 150-151, 186.
Mladic, Ratko: 28, 189, 232-233, 237, 239-240, 306. Montesquieu, Charles Louis de Secondat, barão de: 372. Morris, Benny: 400. Mosse, George L.: 41. Mouradian, Claire: 404. Mrdja, Darko: 309. Mueller, John: 290, 292. Mugesera, Léon: 209. Muhlman, Geraldine: 12, 339. Mukangango, Gertrude: 334. Murambi: 278.
Nahimana, Ferdinand: 209, 332. Nahoum-Grappe, Véronique: 64, 188, 263, 345. Naimark, Norman M: 141-142, 383, 401, 411, 462. Ndadaye, Melchior: 159, 173. Neher-Bernheim, Renée: 27. Nikolic-Ristanovi, Vesna: 346. Noelle-Neumann, Elisabeth: 121-123, 132. Nolte, Ernst: 155-156, 407. Nsengiyumva, Vincent: 113, 115. Kristallnacht: 51, 110, 116, 130-132, 161, 164, 243. Nyiramasuhuko, Pauline: 346.
Oberschall, Anthony: 128, 261, 313, 416. Obote, Milton: 147. Omarska: 188, 347. Oric, Nazer: 238, 240.
Passeron, Jean-Claude: 441. Pernkopf, Edward: 84. Perraudin, André: 113-114. Phayer, Michael: 110. Pichot, André: 54. Pio XI: 110. Plavsic, Biljana: 55, 203, 257. Pohl, Dieter: 224, 235, 306, 342, 384.
Pol Pot: 11, 18, 59-60, 137-138, 162, 397-398, 407, 410. Poliakov, Leon: 11, 132, 185. Pollak, Michael: 246. Posen, Barry R.: 70. Potocari: 238. Pouligny, Béatrice: 12, 444. Power, Samantha: 194-195, 200. Poznanski, Renée: 183. Prunier, Gérard: 45, 81-82, 174, 267.
Quilès, Paul: 151.
Radford, Jill: 380. Radic, Radmila: 111. Radio-Television des Mille Collines (RTLM): 99, 158, 195, 212, 230. Rath, Ernst von: 161. Rawls, John: 390. Reed, John: 399. Reichstag (incêndio de): 94. Reyntjens, Filip: 91, 208. Rohde, David: 240. Rhodes, Richard: 293. Ricoeur, Paul: 445. Rieff, David: 188. Roosevelt, Theodore: 56. Roseman, Marc: 205, 235. Rosenberg, Alfred: 79, 80, 84. Rosoux, Valérie: 12, 445. Rousset, David: 317. Rousso, Henry: 179, 445, 459. Roux, Michel: 213. Rubin, Barnett R.: 437. Rugova, Ibrahim: 154, 187. Rummel, Rudolph J.: 137, 271, 379. Rupnik, Jacques: 272. Russel, Diana: 380. Rwagasore, Louis: 144-145. Rwigema, Fred: 147.
Sabac-Valjevo, Jovan, de: 112. Sageman, Marc: 429-430. Sahnoun, Mohamed: 443-445. Saint-Exupéry, Patrick de: 151. Schabas, William: 382. Schmitt, Carl: 71, 283. Sereny, Gitta: 324-325, 353. Serukwavu, Antoine: 145. Seselj, Vojslav: 203, 233, 281. Shaw, Martin: 383. Siméant, Johanna: 193, 197. Sindikubwabo, Theodore: 211. Sironi, Françoise: 393. Sobibor: 268, 281, 324, 353. Sofsky, Wolfgang: 317, 344, 361. Solzhenitsyn, Alexander: 395. Sommier, Isabelle: 418, 427. Sonderkommandos : 329. Sorabji, Cornelia: 236. Spitz, René: 37. Srebrenica: 28, 189, 218, 237-241, 283, 303-304, 306, 320, 412-413. Stalin, Joseph: 67-68, 138, 149, 164, 168. Stambolic, Ivan: 90. Stangl, Franz: 324, 352-353. Stannard, David E .: 374. Staub, Ervin: 175-176, 386. Stiglmayer, Alexandra: 345. Strauss, Scott: 254, 378. Sudetic, Chuck: 290, 292. Swaan, Abram de: 76. Szurek, Jean-Charles: 293.
Tardy, Thierry: 189. Tarrow, Sydney: 162. Taylor, Christopher: 357. Tchang Kai-shek: 138. Chetniks: 47, 64, 177, 233, 281, 291. Ternon, Yves: 11, 218, 244, 378. Thalmann, Rita: 161.
Tucídides: 164. Tilly, Charles: 141, 272. Tito: 30, 80, 89, 98, 125, 138, 149, 154, 213, 259, 266, 272, 281. Tojo, Hideki: 138. Tokarska-Bakir, Joanna: 293. Tooley, Hunt: 401-402. Toynbee, Arnold J.: 142. Traverso, Enzo: 328. Treblinka: 268, 281, 295, 324, 353. Trinh, Sylvaine: 428. Tudjman, Franjo: 43, 90, 154-156, 214-215, 234, 258. Tuo Slang: 60.
Umfried, Hermann: 109. Uwilingiyimana, Agathe: 173, 248.
Valentino, Benjamin A.: 383-384, 439. Valéry, Paul: 40. Van Creveld, Martin: 163. Vardy, Steven Béla: 401. Vernant, Jean-Pierre: 355-356. Vershave, François-Xavier: 151. Veyne, Paul: 119, 462. Vidal, Claudine: 12, 44, 91, 121, 145, 283. Vidal, Dominica: 160, 206-207, 235, 306, 405. Voegelin, Eric: 42, 353-354. Vukovar: 171, 188, 234, 263, 302. Vulliamy, Ed: 261. Vulpian, Laure de: 174.
Walzer, Michael: 389, 438. Wannsee (conferência de): 179, 216, 219-220, 279, 303. Weber, máx .: 17, 68, 94, 224, 310, 388, 457. Weil, Simone: 71-72. Weisberg, Barry: 379. Weitz, Eric D.: 382, 462. Werth, Nicolas: 60-61, 394-395, 407.
Wheeler, Nicholas J.: 199. Wieviorka, Annette: 445, 460. Wieviorka, Michel: 12, 47, 347, 416, 428. Wilson, Woodrow: 142. Winock, Michel: 78. Wolton, Dominica: 250. Wu, Harry: 396. Wyman, David S.: 185.
Yahya Khan: 138.
Zartmann, William: 212. Zawadski, Paul: 42. Zepa: 189, 306. Zimbardo, Philip: 315. Zimmerer, Jürgen: 404. Zimmermann, Warren: 158.
Índice temático Antibolchevism: 65, 93. Anti-semitismo: 27, 34, 42, 62, 65, 132, 168, 242-243, 293. Aparições (da Virgem): 263, 305-306. Autodeterminação nacional: 142.
Banalidade do mal: 52, 329-330, 338, 340-342. Executores: 16-17, 21, 25, 39, 179, 196, 242, 257, 268, 283, 286, 293, 297, 304, 306, 321, 325, 338, 341, 349, 351, 356-363, 388, 393.
Quadros de significado: 287, 301, 307, 316, 331. Classicide: 57, 380, 411. Comunidade internacional: 156-159, 188-189, 227, 242, 369, 433-438. Conformidade: 122-123, 175, 302, 307, 312-313, 331. Cultura da vítima: 257. Culticida: 380.
Darwinismo Social: 68. Decivilização: 38, 75-76. Duplicação da personalidade: 337, 319. Democide: 137, 379. Desindividuação das vítimas: 324. Desobediência: 175, 222, 312, 415. Dever de interferir: 138, 443. Dispositivo móvel: 287, 307-316. Dissonância cognitiva: 301. Direito de interferência: 138, 198.
Ecocide: 379. Igreja (função de): 44, 84, 91, 106-116, 133, 151, 244, 245, 249, 256, 266, 278, 283. Elitocida: 174, 276, 380. Inimigo interno: 37, 49-50, 65, 167-170, 174, 209, 273, 430, 436. Empreendedores de identidade: veja Intelectuais.
Estado: 21, 30, 42, 45, 47, 61, 101, 106, 108, 111-112, 135, 137-140, 149, 155-160, 168, 214-215, 224, 229, 260, 271, 272, 369, 386-387, 394, 398, 400-401, 403, 406, 448. Etnismo: 46, 127. Etnocida: 373, 380, 383, 411.
Feminicídio: 379. Fratricida: 57, 153-155, 380, 409, 411.
Genocídio: 11, 15, 18-19, 22, 25-26, 32-33, 45, 50, 57, 59, 69, 81, 85, 87, 91-92, 95, 96, 97, 99101, 111-112, 123, 135-136, 140-141, 143, 151, 158, 164, 174, 179, 187-188, 191-200, 205, 208, 211, 216-219, 231, 235, 240, 249-251, 254, 255-257, 265-267, 282-283, 299, 319, 325, 327, 332, 334, 339, 357, 359, 365-431, 436, 439, 440-441, 445-446, 448-449, 460, 461, 463466.
Humanitário: 180, 196, 367, 434, 438-439, 447.
Ideologia: 38-40, 51-52, 61, 79, 81, 101-102, 120, 125, 135, 226, 242, 270, 274-275, 278, 288289, 295, 341, 394, 441, 461. Medo imaginário: 69, 70, 178, 295-296, 348, 350. Impunidade: 105, 162, 206, 237, 285-364, 370. Intelectuais: 77-78, 81-82, 84, 86, 93, 97, 120, 183, 208, 259, 344, 396, 436, 437, 442. Intenção: 15, 31, 57, 74, 87, 138, 169, 217-218, 345, 347-348, 371, 375-376, 378, 382, 390, 406, 409, 412. Proibido de homicídio: 77, 105-106, 110, 115, 118, 178, 244, 334-335. Reversão de padrões: 285, 305.
Judeo-Bolchevismo: 65, 79, 170. Judeocide: 379.
Libricida: 380.
Linguicídio: 380.
Doente mental (extermínio de): 169, 206, 226, 234, 244-245, 282, 405. Massacre: 139-141, 144-147, 241-270, 290-293, 297-301, 316-330, 383-386, 453-455, 457-462, 463-466. Mídia: 96, 97-102, 104, 121, 135, 180-200, 212, 250-251, 255, 420, 434, 436-449. Memória: 16, 40, 43, 64, 102, 152, 200, 293, 297, 323, 343, 355, 367, 370, 374, 384, 401, 408, 444-445, 457, 465. Memoricídio: 171.
Nacionalismo: 30, 46-49, 54-55, 68, 80, 83, 89-90, 93, 98, 110, 112, 143-144, 154, 215, 290, 332. Nacional-Socialismo: 79. Limpeza étnica: 19, 25, 56-57, 81, 139-144, 188, 212, 221, 231, 233, 260, 261-263, 276-281, 296, 302-303, 349, 383, 386, 399 , 403, 411-414.
Obediência: 250, 307, 308-312, 331, 415. Opinião pública: 122, 132, 136, 161, 190, 199, 202.
Agindo: 16, 26, 69, 72, 74, 77, 85, 135, 162, 175, 201, 215-218, 241, 261, 265, 285-287, 288-307, 308, 311, 318, 321, 330-336, 342-343, 348, 352, 355, 360, 361-363, 388, 430. Populicídio: 372. Prevenção: 70, 217, 365, 369, 376, 433, 434-440, 443-448. Perfil do assassino: 330-343, 453. Propaganda: 65, 70, 77, 97, 98, 101, 102-106, 110, 121, 130-132, 153-156, 166, 168, 178, 203, 208, 250, 252, 255, 280, 290, 300, 302, 307, 348, 350-352, 370, 415, 454. Protocolos dos Sábios de Sião : 34, 65-66, 79. Pureza: 26, 40, 53-62, 63, 72, 77, 80, 85, 102, 118, 275, 425-428, 448.
Racismo: 46, 49, 51, 68, 398, 433. Racionalidade delirante: 67-70. Força: 49, 51, 109, 118-133, 149, 152, 154, 166, 175, 181-187, 190-191, 204, 208, 210, 226, 230233, 239, 244, 246, 248, 265, 267-270, 273, 277, 291, 315, 322, 338, 363, 415. Responsabilidade protegida:
Ressentimento: 42, 54, 94-97, 125, 263, 292, 336.
Cientismo: 68. Segurança: 22, 40, 46, 63-74, 77, 100, 105, 126-127, 131, 177-179, 189, 222, 224, 227, 239, 249, 275, 296, 304, 322, 335- 336, 392, 400, 401, 428, 431, 438, 447-448. Sinais de alerta precoce: 435-436, 439, 449. Estrutura de oportunidades políticas: 136-163.
Terrorismo: 391, 415-420, 422-431, 447-448. Terceira testemunha ou espectador : 129, 180, 186.
Urbicida: 263, 380.
Vítimas: 16, 39, 41, 58, 64, 77, 81, 96, 105, 108-109, 112, 115, 117, 123-124, 129, 132, 136, 165, 170, 174-179, 180- 188, 196, 203, 205, 221, 226, 238, 241, 245, 247, 253, 257, 264, 267-270, 279, 282-284, 290, 292, 302-305, 309, 313-314, 320, 322-329, 333, 338, 348-352, 357, 359, 361-363, 366, 368-369, 371, 373, 374, 378-379, 384-388, 392-394, 406, 408, 410, 412-413, 422, 427, 433-434, 437, 454, 458, 465. Estupro: 188, 345-349, 354, 360, 377, 389, 399, 443, 455. Violência orgíaca: 351-355. Violência sacrificial: 75-133. Violência extrema: 12, 147-149, 287, 381, 436, 440, 446.
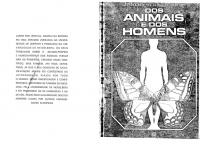


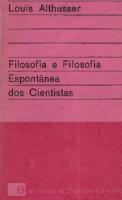




![Tratado de direito comercial brasileiro - Vol. 2 - Dos comerciantes e dos auxiliares dos comerciantes [2, 6ª ed.]](https://ebin.pub/img/200x200/tratado-de-direito-comercial-brasileiro-vol-2-dos-comerciantes-e-dos-auxiliares-dos-comerciantes-2-6nbsped.jpg)
![Abordagens econômicas sobre o Meio Ambiente e suas implicações quanto aos usos dos recursos naturais [11, 1 ed.]](https://ebin.pub/img/200x200/abordagens-economicas-sobre-o-meio-ambiente-e-suas-implicaoes-quanto-aos-usos-dos-recursos-naturais-11-1nbsped.jpg)